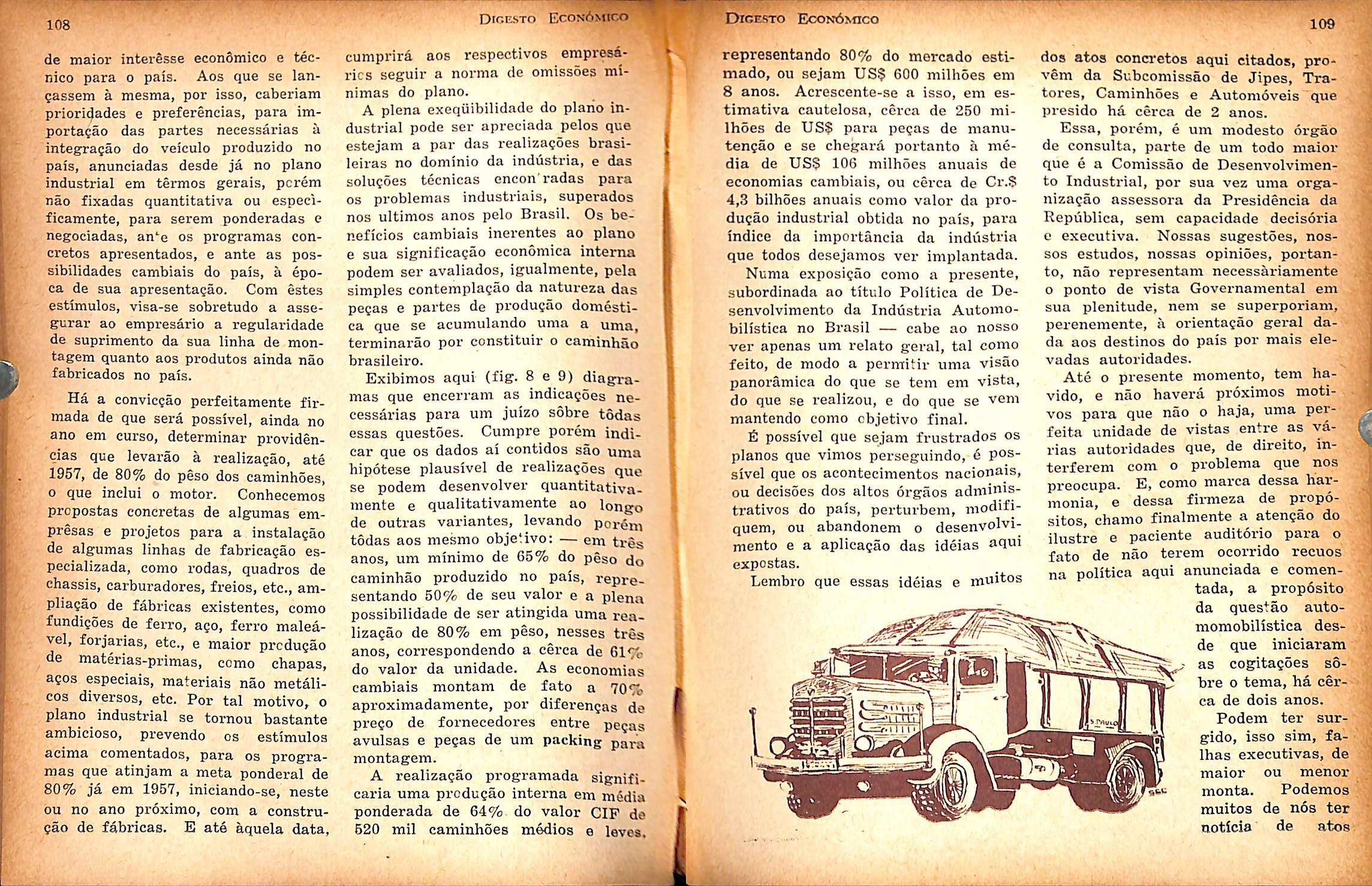ECONOMICO
SOB OS luspícios Dl ASSOCIAÇKO COMERCIAL DE SÃO PAULO
E Dl FEDERAÇÃO DO COMERCIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
S"S".S’.S".S’ S’.S"
S l M 4 IM O
Alguns aspectos do problema do Banco Central
O petróleo na Venezuela — Glycon de Paiva
Os males morais da inflação '— Isaltino Costa
Crédito público
Otávio G. Bulhões
Eugônio Gudin
Santa Catarina e o comércio brasileiro — Brasilio Machado Neto
Agios cambiais e preços do exportação — José Testa
Alberdi —. Afránio de Melo Franco
História Econômica e arquivos privados — Deolindo Amorim
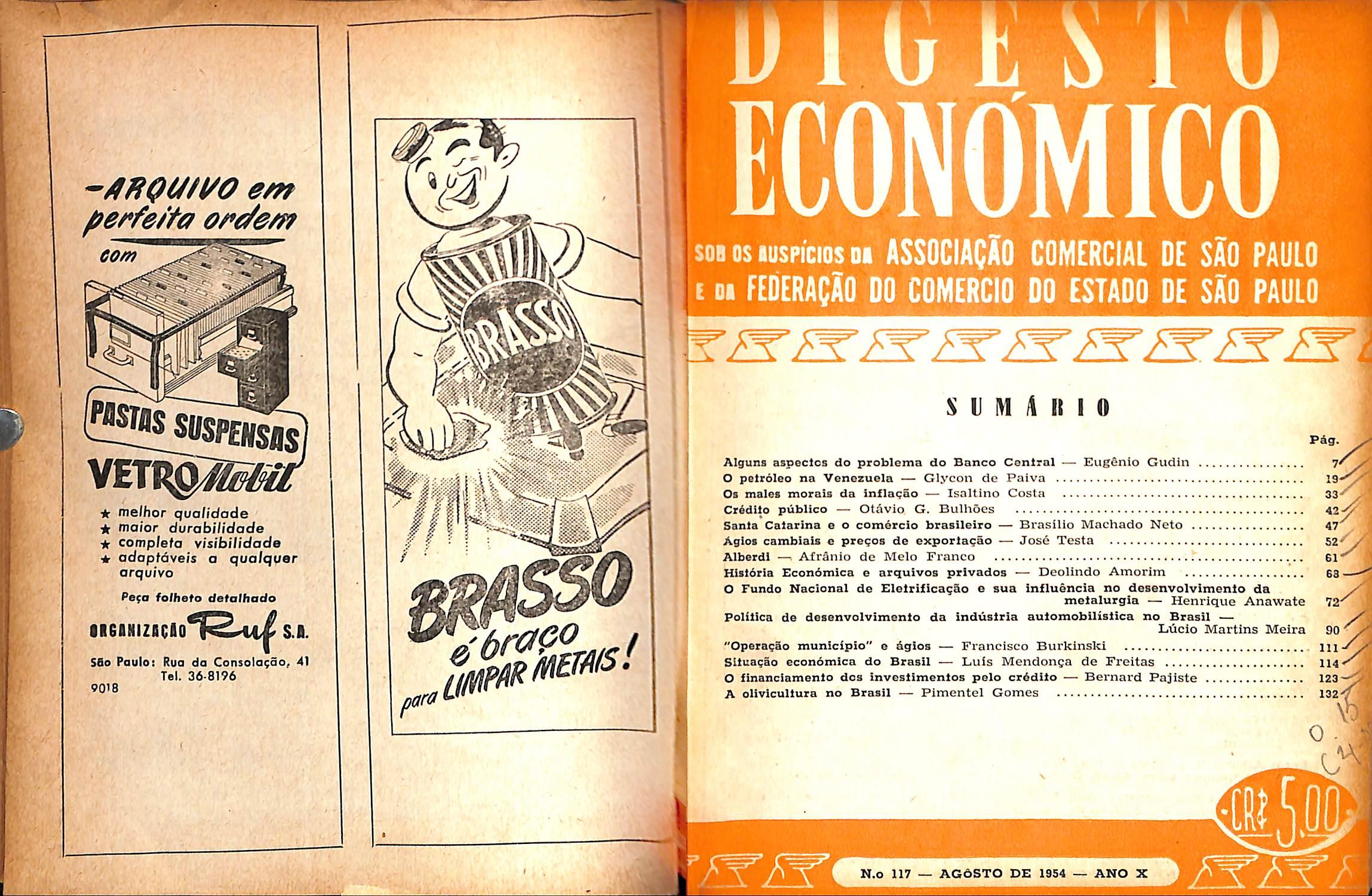
O Fundo Nacional de Eletrificação e sua influência no desenvolvimento da metalurgia — Henrique Anawate
Política de desenvolvimento da indústria automobilística no Brasil
Lúcio Martins Meira
"Operação município" e ágios — Francisco Burkinski
Situação econômica do Brasil — Luís Mendonça de Freitas
O financiamento dos investimentos pelo crédito — Bernard Pajiste
A olivicultura no Brasil — Pimentel Gomes
li
!S 1
1 u L
U
Banco de Crédito da Amazônia S.A,

Séde: BELÉM — Estado do Pará
Capital: .
Cr$ 150.000.000,00
Cr$ 647.637.531,80
A maior organização bancária do Norte do Pais
Keservas: Descontos
Cauções — Cobranças — Depósitos — Einpréstúnos
AGÊNCIAS:
Agência Central — Belém (Pará)
Altamíra (Pará)
Bôa Vista (Terr. do Rio Branco)
Cruzeiro do Sul (Terr. do Acre)
Cuiabá (Mato Grôsso)
Guajará-Mirim (Terr. do Guaporé)
Itacoatiára Amazonas)
Macapá (Terr. do Amapá)
Manáus (Amazonas)
Parintins (Amazonas)
Pedro Afonso (Goiás )
Pôrto Alegre (R- G. do Sul)
Pôrto Velho (Terr. do Guaporé)
Rio Branco (Terr. do Acre)
Rio de Janeiro (D. Federal)
Santarém (Pará)
São Luiz (Maranhão)
São Paulo (S. Paulo)
CORRESPONDENTES:
Alenaucr (Pará)
Brasiléia (Terr. do Acre)
Faro (Pará)
Itaituba (Pará)
furutí (Pará)
, Maués (Amazônas)
Monte Alegre (Pará)
Óbidos (Pará)
Oriximiná (Pará)
Xapuri (Terr. do Acre)
AGÊNCIA EM SÃO PAULO:
Rua Bôa Vista, 43
Caixa Postal, 7.251
Armazém de Borracha: 3-0335.
Gerência: 32-6332 Telefones
Contadoria: 33-3819
4
A BAIXO CUSTO
tj Máximo rendimento e durabilidade!
O co(npr«»»or 4 t«mpr« o olmo do ilrifitrocâo. C è por i»io quo moii mofnodds orgonltocdoi fri« gor*<t<ai do todo o mundô oxigom e oha quolidodo dot Comproooros fSlGlDAlR£. Ctiromomonio duró* ii. o» Comproi»or«» FftlÒlDAIRE »do fobricúdot Au<no complo^o Unho do modolof.oforoetndo pc pupllprebloi d4 MitolacSoa fo* QU írigtrodoroí o iQli odopuoda lucâO. Ao odqulrir comproiior, I|d \ompr« FGIGIDAIRE* rocomon. de pQitvidoros.
'*FobrÍ(ador do Gêlo'*. **^a*
Válvulas FRIGIDAIRE porodor do Alhoto*'« "Evo* porodor do Ar Forçodo** e Maior procisão no contrõle

*'Sorpenlína de Twbo»", do refrigerante!
pensodoros.
sompre equipamento para refrigerarão
Evoporodo FRIGIDAIRE produção de garanfem VÂIVUIAS Co modèlo coda opllcoção* boioa olfomonto FRIGIDAIRE ido ideais poro dfig^lOr de or forcado, or goladaros de águo o bebedouros. Rodem das em unldodes simpt expansão dlreio. operando com conlròle fermòstóllco ou preisostóUco. Roro um rnethor rondimarrtOi use VAIVUUS DE CONTRÕLE FRIGIDAIRE > o mais aper feiçoado dUposliivo de oxpontão ol6 ho|e criado.
iporadores eom ou sem dlelonodo* sorvetelroSf de jllipl slsremes
t
marca registrada
General Motors do Brasil S.A,

m ( A \ -vv lhe ossii^X ()■ m iI ...prefira para ^11 J SERVIÇOS TAOUIGRÁFICOS a SOCIEDADE. TAQUIGRAfICA BAND^PANTE RUA SENADOR FEÚtf, 189-^2 ANOAR -TEL, 3S-4093-3S^213-S/6*7 ~ S. PAULO t f ATACADO — VAREJO joias modernas f CASA í 4 'â- I !»■ r»i«X».*»» V»« l rualSde novembro. 331 Fone 2-1167 — S. Paulo i.

ns i % i« ■●●●«●● ●●●● II ●●●●● ●●●●● ●●●●●● ●«● \T «●●●■ ■ ● ● f ●●●? ● ●● t ; I*» i ●●●●●●● *●●●●●●/ 1 ●9m99 \ e::> 1 t para as máquinas e motores de sua indústria para os automóveis e caminhões de seus transportes \ í (●●●I C “●a USE OS AEAMADOS LUBRIFICANTES Gargoyle Mobilo à ●●«I «●●●« } ●●●( il £ /●●●● ●●●●* máximo em qualidade! < } :a iü 7 1 i Mobiloil Concessionária 4 ^Wj/rr7/^fr7?r77/7^ i São- Paulo - Rua Brigadeiro Tobias, 35Ó Santos - Rua Amador Buenó, 152 ' ' Curitiba Rua Presidente Farta, 481 ü M \
DIUESTO ECOIldHICO
Iis nmn m rutiiii nni
í*fc ●● dm
usiciaciocwEECiuuslirmi
● d9
fOfucu n cshErcii n
ESIEBD flE SlO riOLI
Dlretor-Supcrintendcnte: Álvaro de Souza Lima
Diretor:
Anlonio Goniijo de Carvalho
O Digesto Econômico
publicarA no próximo número:
o Digeslo Econômico, órgSo de in formações econômicas e financei ras, é publicado mensalmente pela Edltõra Comercial Ltda. HAVERÁ
ÇÃO DE CAFÉ ? — José Testa
 direção não se responsabiliza pelos dados cujas fontes estejam devidamente citadas, nem pelos conceitos emitidos em artigos assi nados. OPERAÇÃO-MUNICIPIO
Na transcrição de artigos pede-se citar o nome do Dlgoiio Econômico. A MAIORIA E O DISSIDENTE
Mauro Brandrão Lopes.
Aceita-se ln*ercâmbIo com publi cações congêneres nacionais e trangeJras. es-
ASSINATURAS:
Dlgeiio Econômico
Ano (simples) ... ” (registrado)
Número do mês
Atrasado:
Cr$ 50,00
Crí 58,00
Cr$ 5.00
Cr| 8,00
Redação e. Administração:

Rua Boa Vista, SI
9.0 andar
Telefone: 33-1112 — Ramal 19
Caixa Postal. 824Q
São Paulo
1. ●
i
I. i 4
NOVA
SUPERPRODU
!
Francisco
OPERATIVISMO Burkinsk E CO- >1
I
'I f I;
ALGUNS ASPECTOS DO PROBLEMA DO BANCO CENTRAL '4
1’.U(:KM() CiuDlN
pretendo apresentar ; nhum estudo bancos centrais em
metódico PTcral. CO central no
1 ujui nesôbro Tudo quando me parece oportuno fazer é uma pequena dissertação à marírem do problema do ban Brasil.
K.v.vn exposição do cmincidc* autor de "Princípios dc Economia Monetária*", prof. E.ugcnio Gudin, foi feita no Con selho Técnico da Cotifcdcração Naciotud do Comercio. A nossa Revista re produz cm primeira mão èsse valioso trabalho. Ainda não temos

Banco Central. Por que?
no Brasil um em sua o vários paí
ses da América Central também têm. 0 Brasil, como sabemos, ainda não o tem. Por que?
Atribuo o fato aos seguintes
tivos:
o mo¬
^ Primeiro, a uma corrente de opi, nião no sentido de que o Banco Cení trai em nosso país é de utilidade d I vidosa; segundo, ao fato de já ter mos, esparsos, vários dos elementos componentes do Banco, inclusive Superintendência da Moeda o do Cré-
dúvidas sobre se a congregação dos vários elementos do Ensino Superior ’> cm uma Universidade deu resultados favoráveis.
Organizamos o embrião de Banco Central, que é a SUMOC, muito de vida ao nosso colega Otávio Bulhões, autor do projeto de decreto-lei
A SU3IOC deveria que a organizou, re-
ITÍ»
ua pen
! dito: não estamos portanto, inteira- mente desprovidos de Banco Central; terceiro, à circunstância de muitos dos projetos de Banco Central traze rem uma série de outros bancos
Mas a Superintendência quase con tratou seus serviços com o Banco do Brasil, de modo que é afinal êsse banco quem abriga as reservas e de las se utiliza por forma inflacioná ria, porquanto os bancos comerciais durados, como se o Brasil sofres.se de falta de bancos; finalmente, à opo.síção quase constante, do Banco do Brasil, que se cosidera diminuído por perder certas funções pertinentes ao Banco Central.
\ I
das reservas ao Banco do Brasil po-
de dar lugar a uma multiplicação de moeda bancária, bastante maior do l
ça
resultados Há sérias ao
Há também uma dose de descrennos resultados da instituição. O caso é talvez um pouco semelhante da Universidade, de até agora muito incertos.
que a que se teria verificado se as reservas tivessem ficado nas caixas dos bancos comerciais. . . .
.Ll
. A Argentina o tem desde 1935, e o banco funcionou muito bem fase inicial. O México I '( >
ceber as reservas dos Bancos dá-las como um Banco Central, e guarpo, dendo modificar as percentagens desa tf sas reservas.
'
I \í
guardam em regra uma percentagem de encaixe para depósitos bastante ssnperior à do Banco do Brasil, outras palavras Em —, o recolhimento
Justo é entretanto levar, desde Icj,
crédito da SUMOC o fato de go. a ter ela iniciado, com certa eficácia, 0 serviço de fiscalização dos Ban cos, o qual até agora, malgrado a existência da Fiscalização Bancária, pràticamente inexistente.
era com cismo
Vejamos os fundamentos do ceti, bastante generalizado, relação ao Banco Central.
Numa conferência feita em São Paulo em 1960, dizia eu que um dos artigos capitais do projeto de Banco Central, que então se discutia, rc-

zava:
“É instituído o Banco Central que tem por fim:
a) adaptar os meios de pagamento e o crédito, às atividades econômi cas, de modo a promover o desen volvimento ordenado da economia na cional”, (Os grifos são meus).
emitir para o govêmo e para os sa lários?”
É que não pode ter Banco Central quem quer e sim quem já atingiu dc ordem finanum padrão mínimo
e administrativa, capaz de funcionamento eficeira permitir o seu caz.
É oportuno citar aqui, a êsse rescomentário do Ilawtrey Art of Central Bnnpeito, um em seu livro “
king”, pg. 2G7: Se os diretores do Banco Central de prudência c integrida- .sao pessoas
de (condiçõe.s que dificilmente podem preenchidas num país em que deficits orçamentários crônicos são tolerados), êlcs insistirão por re formas orçamentárias como uma conc necessária para
ser dição prévia
conceder adiantamentos ao Governo.
»» (
Ora, pergunto: como será pos sível ao Banco Central “regular a quantidade de meios de pagamento se 0 Governo Federal parece não poder viver sem emi tir cerca de 1 mi- ● Ihão de contos, cm média, por ano? I Em vinte anos, de j 1930 a 1950, 20 mi- j Ihões de centos fo- | ram emitidos”.
“Um país em que os padrões dv prudência financeira não são deploràvelmente baixos não tolerará uma sucessão de doficits. Os deficits serão sempre oensioA não ser nais. caso de inn aconte cimento nário, como um ter remoto, uma inunda-
H d e ! !
O primeiro de- 1 ver do Banco Cen- ! trai seria o de estan car quaisquer novas emissões. Teríamos pois, de início, a co- ^ lisão entre Governo G Banco Central. Pa- : ra que então o BanCO Central? Para desmoralizá-lo início, fazendo-o
no extraordiI ● ção, uma guerra ou 1 uma revolução, o Governo nunca será j um agente perturba; dor das finanças na cionais capaz de
I provocar a infla ção. yf
Vê-se portanto, que o problema dv' Brasil é muito mais V primário do que o
DroESTO Económi 8
L
e
da organização do Banco Central. Ê o prcblema da elevação dos padrões de ordem financeira o administrati va, capazes de eliminar, em tempo normal, os deficits orçamentários, a expansão desordemula do crédito as invariáveis emissões de papelmoeda, radicalmente incompatíveis com a existência de um Hanco Cen tral.
Muito mai.s do quo de Banco Cen tral precisamos é de seriedade na ela boração e execução dos orçamentos e critério elementar nu expansão do crédito. Escrevi no “Correio da Ma nhã”, pelas alturas de jiillio ou agos to do ano passado, um artigo sob o título de “Trabalho de Toam”, em que mostrava pelos balancetes do Banco do Brasil, que enquanto as carteiras de Crédito Geral não ha-
viam aumentado suas aplicações (uma delas até as diminuira um pouco), a Carteira de Crédito Agrícola e In dustrial havia aumentado suas aplide 20% em seis meses!!! É E a Caixa do Mobicaçoes quase incrível,
tnmente conr a Inglaterra de Rab Butler, o exemplo espetacular se pode con.seguir.
Economia liberal, 0 prosperidade, chafurdamos numa
vez mais dirigida por gente cada
que no regime da como recuperação enquanto nós nos economia cada vez mais incapaz... Qual o segredo?
homens capazes e a educação polí tica que permite levá-los ao poder. Creio que foi em dias de maio de 1827, se não me falha que Eckerman, em conversa com Goethe, lhe dizia: Veja o Sr. a sorte que leve o Príncipe da Prússia! Ministério escolheu!

É que êles têm a memória. Que Ao que Goethe
respondeu; Você está enganado. O Príncipe Henrique escolheu êsses se nhores que você está elogiando, com toda razão, porque tem com êles afi nidades; porque só o igual sabe conhecer o seu igual. ve-
O fato é que sendo capazes os ho mens chamados ao Governo da Cida de o sucesso é garantido, ainda que as instituições não sejam pei-feitas; podem ser até rudimentares. lizaçâo Bancária de 30% em seis me ses!!! Essas disparidades se verifidentro do próprio Banco do cara * ;}:
Brasil! Só dizendo, cemo Kipllng, da índia, que ali só havia de sério o sol de meio-dia....
O fato é que os benefícios que se podem esperar da criação do Banco dependem muito mais dos homens e do grau de cultura e de civilização do país do que das instituições. Temos mesmo o exemplo da Alemanha, agora cujo Ministro de Economia acaba de visitar. O país foi arrasado, des truído pela guerra e entretanto, já está com a sua máquina industrial e seu aparêlho monetário em pleno funcionamento, dando ao Mundo, jun-
Vejamos como, no Sistema Bancá rio Brasileiro, estão distribuídas atualmente as funções do Banco Central.
As funções que normalmente per tencem ao Banco Central estão divi didas entre o Tesouro, a Superinten dência da Moeda e do Crédito e o próprio Banco do Brasil, agindo es te último por conta do Governo.
nos
O poder emissor é o Tesouro, que o tem exercido suprindo papel-moeda à Carteira de.Redesconto e à Cai xa de Mobilização Bancária. Há (lei 4.792, de 1942) uma estipulação le-
Dicesto Econômico &
gal da exigência de 25% de lastro em ouro ou divisas em relação ao papelmoeda. Mas quando a quantidade de papel-moeda excede limite permiti do pelo lastro, o Tesouro encampa emissão, (sic) que passa então a ser puramente fidueiária. Com esse passe de mágica, burla-se a lei. Se ja dito que a lei não tem razão de Não precisamos (com licença
a ser.
um sao
Falta ao Con- ce exclusivamente, selho da Superintendência n neces sária autoridade legal de supei-visào e orientação da política de investi mentos e aplicações da.s Caixas Eco nômicas, dos Institutos de Previdên cia Social e das Companhias de Se guros e Capitalização.
Não é possível que o Conselho da Superintendência da Moeda e do Crédito, responsável pela política mo netária, bancária e em parte xitê fiscal, quer dizer pola direção da po lítica econômica do país, não possa influir sobre a espécie c quantidade dos investimentos das Caixas Eco nômicas, das companhias de seguro G de capitalização e dos Institutos de Previdência.
Quanto à Carteira de Redesconto (leis 449, de 1937 e 2.4ÜG, de 1940; decretos 6(534 de 1944 e 8494, de 1945), o redesconto pode ser concedido so bre a base de letras de câmbio, tas promissórias ou duplicatas, to das com duas firmas ou uma firma o mais o Warrant ou conhecimento fer roviário ou marítimo.

po-
Quando portanto se diz que não há coordenação entre os órgãos da lítica financeira, não é bem certo. Ela existe, mas em torno da figura do Presidente da República, o que é alto demais e político muito demais. Deveria ser em torno do Conselho da Superintendência e da Diretoria do Banco do Brasil, ambas com relati va independência do Governo.
As atribuições da Superintendência ainda não estão bem sedimentadas pela prática, a não ser quanto à fis calização dos bancos, que ela já exer-
Os títulos públicos não são redescontáveis. O prazo do redesconto ó de 120 e até 180 dias, podendo che gar a um ano para a Agricultura a Indústria, na base de Warrants. O limite do redesconto para cada banco é o do respectivo capital e servas. A taxa máxima cobrável de 6%.
Os melhores bancos comerciais evi tam recorrer ao redesconto, sobretu do para não serem incluídos entre que abusam da instituição.
noou reo os re-
Grande tem sido o abuso do desconto. Em vez de ser utilizado para as necessidades sazonais ou em circunstâncias especiais e temporá-
DicEs-rcj Econónuco IiJ
de meu Mestre e amigo von Mises) de qualquer lastro ouro, A Superintendência da Moeda e do Crédito (lei 7.293, de 1945), po de-se dizer que é o embrião do Ban co Central. Ela é dirigida por Conselho presidido pelo Ministro da Fazenda, de que fazem pai-te o Pre sidente do Banco do Brasil, os dire tores das Carteiras de. Câmbio, Re desconto, Comércio Exterior e o Di retor Executivo da Superintendência. Cabe a êsse Conselho a supervisão e coordenação da Política Monetária e Bancária. Todos os citados membros do Conselho da Superintendência demissívies “ad-nutum” pelo Presi dente da República, o que quer dizer que a Superintendência está na de pendência exclusiva do Poder Exe cutivo. 5 'f
nas, 0 redesconto tem funcionado vêzes como supridor do capital a bancos de solvabilidadc duvidosa, total do redesconto de 10% do totíd dos
por O representa cêrea - empréstimos
, correspondendo portanto, damente, a 50% das aproximareservas dc cai xa, 0 que quer dizer que na realida de estas reservas ficam abaixo do mínimo loíral.
Quanto à Caixa de Mobilização Bancária (decreto 2I.dí)0, de 1932* e decretos-lei n.os. (M19 e (iS-ll, dè 1944), a instituição foi criada socorrer os bancos para em situação ilí

quida, mas solvávcl, que dificuldades por motivo de da imprevista de depósitos quente qued de seu encaixe abaixo do mínimo legal.
A direção da Caixa cabe ao Pre sidente do Banco do Brasil assisti do de um pequeno Conselho Adminis trativo do caráter consultivo, só sen do obrigatória a consulta de solicitação dc recursos, feita lo próprio Banco do Brasil.
do indefinido (ü) e a Caixa nada mais pode fazer senão cobrar 10% de juros, o que é menos do que os 12,p que a maioria dos bancos doscontantes cobram usualmonte.
rePoremissor. êle - não emiti-
Quanto ao Banco do Brasil, nao sendo um banco central, não pode emitir notas, e talvez soja a maior falta que faz o Banco Central, nue, não sondo banco ^ nao pode íruardar notas <las; tem do
^ recorrer ao Tesouro c pairar 3 /p no Redesconto, motivo por o Banco do Brasil trabalha com caixa muito baixa.
que, aliás, 0 resultadoe que as apcncias do Banco do Bra sil nas várias roíriõos do país não podem socorrer os outros bancos da refi-iao, suprindo-lhos o papol-moeda necessário. É verdade jiodoria obviar mantendo notas não emitidas fiscais
íP-ie a isso se estoque do delegacias ou nas próprias agenci nas
se vissem em rctirae conseas do Banco do Brasil. As notas só pode ríam sor entregues mediante zação do Ministro da Fazenda^
Aceitani-se quaisquer consideradas satisfatórias: títulos in clusive do G -vêrno, hipotecas, tratos de contas correntes devedoras, etc.
A lei prévia que o Banco do Brasil, para financiar a Caixa, recebería excesso dos encaixes dos bancos ma dc 20%, acrescentando, que, se os recursos fossem insuficien tes, 0 Banco solicitaria do Tesouro papel-moeda necessário (que c o que se tem verificado).
no caso pegarantias cono aciporém. o o
Nos termos da lei o prazo máximo (lo.s empréstimos é de 5 anos, findos os quais, em falta de pagamento, banco deve entrar em liquidação. Na realidade, porém, o prazo tem si¬
autoriHoje, e as Papclcom que se cobrem
o avião é o instrumento de transporte usual para êsse fim, dificuldades de suprimento dc moeda fazem
: missões para transferência de dinheU ro do uma para outra região do país. 0 Banco Central, uma vez organizado terá a vantagem não só de facilitar o suprimento de papel-moeda agências regionais, como do
copor suas pennitir, sem qualquer comissão, a transferên cia de dinheiro para qualquer ponto do país.
Gomo banqueiro do Governo o Ban co do Brasil cobra-lhe 6% sôbr saldo devedor. e o
As carteiras de Câmbio e de Redesconto vêrno. operam por conta do GoÀ Carteira de Câmbio cabe
Dicesto Econóagco 11
^ a guarda das reservas do Tesouro em V divisas.
Todas essas funções serão trans feridas, juntamente com as da Su" perintendência da Moeda e do Crédi to, para o Banco Central, quando de , sua criação.
São esses os elementos com que funciona hoje, entre nós, o raecanisdo Banco Central: o Tesouro co mo banco emissor, a SUMOC, a Cari' teira de Redesconto, a Caixa de Mo bilização Bancária e o Banco do Bra: sil. Com êsse conjunto, pode-se dif zer que já funciona o Banco Central.
1 .4
mo
Abordemos agora os dois principais problemas do Banco Central: a) o das relações do banco com o Estado; r b) o do modêlo de banco a se ado-
! tar para o Brasil.
J Quanto ao primeiro: se ao Banco
^ Central cabe um papel preponderante
l" no funcionamento do Sistema Ban-
● cário do país, se êle é o único supiidor de moeda e regulador do crédito,
res e uma
Os acionistas censores, que
bém uma sociedade anônima em que 0 Governador, dois Vice-govemadoboa parte do Conselho do Administração são nomeados ou indi cados pelo Governo, elegem a minoria do Conselho e os constituem uma espé-
cie de Conselho Fiscal.
cos poe-se um selho de Reserva Federal, de nomea do Presidente da República. ÈsConselho não só exerce forte au toridade sôbre os 12 bancos regionomeia trés dos nove di* í}: * L
çao se nais, como retores de cada banco, um dos quais
o presidente.
Por fim, 0 Banco da Inglaterra é uma sociedade anônima, ainda hoje qualquer dependência oficial do Governo, tal como foi fundado em 1694. Mas a Inglaterra 6 um país em que a tradição e a opinião públi ca substituem as leis, de sorte que, malgrado a conservação de sua esti-utura original, o banco não funciouma simples sociedade anô-
sem na como
I não pode haver, de fato, completa inSeja qual If' dependência do Estado, nima, e sim como uma instituição dc interesse público.
fôr a forma de organização do Banco
● Central, não há como dissociá-lo inV ● teiramente do Governo.
No que tange à dependência do L, Govêrno, há várias gradações.
O
O princípio dominante é, entretan to, 0 de que o Banco Central deve guardar um certo grau de indepen dência do Govêrno, não só para ti rar-lhe 0 caráter de uma repartiburocrática, como para abrigú- çao
lo de uma influência excessiva dos políticos da hora.
Ainda na reforma do . anônima, mas
^ conselho cujos membros eram de novitalícia do Imperador, sendo meaçao
● ))residente o Chanceler do Impeno.
Na França, o Banco Central é tam-
Sistema de Reserva Federal (1935), o Secretário do Tesouro e o ‘●Comptroller of the Currency” dei xaram de ser membros do Conselho de Reserva Federal e os Bancos de Reserva foram proibidos de adquirir

DICESTO ECOKÓMICO^ . 12
Nos Estados Unidos, aos 12 Bande Resei-va Federal, cujas ações pertencem aos bancos filiados, superorganismo central, o Con-
; Banco Imperial da Rússia, por exem plo, era um simples departamento do ^ Ministério da Fazenda, sem autono mia nem acionistas. O Reichsbank alemão era, de jure, uma sociedade sua direção cabia a um
títulos do Governo a nâo ser no mer cado. Comentando, ■
fessor John Williams (Am. Ec. Review — Março de 1936, pg. 99):

“Estas alterações foram todas sentido de fortalecer a posição do Sistema contra a influência gover namental e portanto aconselháveis”.
Essa é a experiência de
escreve o Prono um país
presidente do Banco, com direito de veto temporário, deve ser de nomea ção do Presidente da República, apro vada pelo Senado.
Êste sistema de salvaguarda con tra a excessiva influência do Gover no acaba de passar entre nós por um “test” dos mais auspiciosos, por ocasião do recente parecer do Con selho Nacional de Economia.no caso do salário mínimo.
dessa orientação para * * *
de educação política muito mais adian tada do que a nossa, como hesitar sobre Não liá, pois, conveniência a o nosso caso.
Várias são as modalidades por que se pode assegurar ao Banco Central uma razoável dose de independên cia do Governo. A lei deve estipular com severidade as qualificações gidas para a nomeação de diretor do Banco: banqueiro, economista presentante de determinada classe econômica. As nomeações, à aprovação pelo Senado, devem por prazo bastante longo gáveis pelo Executivo, salvo cepcional. No Sistema de Reserva Federal, os diretores são nomeados 14 anos e ainda recebem venci-
exiser e irrevocaso ex-
Agora, a segunda questão: qual o modêlo por que deveremos crientar a estrutura do Banco Central no Bra sil?
Surge aí um dilema muito sério, ou re- que é o de saber se devemos optar por um estatuto de limitações e de consujei.as trôles, capaz de garantir a economia do país contra possíveis desmandos do Banco Central, mas que tornará muito difícil o socoi*ro aos bancos e às praças em caso de crise, ou, alternativamente, por um sistema de poderes amplos, como necessários mentos 3 anos depois de deixarem o nessas emergências, mas que abrem as portas aos abusos, em épocas nor mais.
por cargo.
um
O Banco Central é o banco dos bancos. É o supridor de moeda, em líltima instância. Em caso de cri se, seja ela oriunda da passagem súbita de uma fase de prosperidade pa ra a de uma depressão (1929), ou do pânico que resulta de falências ines peradas (Credit-Anstalt. 1931) ou de uma declaração de guerra (1914) ru de uma crise bancária (Estados Uni dos. 1933), cabe ao Banco Central a missão de socoi*rer, bancos, negocian tes e industriais, suorindo lhe os
O meios de pagamento necessários pa-
13 ■●1
Devem estar representados no Con selho Diretor do Banco Central as Federações dos Bancos, da Indústria, do Comércio e da Agricultura e dos Serviços de Utilidade Pública (cada com determinado coeficiente ou pêso), 0 Conselho Nacional de Eco nomia, 0 Corpo Docente da Faculda de de Economia, da Universidade, as Caixas Econômicas, as Companhias de Seguros e Capitalização. A subs tituição dos diretores deve ser feita pelo sistema rotativo, a fim de as segurar uma certa estabilidade de orientação do Conselho Diretor. 1
ra atender a uma súbita e geral “pre ferência pela liquidez”. Nesta con juntura, os bancos comerciais, asse diados pelas retiradas de seus depositantes, restringem o crédito, re cusam os empréstimos necessários ao ritmo ordinário da produção, reco lhem seus empréstimos à vista e ven dem os títulos disponíveis em cartei ra. Em tal situação, só o Banco Cen tral pode evitar o colapso.
Nesse caso, a sua capacidade de suprir os meios de pagamento de pende da elasticidade de sua estrutu ra. Em um regime como o do Banco da Inglaterra, em que se deve manter uma cobertura de 100% para as no■ tas e em que o Banco não redesconta o papel dos outros bancos, essa elas ticidade é, em princípio, muito limi tada. Ao contrário, o sistema fran cês, em que o Banco de França podia (até 1928) utilizar toda tálica e recorrer ao aumento do máxi mo legal da emissão, era de uma elas ticidade ilimitada. O Sistema de Re serva Federal americano, em qne os bancos dispõem de uma grande lati tude de redesconto nos bancos cen trais de reserva e em que podem re correr a adiantamento por curto pra zo, sob caução de títulos, oferece boa margem de elasticidade, limitada, po rém, pela obrigação de manter serva-ouro mínima legal, além de uma reserva colateral.
a reserva mea recenassegurar a e garan-
Assim, em matéria de bancos trais, o legislador depara duas ten dências opostas, Para conversibilidade da moeda tir-se contra possíveis excessos e abu sos de emissão, êle é levado a ado tar dispositivos de prudência e de restrições. Para assegurar a elasti cidade em caso de crise, êle deve con-

ceder à direção do Banco a possibil*" dade de recorrer a medidas excepcior nais de expansão.
Tal a pn*ande dificuldade dc legis lar para bancos centrais. a.s duas tendências .são contraditórias. Se ® sistema é projetado para cjiocas nor mais, êle falhará na ocasião das cri ses. E, se é organizado fendo cm vista esta eventualidade, êle deixará de oferecer garantias dc uma dire ção prudente, em época normal. Não há, pois, solução- pcirfeita. Um exem plo de tentativa conciliatória 6 o do Banco Central da.s Filipinas, em cujo estatuto se di.spõe:
“Em período de emergência iminente pânico financeiro que dire tamente ameace a estabilidade mone tária e bancária, o Banco Central poderá conceder às instituições ban cárias adiantamentos extraordinários garantidos por quaisquer títulos que sejam definidos conj,o aceitáveis por um voto concoiTcnte de pelo menos membros do Conselho Mone-
de ou emeo
tário. Enquanto tais ndiantamentos estiverem em vigor, a instituição devedora não poderá expandir o volu me total de seus empréstimos ou in vestimentos sem a autorização pré via do Conselho Monetário”.
Na Inglaterra em caso cie crise, co¬ mo em 1846, 1857. 1866 e 1914. os pa drões rígidos cia lei são simplesmente Além da emissão limita- suspensos. da ao lastro ouro. permite-se, para lelamente, a criação ilimitada de moeda fiduciária.
Nos Estados Unidos, a lei de 19JÍ5 conferiu uma enorme amplitude de poderes ao Conselho de Resci^va Fe deral, para socorrer os bancos.
O espírito dessa legislação pod® ser resumido em trê.s proposiç3©st
DICESTO I2cÕnómS?c* y 14
L_=_
para o rede
a) as exigências legais desconto e, sobretudo, ijara os adian tamentos pelo Banco de Keserva, Xoram consideravelmente alrouxadus; 03 bancos de reserva 1’orani autoriza dos a aceitar qualquer garantia que considerassem satisíaióna; b) para contrabalançar as possibilidades inflação e de abusos que dai pudes sem decorrer, íoi o Conselho Kederal de Reserva autorizado a lançar mao de medidas restritivas excepcionais, como a da exigência da duplicação das reservas dos bancos aderentes e a da ingerência do destino e aplicação a ser dada do Sistema de lieserva Fe deral foram transferidos para o Ciovôrno (secretário do Tesouro).
ceuta: co¬ mo seus quaisquer esti-
Kesumindo, escreve Williams, que "em conjunto, considera a Reforma de 1Ü35 como um considerável melho ramento na organização do Sistema de Reserva Federai e clara definição suas responsabilidades de e acresDe como o Sistema funcio nará, dependerá mais, no futuro no passado, da capacidade de dirigentes de que de pulações especificas da lei’*.
No mesmo sentido se expressa o vee experiente Diretor de Pesqui sas do Federal Reserve, Sr. Goldeuweiser, dizendo
llio K. A. o modo de executar a lei e a orientação ado tada pelas autoridades são mais im portantes do que os detalhes do canismo previsto nessa lei”.
que mePode-se dizer que os poderes do Legilativo, em matéria monetária e ban cária, foram, em grande parte, tr feridos ao Sistema de Reserva Fede ral e, sobretudo, ao Poder Fxeeutivo. Em época do crise, Governo e Siste ma de Reserva, podem tomar tôdas as providências necessárias para socor rer os bancos em aperturas.
ans-
Examinando a reforma bancária americana de 1935 (Am. Ec. RevlewMarço 1936), escreve o conhecido e ilustre Professor J. Williams, de Harvard, que úteis em caso de crise, os Bancos de Resei-va devem estar preparados pa ra encarar a situação com realismo, mantendo estreito contato com os banCos e concedendo-lhes crédito sob qualquer garantia, independente de especificação”. Acrescenta o Profes sor Williams, (que também é, se bem recordo, Consultor do Banco de Re serva Federal de Nova York), que “ôle teria sido favorável à da exigência de 40% de lastro para as notas de Reserva Federal”.

para serem realmente supressao ouro
O eminente Professor Jacob Viner (mesma Am. Ec. Review-Março 1936) escreve que“os novos poderes feridos ao Conselho incluem coumaiores poderes de expansao de crédito e maiores poderes de restrição de cré dito”. “Contra isso podem se insui*gir os partidários da doutrina segun do a qual as carteiras dos bancos devem se limitar a papéis de curto legítimos”. Mas prazo e esqueceni-se que mesmo que assim fôsse ainda haveria amplas possibilida des de drásticas oscilações cíclicas: da velocidade de utilização dos de pósitos bancários, do volume tário dos descontos comerciais resul tantes das variações do nível geral de preços e do número de intennediários por cujas mãos passam as mer cadorias antes de chegar ao consumi dor, da proporção das transações merciais financiadas por crédito ban cário e do volume total dos negócios”. Em resumo, os Estados Unidos, de pois da grave crise do início da Gran-
moneco-
OlOtblO licONÓMlCO 15
de Depressão (1931-1934), optaram Sistema de Reserva pela outorga ao Federal dos mais amplos poderes de expansão de crédito, em caso de cri se, permitindo descontos e adian' tamentos sobre qualquer garantia : aprovada pelos Banccs de Reserva. Procuraram contrabalançar os possí' veis abusos daí resultantes com po’ deres para melhor policiar o destino do crédito e para exigir, em casoMe ^ excessiva expansão, o aumento das reservas bancárias até o duplo do fi xado normalmente pela lei.

pela relativa insensibilidade de nossa economia às oscilações da taxa como também pela inércia das taxas co bradas (salvo às ocultas) pelos banccs, que pouco variam relativamento
andam longe do máxi- e que nunca mo legal (em boa parte devido à in flação crônica).
Vejamos, para finalizar, a que princípios gerais deverá obedecer o Banco Cen.ral do Brasil. Sôbre as relações dos Bancos com o Govênio, já dissemos acima. Resta-nos agora examinar o tipo de estrutura e me canismo do Sistema.
Não podemos cogitar, no Brasil, de ^ um Banco Central operando com os l instrumentos normais e correntes na ’ Inglaterra e nos Estados Unidos, ta xa de juros e descontos e operações - de “cpen market”.
; Da taxa de juros e desconto pouco 1 se poderá esperar porque não temos mercado de títulos bastante desenvol' vido e quase nenhum mercado money tário.
O “open màrket” é a outra arma clássica do Banco Central; consiste, como se sabe, em vender títulos no respectivo mercado, de maneira a absorver dinheird para deflacionar ou, inversamente em comprar títulos, pa ra incrementar os meios de paga mento e procurar estimular a ativi dade econômica pelo crédito mais fáM‘as aí esbarramos novamente raquitismo do mercado de ticil. com o
tulos. Ainda agora temos um exemplo dos extremos a que foi necessário cheobter a aceitação de letras gar para do Tesouro: juros antecipados, pagos dólares ou em moeda nacional a taxa de cerca de 13% 1
Não podemos portanto estabelecer alicerces de nosso Banco Central sôbre a taxa de juros e a política do “open market”.
A que outras anuas poderemos en tão recorrer ?
t
Isso não quer dizer que não deva mos utilizar as variações da taxa no Redesconto, com certa repercussão sôbre todo o sistema bancário, nem ' que deixemos de limitar as taxas pa^ gas pelos bancos a seus depositantes. ■ Não são armas a desprezar, mas seus , efeit'3 sôbre-e nosso sistema bancá● rio são muito atenuados, não só pela debilidade do mercado de títulos e
em uma os Ê vem o
1) Para o con^rôlc quantitativo do crédito, é essencial que o Banco Central, a exemplo do Sistema Fede ral de Resei-vas, tenha poderes para fazer variar a porcentagem das re servas que os bancos comerciais demanter no Banco Central, meio de controlar o encaixe, e, por tanto, as possibilidades de emissão de moeda bancária pelos Bancos co merciais e de firmar a efetividade de comando do Banco Central sôbre n quantidade dos meios de pagamento. É uma arma a ser manejada com cri¬
» Dicesto Econômico 16
*
^ ^ ^
!
tério, mas uma arma necessária. A dificuldade de sua aplicação, sos de restrição do crédito, está que nem todos os bancos estão condições uniformes para suportar uma chamada de aumento de vas, sobretudo se a inflação já to mou impulso. Nesse caso pode-se recorrer à exigência do aumento de reservas correspondentes a quer novos aumentos de depósitos, mesmo na proporção de 100%.
Enquanto os bancos estão na de pendência do redesconto ou dos adian tamentos do Banco Central para a expansão de seus negócios, o contro le pode ser exercido através desse redesconto ou adiantamento. Toda via, quando os bancos “se desprenaem” do Banco Central, dispondo de reservas que lhes pormiLem adotar política de crédito ao sabor de seus interesses, e por vêzes contrária ao interesse público, então a arma de exigência do aumento das reservas é indispensável.
Essa exigência é perfeitamente le gítima, por isso que os bancos exer cem uma função pública, como emis sores de meio circulante, isto é, de moeda fiduciária do 2.° grau, e como depositários das reservas monetárias do público.
nos ca em em reserquaiscomo
2) Como banco dos bancos, uma das principais funções do Banco Cen tral é, nos países latino-amerioanos, na Europa ou na América, a de amparar os demais bancos pelo método usual do redesconto e dos adiantamentos, que não importa aqui repetir.
Nos países em que o espírito de disciplina bancária foi-se desenvol vendo e consolidando com o tempo e
a experiência, como na Inglaterra, não é necessário qiio o Banco Cen tral esteja deUilhadamento infor <lo sobro a natureza das operações efetuadas pelos bancos privados. On de, porém, êsse espírito de di.sciplina não está firmado como no caso dos países latino-americanos nos Estados Unidos que a fiscalização bancái-ia ^seja efe tiva, para que o Banco Central, ponsável pela política econômica do pais, disponha de in formações seguras sôbre o destino, a natureza e' o vulto dos créditos cedidos pelos bancos privados.
ma-
o também é indispensável resmone‘ária o conque pase recomo a em co-

Tem-se proposto então conferir ao Banco Central (como no caso do Ban co das Filipinas) poderes para fixar os limites máximos das importâncias dos empréstimos e investimentos os bancos possam fazer ou então ra fixar a taxa do aumento de tais ativos dentro de prazos determinados, podendo ainda aqueles limites ferir não sòmente aos totais I categorias especiais de empréstimos e investimentos.
3) Não há controle de crédito sível, onde o Banco Central, laboração com o Ministério da Fa zenda ou com uma Junta Monetária, nã‘o possa exercer sua ação sôbre a destino e o emprego das economias coletivas em mão dos institutos de previdência, das caixas econômicas e das companhias de seguros e de ca pitalização.
4) Indispensável é também a co laboração do Banco Central na po lítica tributária. A experiência tem mostrado que a política de crédito não é suficiente. A política tributá ria não pode ser a mesma nas fases de depressão e nas de expansão. Nas
Ülc.ESTO EcONÓMICX. 17
primeiras, devem ser aliviados os im postos diretos, especialmente sôbre a parte dos lucros que seja reinves tida, o que não se justifica nas se gundas. Na depressão, o déficit or çamentário é até, por vêzes, reco mendável; na inflação, inteiramente condenável. Hão de se conjugar sem pre as duas políticas, a monetária e a fiscal.
5) A sábia disposição da lei ban cária argentina, que condiciona as taxas de juros pagas pelos bancos a seus depositantes à taxa de redes conto do Banco Central, é uma pro vidência indispensável.
Igualmente, a estreita colaboração do Banco Central com o principal banco do país (Banco do Brasil) é muito de recomendar, como meio de finnar a política de crédito do Ban co Central, de isentá-lo das funções de banco do Govêmo e de utilizar as agências e filiais no país, do banco principal.
participação” destinados a ajudar a absorção das letras de exportação.
7) A função fiscalizudora para manter o necessário padrão de mo ralidade e de verdade, no que di* estrutura das sociedades anô- com a

nimas e com as operações da bôlsâ, deve caber, em qualquer país, a um oi*ganismo análogo ao da Securitioss Exchange Comis.sioii
(S.E.C.) dos:
Estados Unidos. Mas deve haver co« laboração e troca de informações en tre 0 Banco Central e êsse organismo.
6) Dada a dificuldade das opera ções de "open market” em títulos do Governo,' por ser o seu mercado pe queno demais, pode ser interessante conferir ao Banco Central a facul dade de criar letras de sua própria emissão e uma expansão inflacionária oriunda das exportaçõeS;
na eventualidade de certificados de
8) Há ainda no nosso caso unia indispensável, proiba aos Estados ou Municípios emissão ou venda de títulos de um dívida pública a taxas de juros ef^ tivas supeiioros de 2% digamos, à. taxa de redesconto do Banco Central, É que quando a cotação de títulos das grandes unidades da Federação, como São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul ou Distrito Federal decai por tal forma que o juro efe^ tivo atinge 9, 10 12% ou mais, iss^o repercute sôbre a cotação dos títu los federais e torna impossível locação das apólices o obrigações <lo Tesouro.
A de uma lei que a. a n co-
Tais são a meu ver os principais U.. neamentos em que se deve basear a estrutura do nosso futuro Banco Central.
Dlulisnc) Kconomico 18
PETRÓLEO NA VENEZUELA
Cli.vc;()N D1-; I’ai\ a
ouvir a e as sua exnaquelOS o propósi
'J^rvEMo.s o privilégio de conferência do professor Hermes Lima, que foi delegado do Brasil à Conferência de Caracas. O nosso ilustre companheiro, a propósito de uma viagem que realizou a Maracaibo, nos deu excelente noçfLo*do pro blema do petróleo na Venezuela e fêz, a seguir, considerações sôbr conclusões daquela Conferência, men cionando na parte final do posição 0 problema, na.scente le país, da exportação dos minéri dê ferro da bacia do Orinoco.

to de fazer alguns comentários sobre exposição do prof. Hermes Lima. Entretanto, tomando çâo a conferência do nosso prezado colega Dr. Próes de Abreu,
a cm considerao a po dido do nosso Secretário-Presidente, ficou combinado que eu me deteria mais nesses comentários em uma ses¬
c observador sagaz, c na maioria auto ridade ímpar.
J
do petróleo, porque realmente elas não teriam aplicação ao nosso país, uma vez que já tomamos uma diretisão futura, estendendo-me hoje bre 0 problema mineral da Venezuela, no sentido do que se pudesse apli ao Brasil.
A Venezuela é um país muito i:; teressante sob o ponto de vista mi neral, porque o princípio da livre presa no aproveitamento do subsolo reina aí em tôda a plenitude, aspecto contrasta com o em outros países, em particular nosso. Na parte do petróleo, já equa cionamos 0 problema de maneira di ferente e futuramento veremos se conseguriá dessa orientação.
Não vou «atender estas consideraçõe.s detendo-me por demais j
va.
í
T i .1
3
Acrescentou que ainda existem ve nezuelanos à espera de situação
no país. me-
K q II U f* ip
«
Na vez passada trazia ●«d
■) 1 í 'íi 1 ? j 1
o hriíhiiutc <i<7»/<>go*frt)nn/;i/,s7a OUjcon cic Paiva fez uma exposição tio Con selho Teenieo <la Confederação .Víícíí>na! do Comércio sòbre o pdrólco na Venezuela, cm virtude dc uma confe rência <juc o professor lícrmcs Lima, delegado do Brasil na Conferência dc Caraeas, fizera narpielc Conselho, O trabalho dc C.hjcon dc Paiva foi tacpii^rafado e não revisto pelo autor, liazão pela (ptal a direção do '"Digesto Econô mico** SC desculpa dc qualquer omissão porventura encontrada. E’ dcsnccc.ssdrio cncarccer o valor dessa exposição: C.hjcon dc Paiva, memória privilegiada
so¬ car inemÊsse existente no o que no caso
O que achei interessante, no tocan te à exposição do prof. Hermes Li ma, foi o fato de ter mencionado que a solução atual, a maneira como o Estado venezuelano está partici pando da riqueza do subsolo do país na proporção de 50% dos resultados da livre empresa, não é a situação ideal, porém uma situação muito su perior àquela que presidia à lavra do petróleo, nos primeiros anos de apro- ", veitamento desse mineral
Èkk. UtL
Ihor que esta, de participação sob forma de meação nos proventos do 'sl
;
subsolo venezuelano quanto ao petróI leo. Mencionou ainda S. Exa. que, de referência ao minério de ferro, ' tinha ouvido personalidades
=Z.n:^o do ^Booim,.
A lanas lamentarem o fato de o Govêrtomar a mesma orientação que
venezueno nao havia seguido no campo do petróleo, preferindo aquela situação algo de primente para o Govêmo e que existia no início da sua exploração. Quer dizer: em vez de tirar partido do que havia conseguido através de uma série de governos e provavelmente de ne*
tenho sempre tar soluções para caso Tôda a minha atuação na petróleo foi sempre
lana.
1 i V >
considero um sucesg^ da solução venezuç^ r gociaçoes com as com panhias produtoras de petróleo, parte da esr taca zero, em matéria p' de minério de ferro, V até futuramente con^ seguir situação provàvelmente comparável 1 à da participação que r tem atualmente no ca^ so do petróleo, ou talF vez melhor.
'● Era sobre este ponto, exatamente, que queria fazer um mentário à margem dessa exposição. Por 1, sugestão do nosso Secretário, o assun to foi alargado; e estcu procurando
. ●
co-
/ de hoje um panorama mais detalhado í da Venezuela.
A Venezuela, sob o ponto de vista mineral, é um país de tal maneira ^ privilegiado que quase todo o geó‘ logo profissional dispõe de conheci mentos razoáveis sôbre êle. Ela tem feições de caráter geológico e : estrutural que são clássicos. A mi¬ nha vida nic conduziu várias vezes a visitar a Venezuela. Como geólogo da
As desvantagens ^ perigos que x^eprese^^ ta a atuação da empresa num país qo^ população reduzida ^ principalmente, lastro modesto e baixo índice de tradü ção, de instituições ^ de história, nos fari^ acreditar que a atu^^ ção deprimente da vre empresa estraq.. fôsse mais
tensa do que realmente tem sido. Nes« te sentido, gostei muito de ouvir a
petróleo.
Transportando essa situação para o caso brasileiro, para um país coiao nosso, de população muito maior, século 19 como o tivemos, com um Império, com um amontoado conjunto de tradições de caráter legal, com brilhante história e ura prestígio externo muito maior que o LáWl

20 Comissão ““vcnèzu^ln^
No ano seguinte, subi o , 0 Cassiquiare e desci o Onnoco Te. nho acompanhado a evolução o, veitamento da riqueza mineral país. A Venezuela e o pais ® Jlüe pensado, no transpor., brasileiro, questão (Jo inspirada no q\jo ■
Venezuela, mo a u ülu
L
● apresentar com as minhas palavras opinião do prof. Hermes Lima, de já se considera razoável a situaçsQ de 50% de participação no caso do
geira
o com um ou
da Venezuela, pessoalmente nunca ti ve receio da capacidade de ação nefas ta da livre empresa, no caso do pe tróleo, em nosso país. Ê o que con cluo do que se fêz e se poderia ter feito em país muito mais vulnerável nesse tocante, o caso da Venezuela.

Antes de esclarecer a situação do minério de ferro e também alguns aspectos do petróleo na Venezuela, antes de comentar estes assuntos, é necessária uma descrição, embora su mária, das condições geográficas e geológicas daquele país, não só por que elas proporcionaram a existên cia dessas riquezas, como já entremostraram o que êsse país poderá representar neste século em matéria de produção mineral, coisa que real mente escapa de qualquer previsão, ainda que otimista.
A Venezuela é um pais de uns no vecentos e poucos mil quilômetros quadrados. Localiza-se no hemisfé rio norte e seu extremo sul não cs^á muito distante do equador, porém mais ou menos a dois graus de lati tude norte. O extremo norte da Ve nezuela encontra-se a 12 graus. Es tende-se 0 país de leste para oeste distância de 1.500 quilôme- em uma
tros a cerca de 15 graus de longitu de, entre os meridianos 60 a 65 de Greenwich.
O traço dominante da fisiografia venezuelana é consequência do curso local do sistema andino, que, ao cheali, muda de direção. Quando gar chega na Venezuela, em Merida, biUma parte dos Andes ca- furca-se. minha estabelecendo um divisor Colômbia e a Venezuela. tre a
enOutra parte se dirige para o nordeste, depois, de leste a oeste, prossegue por 1.200 quilômetros. A Ilha da Trindade é o último testemunho do
sistema andino que visitam os que passam para os Estados Unidos, de lá regressam. Assim deve considerada estrutural e geológicamento: a Ilha da Trindade ainda são os Andes.
Êste ramo oriental dos Andes, que perlonga o mar do Caribe no norte da Venezuela, chama-se Andes Marí timos, ao passo que aquele pequeno trecho que caminha rumo ao norte, estabelecendo divisas com a Colôm bia, são os Andes Colombianos. Ter mina no acidente geográfico chama do Punta de Guarija. Entra nessa bifurcação dos Andes. Forma-se, então, uma depressão muito profun da, porque os Andes têm, na entra da da Venezuela, uma altitude mé dia de 1.600 a 1.700 metros, embo ra existam picos a 5.000 metros ain da em território venezuelano. Em baixo, a depressão atinge quase o nível do mar.
ou ser De tô-
Êste conjunto, que é a bacia de Maracaibo, constitui pedaço do ter ritório venezuelano intèiramente se parado do resto do país. Trm uma extensão de cerca de 50.000 quilôme tros quadrados. Aí se explora o petróleo desde 1917, certa intensida de, que atinge, na produção atual, 1.600.000 barris diários. O óleo é Gxtvemamente raso na bacia de Ma racaibo. Encontra-se a uma pro fundidade de 450 ou 500 metros no lençol superior, havendo uma série de lençóis sxicessivos em dois ou três andares. Êste conjunto ê, geològicamente, o que se chama um graben. É um pedaço dos Andes des cido daquelas alturas e que entrou em processo de subsidência. da a ourela da planície, de Maracaibo, na região nedemontana não s6 com os Andes Colombianos, como em re-
. DtOFSTO Ecokómico 21
t, ■ 4 S.
lação aos Andes marítimos, emergem “olhos de petróleo" ou indicações su perficiais de óleo pretérito: “chapopote" em espanhol. São êsses “olhos de petróleo” que trazem à superfí cie do chão a demonstração da exis tência profunda do óleo, reconheci da desde o primeiro explorador, Alonzo de Ojeda, em 1499. O óleo es tava sendo oferecido desde a época em que foi reconhecido.
venezuelano, que não i'cpresenta a fei ção topográfica do país, é estruturalmentc idêntica ao que se conhece do.s Andes. Essa cadeia, com de
f-
j
rcaso pressão para o lado do norte, no de Maracaibo, e do grandes planí cies do lado do sul, êsse conjunto é que arma todo o sistema petrolífero da Venezuela, como explicarei den tro em pouco.
A terminação da bacia de Maracaibo, para o lado do Atlântico, dá no Golfo da Venezuela, um dos pontos em que o país foi reconheci do por Alonzo de Ojeda. Visitando os Andes, no que é hoje o Estado Falcón, encontrou pequena população vi vendo sôbre palafitas. Daí lhe sur giu por associação de idéia com a cidade de Veneza p nome de pe quena Veneza ou Venezuela.

se
O restante, 95% do teiTitório porque Maracaibo não corresponde a mais do que 5% da extensão do país que Ojeda chamou de Venezuela.
●, difere profundamente do como
da. É uma série de cidades que o homem, à procura do melhor clinm fundou. Tinha fazendas para o ’ do do sul, na bacia do Orinoco, constituem os llanos da ... que Vonezueifj com imensas pastagens c campos * melhantes aos do Rio Branco, no An\a" Os fazendeiros viviam zonas. UUlU bom clima o o gado, do sul, era tran^ portado até o mar, desde os llano'^ através dos Andes, e afinal cado para as ilhas do Caribe, era comerciado. A Venezuela, da economia do petróleo, indústria ganadera.
No caso da Venezuela, essas duas cordilheiras são muito disfarçadas e se aproximam formando altiplano. Não têm a altitude da Bolívia que
atinge até 3.500 e 3.600 metros; bai xam até a altitude de Caracas, que é de 900 metros, ou de Valência, de
embarondo nntes vivia da ; , - .. . exportação era de gado em pé para 0 Caribe.
Sua
O que se observa atualmente que essa região ganadera do Orinoco adquire cada vez mais uma mineira.
Digesto EcoKÓ^a' 22
Voltemos ao ramo oriental dos Andes. Os Andes Venezuelanos ma rítimos têm era si a mesma consti tuição do sistema andino, que, como sabem todos os que atravessaram o ^ continente, é fundamentalmente um altiplano, onde vivem as populações, perlongado do lado do oriente e do ocidente, tanto na Argentina, na Bolívia e no Peru, por cordilhei ras — a Cordilheira Ocidental. 1
1.100, e até o mais elevado centro de vida urbana, que é a cidade de Mérida, com 1.500 metros de altituA parte enterrada no subsolo de.
É preciso dizer que sôbre o Alti plano dos Andes Venezuelanos, seja ao longo desses 1.200 ou quii^ metros que constituem os Andes dê«5se país, é que se concentram as pò_ pulações de todas as cidades, Cara cas, Barquisimeto, Valência, Méri¬
Descritas duas dessas regiões Uh ● turais da Venezuela — o graben do Maracaibo e o sistema andino do-
preendc-se que a região mais ta, extensa da Venezuela 6 do Orinoco. a sabemos existir no Território do AmaCninnn ^e denomina Guiana. Sao as Guianas venezuela. iiolandesa, francesa e inglesa, alom do que se chamou durante al gum tempo a Guiana brasileir e o Território do Amapá
vasbacia
O Rio Orinoco é o ter ceiro grande rio da América do Sul. Sua bacia ocupa mais de 80% da tensão daquele país, e é inteiramen te tropical, conjunto de terras altas nam no Brasil, na zona do R e do Pacaraima. Grande seus afluentes
exOrinoco nasce naquele que termi-voraima número dos sao quase cinco
centenas — se alimenta de águas quo vêm dos maciços altos da Guiana ou de águas que vêm da parte andina da Cordilheira Oriental, porção dos Andes Colombianos como da própria porção venezuelana.
na a, que a
Há diversos argumentos sobre localização do petróleo.
, Alega-se, por exemplo, que se na Venezuela existo petróleo, sendo limíti^fe, pais também entanto, Brasil
o noso deveria ter. No é preciso dizer que invade
so que é o
tanto da , pela sua geolo gia, o território venezuelano e che ga ao Orinoco. O Orinoco é o curso dágua que se adapta a essa fron teira entre essas duas geologias. Na da mais.
0 Orinoco foi explorado por um espanhol, Diego de Ordaz. Levou-o até lá a pesquisa, a exploração do Eldorado, que se localizaria Orinoco, em Manoa. e.ssa viagem Sir Walter Raloigh, o favorito da Rainha Isabel da Ingla terra, que escreveu um livro sôbrc procura do Eldorado no Orinoco.

no Alto Também fêz a
Além dessa terceira região natu ral, também existe a das Guianas, de feição geológica e fisiográfica sa conhecida. nosTem aspecto brasilei ro c também um setor venezuelano.
Fundamenthlmente, é o que de fato, na Venezuela, parece com o Brasil. É um conjunto de rochas graníticas, de gnaisse, muito parecido com o centro de Minas Gerais, com jazidas de ouro e ferro.
0 aspecto brasileiro da Venezue la termina no Rio Orinoco. Tôda a margem direita desse rio, pela geo logia c litologia, pelos recursos, é mera extensão desta parte do conti nente. Não difere, em geologáa nem em recursos minerais, do que hoje
Pouco falarei sobre o caso do pe tróleo, porque já preferimos um pla no completamente diverso do exis tente na Venezuela. Não teria sen tido analisarmos o que aconteceu por ^á, para transportar a solução - A solução, aqui, já existe. Vamos viver o problema como o Go verno, o Legislativo e o povo dese jaram orientá-lo, até que cheguemos resultado qualquer.
O caso da Venezuela é peculiar, de vido às facilidades
ao Brasil. n um que a geologia
lhe oferece na busca do óleo, se come-
porque, como disse, o número de afloramen tos superficiais de óleo, só na região do Maracaibo, já era de estimular essa busca, que se deu logo no prin cípio dêste século, quando çou a retirar asfalto, não só de Ma racaibo como de outras regiões do país.
Já em 1917 produziam-se 3.000 barris de petróleo na Venezuela. O que realmente determinou um verda deiro rush em biisca do petróleo
Dioksio Kc:t>NÓNact 23
venezuelano, foram as situações po líticas e o estado de espírito reinanMéxico, que era no tempo o tes no , maior exportador de petroleo do Os empresários do petróleo sentir essas contingênr mundo, tinham que cias.
Era 1917, o México produzia 600.000 í barris diários de pe.róleo. Hoje, proauz ItíU.UOÜ. A guerra civil, as di ficuldades sociais do México, depois da Consuituição de 1917, determina ram uma verdadeira emigração de empresários, de sondas, de sondadode mão-de-obra especializada, que, entendendo-se com o ditador da Venezuela, então Juan Vicente Gomez, ali se estabeleceram, mediante f condições que contrataram, independenteraente de um estatuto do petró leo. Não havia naquela época o que 1 se chama a Ley de Hidro-carburos.

nes.
em i México (17 de março de 1938), a ^ Venezuela produzia 1 milhão de barr ris diários. Atualmente, a produção de petróleo venezuelano é pouco su-
perior a 2.000.000 de barris por dia.
' É preciso dizer que o óleo não existia só em Maracaibo. Havia ( afloramentos muito antigos, conheci dos de longa data, até junto da Ilha da Trindade e no território venezue lano fronteiro a essa ilha, no lugar chafnado Bermude. Neste lugar, coIlha da Trindade e no Lago * Labrea, os navios, desde a descobermo na
kl'
ra calafetagem. nhecida.
ta da América, buscavam asfalto paEra a região coOs geólogos que trabalhaMaracaibo estenderam sua sul de Caracas e foram de óleo nos ihmos, principalmente em torno de EI Tigre, na margem esquerda do Orinoco, onde acabam as formações brasileiras e começa o sistema verda deiramente andino.
Estudos de estratigrafia u margem esquerda do Orinoco, numa área qua se quatro vezes maior que a baciu de Maracaibo, demonstraram qu© as condições de ocorrência do óleo são inteiramente semelhantes ãs da ba cia de Maracaibo. Apenas os depó sitos de óleo, as denominadas estru turas do óleo, não são tão verticais, tão fechadas como no caso do Ma racaibo. São mais extensas, dando em conseqüência lugar a poços de produção menor, mas também rendo óleo em quantidade muito maior.
A Venezuela, apesar dessa brutul produção de 2 milhões de barris dia, correspondendo mais ou menos? a 22% da produção mundial de tróleo, ainda tem de terrenos trolíferos virgens cerca de 200.ÕOO líms.2 — quatro vêzes a área está sendo explorada. Sob êste pon to de vista, pode-se dizer que é um país que vai progredir.
vam em pesquisa ao descobertos campos ocorpor pepeque com- na em Mas o que o Governo tcni e não
Atualmente, existem cerca de 12 grupos financeiros com interesses? Venezuela. São cerca de 20 panhias e 63 campos de petróleo lavra, ainda em suas mãos, para conceder ou aproveitar, qualquer que seja o sistema que yenha a adotar acredito que deseje ter, sem Inves-
Dicesto Econômico ? 24
'Á
Já em 1923, a Venezuela produzia 280.000 barris de petróleo diários. Em seis anos passou de 3.000 para qua se 300.000 barris. Em 1928, figura va como o maior exportador de pe tróleo do mundo, deixando o México segundo lugar. Em 1938, época em que foram encampadas as jazit das e companhias de petróleo no 1 Á jf
íi^ento, mais que metade da produ ção do país — é ainda uma quanti dade enorme.
0 país fica com a metade do pro<iato bruto. 0 óleo bruto se vende a 2,10 dólares o barril. O que o pe tróleo proporciona, com o royalty. <lue são 16,6%, pelo que sc ebama lâxa de ocupação, medida em hecta res por ano, e tendo em vista a ex tensão da concessão, e pelo imposto de renda, tem sido calculado pov biuitos economistas, principalmente do Chase National Bank, que investiífa êsses assuntos, atinpfir ató 51% . 0 óleo proporciona ao Governo da Venezuela cerca de 600 milhões de dólares por ano, em forma de tri butos de tôda a sorte. Presentemen te, 0 orçamento venezuelano é feito na base de 85% provenientes do pe tróleo, 8%, do café, 2% do cacau, e 5% de diversos outros produtos, é um país de economia baseada em nen subsolo.
essas 300.000 toneladas o que cabem ao Govêmo, ou sejam Ossos 16,6%, representam 51.000 toneladas.
Ora, o reíximc estatal do México, país cuja produção de óleo data de 1001, por conseqütMU-ia tendo entra do no nejjócio do petróleo muito an tes da Vene/.ucla; rcícime estatal estabelecido desde 17 de março de 103S, com bastante cesso, baseia-se num
o México, com o suncervo de 500
que o Governo apenas Começou cín excelentes condições c com a produção de .. 150.000 toneladas. Apesar disso, produz boje 25.000 toneladas. A Ve nezuela, com o royalty e o voírimo da livre empresa, obtém duas vezes mais petróleo que o írovêrno mexica no com o reírimo estatal.

milhões do dólares, encampou e pelo qual paprou 21 milhões.
Esta participação do subsolo vai aumentar agora com a exploração em marcha do minério de ferro da mardireita do Orinoco, nessa parte gem
É verdade que as reservas mexica nas são inferiores às venezuelanas. O petróleo no México é mais profun do, mais difícil do localizar, meadura do petróleo, ou soja a aber tura de novos poços, exig:e, dízio, velocidade muito maior caso da Venezuela, onde os poços tem a vida média de 10 a 12 anos.
A senum ro¬ que no da geologia venezuelana que tem ca ráter eminentemente brasileiro.
A massa de investimentos em pe tróleo na Venezuela é tida como de Maracaibo tem mais ou menos 4 quilômetros de espessura de sedi mentos. Daí até a base de tôda a se dimentação, até todos os gnaisses de granito que suporta a coluna sedimen^ária, existe u’a massa de sedi mentos nunca perfurada sistemàticamente e onde podem ocorrer novos horizontes de óleo. O que a Vene zuela produz num dia — 300 mil to neladas de petróleo, não podería ser carregado pela frota brasileira de pe troleiros, que seria insuficiente para iflso. Os royalties proporcionados por
2 bilhões e 600 milhões de dólares. É o que se acredita que aquelas 20 companhias tenham aplicado para conseíTuir a presente produção, que dá mais ou menos investimentos da ordem cte 850 dólares por barril diá rio, mímero duas vezes maior do que o do Oriente Médio, onde se produz o petróleo à razão de um barril p»^r dia com um investimento de 450 dó lares por barril. Se dividirmos o aue aplicamos na Bahia, cerca de 650 milhões de cruzeiros, para a produção
OlCfJTO Econónoco 25
provável de 4 a 5 mil barris por dia, verificaremos que o petróleo baiano exigirá um investimento de 4.000 dólares por barril. Isso demonstra a esterilidade relativa dos campos e bem assim que o problema tem as pectos diferentes. A terra, quando tem óleo, não entrega o produto com
a mesma facilidade. O problema da profundidade é fundamental, além de uma séife de outras condições. 0 que é admirável — ponto para o qual procurei chamar a atenção no início desta exposição — é o fato de se tratar de um país com cêrca de 5 milhões de habitantes apenas, que vivem em cima de uma montanha. A região onde se encontra o país real mente povoado é de cêrca de quatro mil a quatro mil e quinhentos qui lômetros. O resto do país é apenas ocupado de i-etireiros nos llanos e postos oficiais e em certos lugares por onde passei há muitos anos, como San Carlos y San Fernando, sem nenhuma comunicação com a parte central do país.
teve problemas gi-avcs, mas conser vou sua autodeterminação.
Em 1903, os venezuelanos não ti nham acesso aos seus porLos, porque êles estavam ocupados por navios ho landeses e injílêses. Apenas os Esta dos Unidos protestaram contra essa situação, através da presidência Cleveland. Foi preciso que os Estados Unidos se resijonsabilizassem pelas obrigações assumidas pela Venezuela no extezdor, para que êsse estado de coisas cessasse.
Agora, procurarei explicar o aspec to brasileiro do subsolo venezuelano, na parte do minério de ferro. Du rante sua conferência, o prof. Her mes Lima lamentou a situação do mi nério de ferro venezuelano, porque seu aproveitamento não seguira o caminho do petróleo, quanto à par ticipação de royalties, para chegar até a situação atual. Atribui a si tuação ao atual governo venezuela-
Fica-se admirado de que nessa si tuação e com essa ausência de las tro institucional, de personalidade como Estado çáo, a Venezuela não tenha sido piorada mais ativamente pela livre empresa. Quando se lê um pouco de . história da Venezuela no século XIX e se sabe que o país saiu de unia di. tadura militar para entrar em outra — e, realmente, desde 1810, época de sua independência, até hoje só teve eleito o presidente Gallego, derruba do pela presente Junta do Coronel Gimenez —, verifica-se que massa de tradições, sem pei’sonaUdade como Estado, é um país talhado para ser presa fácil. E, realmente,
com essa pobreza e naexsem essa
Cabo um reparo: a primeira con cessão de minério de ferro nu Vene zuela é de 1913. A companhia Caiiudian Iron chegou a exportar cêrca de 61.000 toneladas de ferro de uma jazida do Baixo Orinoco, que se cha ma Los Cerros Imataca. Natural mente, os problemas de transporte e a quase desnecessidade de minério de ferro no exterior, na época, não consentiram que sobrevivesse, nova fase do minério de ferro, a con cessão da Bethlehem Steel Corpora tion, chamada El Pao, é de 1938 quer dizer, de três anos depois da morte do Presidente Gomez, ditador da Ve nezuela durante 27 anos.
A Bethlehem Steel Corporation for mou a companhia qúe se chama Ve nezuela Iron Mines. Teve uma série

Dicesto Econóauco 26
)
no.
Na
^ dificuldades em matéria dc Iransporque a jazida não está exa^Diente no Orinoco, mas uma dis-
-^ncia exatamente de 30 milhas do Po» e dêste ponto até a foz j de 150 milhas. Havia I **|^*isporte, de draífagem. quis lançar-se
Hão cêrea o problema do A emprésa a drajrapem do no e utilizou um sistema dc chatas I 7^ seguiam por aqueles
'i ufT Pastogrens, a Bethlehom Steel chcpoii à conclusão de quG nao havia mais minerais de fer ro de modo que se desinteressou de outras possibilidmles.
Entretanto, assim não procedeu
Há eanais.
I o (juasc cm oposto uma povoalerro
uma .
_ ipcnas 100 jazidas da BetI-chcm Curiosamente lon. es-
, onde transatlânticos vêm bu.scar descarregado das chata venientes das jazidas dc El Pao. thirante a guen-a a companhia não : wde construir nada. Realmente, em ' ^í*47, lançou-se sem muito entiisiasa êsse aspecto das construções, j porque as jazidas de EI Pao são * ÍOenas, de cêrea de 200 milhões cie toneladas de ferro, mínimo absolutâmente necessário para fazer face ^ amortização que deve incidir sobre tada tonelada de ferro produzida e *ípí>rtada mediante taxa siificienteídente pequena para não resultar preço elevado do minério, mas

o miS 1)1-0peeni capaz,
' Com 0 con-er da lavra, de ressarcir i realmente de todos os investimentos j feitos. Essa exportação da Bethlchem Steel Corporation vem se fa zendo na casa de 400 mil toneladas por ano, e há um pi’Ograma de «Hento para 1 milhão e meio de to-
1
que ainda êsto para os Estamilhões de toneladas d
e
minerio de ferro. Quando se obser va que essa concessão é de 1947 e que em 7 anos a jazida passou da situaçao natural para uma exporta ção de 4 milhões de toneladas, se sentir o que é o efeito da "liv empresa, quando ela alguma coisa.
podere resolve fazer
extrato de um artigo do American . , - Institute of Mining Engineers, onde filadas, programa esse luuito pare- se mostra porque a United States
"""Delí entre as I)occ. Depois de outias pesquisas J jazidas que tinha catalogada
Kco.vó.suco 27
infinidade de canais no delta do ^noco. Foi criado um i>órto de ex portação transatlãntic \ ffente a Fort of Spain, na Ilha da frindade. Existe ali um gôifo, for cado de um dos lado.s pela península Venezuelana chamada Pária; . ^ lado inglês criou-se ■ denominada Puerto Ili I
I nitcd States Steel Corpoíation, pensando diferentemento, jazida qu a e, encontrou ^ com cerca de 500 miIhües de toneladas de minério do fer10 a uma distância de i milhas das Steel Corporat sa descoberta foi feita por um geó logo emprestíxdo da Belhiehem Steel. Kccentementü, os meus ilustres' companlieiros devem tei- lido nos jorurt*igos do Dr. Teofilo de Andrade, onde descreve essa exploração da United States Steel Corporation no Orinoco. A.qui esta um dêles, firmado dc Cerro Bo lívar, onde mostra ano dali se exportarão dos Unidos 4
O investimento global calculado po lo Dr. Teófilo de Andrade é de 160 milhões de dólares. Destinou-se à dragagem, à construção de uma via férrea de 60 milhas entre o Pôrto do Oinnoco chamado Ordaz, até o Cerro Bolivai*. Dentro em pouco lerei o
aus, na pos-
sibilidade da existência de minério na Venezuela. Trouxe a revista da United Steel, de abril deste niemorativo da cbej^ada do primeiio navio no dia 20 de janeiro dêste ano, levando o minério de ferro de Cerro Bolívar para Morrisville, na Pensilvânia. ü navio partiu no dia 9, dc 175 milhas do interior do continente americano, e chegou nesse pôrto da Pensilvânia 11 dias depois, ve-se a partida do navio, com a pre sença do Presidente da República, Coronel Jimenez, e a chegada do na vio com as primeiras 0.000 toneladas de minério em Morrisville. ta faz at_‘ um histórico da situação.
ano, coDescreA revisrunt
.
O presidente da companhia perg/./. tüu, quando o navio chegou ao pôr-
o:
— Are you ready?
t('u os serviços de uma série de fir mas, como a Morrison Knudsen Co., para a construção de estradas de fer ro 0 do rodagem; a Construetion

a para
f r, Hcchtel S. A., empresária geral; (ir.lagan Ovcr.seas Construetion Co. and iMc Williani Uredging Co. P
.-^nd from fai- above the deck me the answer of the operatoi-, Frank Rossi:
Ves, sir, Mr. Fairless.”
— Take it away! said Chairman Fairlesse, and immediately a 20-lon clam-shell bucket dipped into the hold of the ship, Ijoisted a bite of ore, and dropped it through a funne) to a car below the crane.”
caassim sa-
a dragagem do Ürinoco e do braço í\Iacai*eu; a Raymon Concret Pile para a construção dos cais de embar que; e os arquitetos venezuelanos Francisco Carrillo Batalla e Guinad e Benacerraff, obtiveram o contrato para a elaboração do planejamento urbanístico de duas cidades, em Puertü Ordaz e Cerro Bolivar. Com 0
dinheiro, boa prospecção, e mercado certo — aspecto profundamente im portante quando se cogita de proilufizeram cem absolu¬ ção mineral ta .segurança de sucesso a aplicação dessa massa de 170 milhões dc dólares.
Artigo interessante do Sr. Lipperi. no American Institute of Mines and Eng., que nada tem de técnico, des creve exatamente o motivo que de-
l
O início da exportação foi cramentado. E foi esse o batismo da grande fonte de minério de ferro pa ra cs Estados Unidos, situada a. . . . 2.300 milhas marítimas de um -.porto americano. É a massa de minério de ferro em quantidade mais pi*óxima das usinas do leste dos Estados Uni dos.
ts y termlinou uma companhia como a United States Steel Corporation, ponsável pela produção de cêrea cie milhões de toneladas de aço por
Qual foi o segrêdo de se fazer tu do isso em prazo tão pequeno, de 1947 a 1954? Nesses seis anos, fêzse uma dragagem de 170 milhas, um canal de 250 metros com a profundi-
i*esuno,
lançar-se a essa busca de minério -i a de ferro e procurar supnr-se tendo vista a exaustão das jazidas nov- em te-americanas.
IV.
28 ●'t Dinr.STo l^c«l^o^u( o
I
d.adc dc 3õ pés; construiu-se um pôr- I to de embarque para r> milhões dc toneladas por ano; estendeu-se uma ( via férrea de (30 milhas. Perfuraram { o demonstraram a existência de 500 ' milhões do toneladas de minério dc ferro; iniciarjim a lavra, possível devido à divisão do traballiü. A United States Steel
Isso foi contraI
“A espetacular sorte da U. S. Ste el Corp. na Venezuela constitui, desij 1945, o epílogo de uma série de líontecimentcs bons e maus em re]^çâ.o a Pittsburg. Naquele tempo, j. G. Munson, vice-presidente e enarreg^ado juntamenle com Lawronda Delaware Corp., e R. E. Ziennmeeman, encarregado do pesquificaram convencidos de que a 'ompanhia teria de inverter grandes no beneficiamento da taconi- lomas se quisesse garantir o seu abas’<cÍmento de minério, tendo o Sr. Knnson concluído que antes do toessa deliberação sena conve- iiar

Díz o seguinte: contos depósitos na ocidental; estudadas jazidas da Suécia; nas de Wabana, na Terra Nova; o Sit.le Whiteiisn Lake, em Quebec; a ilha Texado, Ivon Hill e Zebalios na Coldmbia Britânica; os depósitos do Alaska.
as ja as ini-
De pieferência o objepor varios
tivo era encontrar bom mmeno nas costas do Mar das Caraíbas em quan ● tidades suficientes para uma explo ração em larga escala, anos.
O frete marítimo era fatoi
essencial no cálculo do preço, pois, além de tudo, implicaria na constru ção de uma frota especial.
As ricas jazidas do Brasil foram novameute revistas, embora a L'. S. 'j bieei Corp. já as viesse inspecionan- » do desde 1930. Nenhuma nova inüente passar um exame geral nas possíveis de abastecimento de ●^ntes , “inério na periferia norte e sul do ' - Era uma decisão impor tante, os arquivos estavam reAtlân-íC®‘
●letos de relatórios às toneladas, re ferentes a Jazidas estudadas desde Apesar desses relatórios
{çj-irem a tão numerosas pesquisas e oovos estudos acarretassem despetaji <le milhões, o diretor Irving .feaídente G. N. Fairless concorda ram i'evê-los, embora não esperasenhum grande interesse
1908. se ree o novo. n ■<rni
Ein centenas de homens, forverdadeira fôrça de ter ra invadiram o Brasil, Venezuela, Guatemala, Pôrto Rico, ^uba, México e Suécia, penetrando a dentro no rastro de cada uk\\iXS
adícíiÇ^®» assinalada pela terra Centenas de jazidas for v ■p.elbaer-
am em
por milhares de homens, 'losde depósitos de Algateea, [{.nduras; passando pela Guatemala; Ifayaíf”®® e Janeos, no Pôrto Rico; ● ankí» na Nicarágua; tôda a costa ●fiental do México e mai.s de quatro-
vestigação foi feita na i’egião de Itabira, mas as jazidas de Candu, Saraiva, Nho Tim, Casa da Pedra, em Minas Geiais, Santa Maria, próxi mo a Macapá, no Amazonas, Amapá, ● na foz do mesmo rio, e outras no Ceará, foram revistas, sem que ofe recessem novas oportunidades. Uma grande jazida de manganês foi as sinalada em Urucum, a 15 milhas ao sul da cidade de Corumbá, em Mato Grosso, com reservas de 27 milhões de toneladas de minério, com 46,4% de manganês e 17,7% de ferro, das quais a companhia projetou extrair lÜO mil toneladas
por ano.
Apesar de várias novas descobei^tas ’ em vários países, à primeira vista as jazidas do Rio Orinoco oferecer as melhores possibilidades econômicas, porquanto podiam ser ex ploradas intensivamente com razoá vel _^acesso ferroviário e por nave gação fluvial e marítima. Em 1945 levantamentos aéreos foram feitor !í nessas áreas a ao sul do Rio
pareciam desde
^DicESTO Econômico 29
^
í:*: *. yf f
a cidade de Bolivar até o oceano, em uma faixa de 160 milhas. No fim dc 1946, foram examinadas as jazidas vizinhas das concessões da Bethlc* hem em El Pao e as de M. A. Hanna, por processos magnéticos, sem re.sultado apreciável. Essas determinações levaram à localização de zena inte ressante em Upata, onde ocorria uma série de pequenas jazidas, com minério de 65'/^ de feiTo, porém in suficientes para grandes explorações a céu aberto, o mesmo acontecendo com as ocoiTências de Picoa.

quisas e, apesar de se achar semi* aposentado na Califórnia, tomou a responsabilidade dos trabalhos, ni> esperando a Hanna írrandes resulta dos. Auxiliado por dois geólogos de campo, K. Durell e F. Killsted, aerofotografou uma área ao sul d»
Orinoco, aberta à concessão pelo ge vêrno federal, não muito longe di rosei-vada c considerada geralmente pouco promissora, pois já havia si do examinada pelas companhias si derúrgicas.”
era um pico isolado, a 2 milhas do rio Orinoco e a 75 da foz do rio Piacoa. O minério ocorre
festo nesse pi
co de 1,5 milhas de comprimento e 550 pés de altura, em um quartzito com 40 a 45% de feri’o, sendo, pois, necessária a sua concentração e aglo meração depois de pulverizá-lo a 2848 “mesch para obter G07c de ferro ou mais. Apesar de se encontrarem nas vizinhanças, dentro do raio de 50 milhas, gás natural e petróleo, essa ocorrência, nha de sensacional. na época, nada tiTôda essa área
Descreve, então, como através de fotogi'afias aéreas coloridas conse guiram localizar de‘.ritos vermelhos de canga que assinala Assim descobriram Cerro Bolivar, que na época se chamava La Parida. A concessão foi dada pelo governo i venezuelano em 11 de abril de 1947, de uma área total de seis mil São áreas con tíguas que totalizam 30.000 quilôme tros quadrados. Esta é a área totsl reservada pela U. S. Steel,
as jazidas. acres. tres mil hectares. ou para en
cerrar sua jazida de Cerro Bolivar. Admite-se hoje que em matéria de minério de ferro, o govêino venezue- de pesquisa estava localizada ao sul do Orinoco e a leste do seu tributá rio, o Caroni, na direção do Oceano, e estava mantida pelo Governo Fede ral como território reservado, no qual
qualquer concessão só podia ser fei ta com muitas restrições, pelo prazo de 40 anos. Tanto esse governo, co mo a Bethlehem e a Hanna, conside ravam esse território como o único possível de contei* grandes jazidas de ferro. Depois desses estudos, a dire ção da U. S. Steel mudou e os estu dos foram reduzidos.
Nesse momento, Mack C. Lake, an tigo geólogo da Hanna, foi encarre gado pela Corporation de novas pes-
lano separou uma reserva nacional duas vêzes maior que as concedidas à U. S. Steel e à Bethlehem Steel. Quanto à opinião manifestada ao prof. Hermes Lima por uma autori dade venezuelana a respeito da timi dez com que o governo da Venezuela iniciou o aproveitamento do minério de ferro, parece-me que tal opiniáo está em contradição com o que di£ o Ministro de Minas da Venezuela,
ao participar do contrato de draga gem do rio Orinoco. Eis o extrato de um jornal de Caracas; pertencente da Cia. Vale do Rio Publicou-o “El Universal” de aos arquivos Doce.
Dicesto Econónucci :íü
r? de novembro de 1951. Quando ce i^finon esse contrato, o Ministro de Kmas e Hidrocarhuros, Sr. Santia^ era, explicou aos jornalistas t vantagem que encontrava na assiutnra de tal contrato o na concessão feita à United States Steel. Ê um frecho pequeno, que tem a vantagem íe ser o prommciamonto do govêmo reneruelano sobre o assunto

perficie y lo depositarán en los camiones, que lo transportarán hasta el ferrocarril, el cual llegará hasta la cima dei Cerro Bolívar y, eventual mente, el mineral podrá ser deposi tado directamente por Ias palas en Todo el mine- los mismos vagones.
ral de hieri*o será triturado y deposi tado en el puerto, antes de ser cargndo en los buquês por medio de cadenas transmisoras. .
rocon el a construir un
puerto que se denominará Puerto Oren honor dol valerozo explorador ç5panol p. Diego do Ordaz. quien (Jescubno y exploró el Orinoco alr«dedor dei ano 1951.
íJn cse sitio se constmirán muelles Ias facilidades necesarias, alolaiuientos para trabajadores, nlantas de fuerza. almacenos de depósi tos, etc. Se construirá um ferrocade trocha ancha y una carretera desde Puerto Ordaz hasta Cerro Bom ferrocarnl será locomotoras eléctricas
con equipado y vagones livar. fon
podrán cargar hasta 90 tontla^ç; métricas de mineral de hierro, rada vagón, y la via tendrá una lonjritud alrededor de 150 Icm.
tores venezolanos.
se ti'ucción de Ias nuevas
Puerto Ordaz y CeiTo rá un gran mercado para
■
j
los produc- .
tos fabricados en el país, tales com eemento, ladrillos, mosaicos, maderas, muebles y muchos otros matenales.
El desarollo de la industria dei mi neral de hieiTO en Venezuela abrira un gran mercado a los aceites, giay gasolina producidos en Ias refinerias venezolanas.
zas
●gn la mina se construirá dad para alojar a los trabajadores todas sus comodidades. La com-
una ciuroTl pafila construirá, además, casas, talleres, plantas de fuerza diesel y otras facilidades necesarias nara el maueJo y labores de la mina. gl hierro será extraído nor gran-
palas mecânicas eléctricas. Ias des rtialcs recojerân el mineral de la su-
El uso dei gás natural se intensifi cará gradualmente para el tratamiento y reducción de alguma clase de mineral de hierro.
.']j
abrirá un mercado importante a los -
produetoB agropecuários de la región.
'l
«Dijo el Ministro Vera que para rçalízar Ias grandes obras que la re ferida compania ha proyectado, el r.o deberá ser dragado para que los barcos de gran calado puedan ^ontar hasta la confluência í^roni, donde se va . t
. I
Enumero el Ministi’o Vera Ias ventajas que para la Nación repoita ei contrato otorgado a Ia Orinoco Minning, porque em primer lugar abri rá el rio al comercio internacional y ^ acelerará el desarollo de nuevas in dustrias en Ias vastas areas colonizables de Guayana, facilitando nuevas , | perspectivas y mercados a los produc- ^
Durante el periodo de construccionenplearán millares de obreros que se estima en unos 7.000. La cons ciudades en el Bolívar abri-
.1
El cresdmiento de industrias en Puerto Ordaz y en Cerro Bolivar
La construcción de una ancha carretera al Cerro Bolívar dará acceso a la gran región situada al sur de dicho cerro, la cual está llamada a un gran desarrollo.
El dragado dei rio Orinoco esti mulará también el desarrollo de nuevos campos petroleros en Ias cerca nias dei rio e incuestionablemente se rá un factor muy importante para el impulso dei proyecto hidroeléctrico en el Rio Caroni, Io que generará fuerza barata a nuevas industrias, tales como la dei aluminio.
contribuirá a aumentar la renta na- ^ cional.
IEI desarrollo de la navegación >* de transporte barato estimulará la ! busque‘a y desarrollo de otros depó sitos de hierro y de outros mineralcs. depósitos que por si mismo no jus- ^ tificarian grandes inversiones y lo® cuales podrián explotarse por medio de Ias facilidades de transpri*te ofrecerá la Orinoco Mine Co.
El laboreo de Ias minas de hierro necesitará de no menos mil quinientos hombres por un periodo indefi nido.
El impuesto sobre la renta deriva do de Ias operaciones de Ia companía
num que acabo de explicar, e tenho tam bém a impressão de que, com estes esclarecimentos, complementei certa maneira as informações colhi das in situ pelo nosso ilustre com panheiro, prof. Hermes Lima.

.pensa desta maneira aproveitar o seu subsolo. Os resultados são os V r \ V A'4/
de
32' A:.''" uimiu iiLUA^ l
if
Creio que dei uma idéia de ccmo país que atua a livre empresa
os MALES MORAIS DA INFLACAO
I.SAI.TINO C:<)MA ^
(Autor de "Os erros d;i valorizarão”; "As nossas exportar^ôes”;
”l\\puii.são tio
1 rt>te<.’iomsuu> e lixrt**c.iiiil')ii>”, eí>nu'reic> paulista”)
A desonestidade não é, nunca foi ^ inerente ao caráter brasileiro. Outras fragilidades poderá êlc ter, menos essa. O sentimento da honra iempre teve e sempre o cultivou. Formada a nacionalidade, o brasi leiro procurou manter c consolidar Of elemento.s morais que lhe transaitíram os seus ancestrais portuf^êses 0 brasileiros c não obstante -çr 0
Brasil, como tôda terra nova, r.âf evidenciou sua
país de imigração recebendo ádvede todas as procedências, de l^lxo e alto nível, êlc capacidade de resistência às influências malsãs vindas do fora, da mesma forma que os indivíduos cotados da invulnerabilidade mórbi da resistem aos assaltos das enfer midades. ,
Sa luta entre a tradição e a possifel penetração de novos costumes qye ocorria, naturalmente, no dclenvolver de nossa vida, para que 0 ambiente nacional não fôsse atingfiáo por fatores extremos, houve preocupação para que predominastem sempre os atributos herdados por isso ^ nossa estrutura moral náo sofria enfraquecimentos. Era fagocitose da nova espécie
e uma
travada entre os de casa e uma parte
^ que vinham de fora. Era uma batalha espiritual que até certo ponpoderia ser comparada à luta bio lógica que Metchnikoff constatou L f^rganismo humano.
to no
Aa várias doutrinas que pretenU fjero explicar as causas que influem
tais como os a educação, asseLTuram a contribuição liosa da hercditariedatlo te propicio e que pode scicm gerações sucessivas Entretanto,

na formação tio instintos, também as caráter, paixões e
vacm nmbienconscrvadíi através dos o carátor de povo pode sofrer o influxo dc externas como cas. reliíriosas
anos. um causas influências polítie econômicas. as Quor paquer pai-a a sua ra o seu apuramento. alteração. O fato indivíduo se repete que ocorre com âmbito o em um maior com a nacionalidade.
Humo chepra a mesmo doutrinar o fator causas que no cartiter dos predominante é esse, E por isso êle afirma grovêrno de
povos o das morais, a natureza do um
<« qxic a naçao, as revoluções, a abundância carestia da vida, podem alter fundamente
ou ai* prosuas o caráter de po¬ pulações
A ditadura veio confirmar ceito de Hume. A desonestid o conpevicomo
ade netrou em todos os setores da da nacional e ela nao veio, se presumia que podería acontecer, por meio de agentes externos, ganismo nacional foi
por agentes patogênicos internos que no Estado Novo encontraram ambien te favorável para a sua proliferação.
A inflação corrompeu o país e in filtrou o seu veneno pernicioso todas as camadas da sociedade, trora os atos de desonestidade
O orinfeccionado em Oueram
De vez em quando raros, entre nós.
lia-se nos jornais a notícia de utq
h desfalque em uma coletoria, comen, de venalidade pratifuncionáríos públicos e chefe político comcontrabando nas frondeputado cumpliciado em da advocacia ad-
tavam-se casos cados por apontava-se um prometido teiras ou um negociatas através
em ministrativa.
Êsses fatos, que se repetiam algu mas vezes, eram, entretanto, esporá dicos, não estavam difundidos em to do 0 território nacional e não atinoutras esferas da sociedade. giam as O comércio permanecia incólume e mesmo sucedia à indústria e à laPrezava-se a honi*a e nenhur ma criatura queria ser apontada co- >
1 1
mo desonesta.
Aquela probidade brasileira que era motivo de atravessou gerações,
mens
\
vanjos imorais e falências que de veríam ser julgadas fraudulentas.
O comércio brasileiro, até aquela época gozava no país de um ele vado conceito moral, merciais do Rio, muitas, mais que cínqüentenárias e algumas centenárias, afamadas pela seriedade que imprimiam às suas operações, mesmo ocorria em todos os Estados.

As casas co¬ eram
mo vam aos
Em São Paulo, não só na Capital cotambém em Santos c nas cidades do Interior os comerciantes g-ozade reputação do um nível tão ele vado, que os seus nomes transmitidos filhos valiam como padrões de alta nobreza, como símbolos de pro bidade. Êsse fato pode ser constata do na genealogia das velhas famílias.
Atravessamos em certa época uma comercial caracterizada crise
grandes casas atacadistas de fazen das pela diminuição, das vendas o sobretudo pela escassa entrada de numerário do Interior. Não vigora va naquela época o regime das con tas assinadas. As vendas efetuadas para o Interior Ias casas do Rio e São Paulo J
T I’ —'ir*'.» I ' Digesto EcoNósni 34
Um fato histórico confirma as qua lidades morais que, então, possuía o comércio brasileiro. O
0 voura 'i
orgulho, principalmente para os hode hoje de mais de sessenta anos, pois alcançaram o tempo em que 0 fio da barba valorizava um compromisso. Essas virtudes en contraram testemunhos em nossas passadas crises e ninguém delas se aproveitou - ao contráno do que sucede agora -,para justificar^ar-
nas poeram
feitas nos velhos moldes das contas correntes de movi mento, sem garan tias gráficas e ba seadas exclusiva mente no crédito pessoal dos clion-^ tos. Êstes, imposJj
■●ibiHtados de amortizarem
os seus crise, em
compromissos porque a parte, era um reflexo da situação precária da lavoura, da qual êles de pendiam, tiveram de cessar, por tal efeito, as remessas de dinheiro.
A situação para as casas das feridas praças era mais que pre mente, era aflitiva. Tratava-se dc estabelecimentos ^rirando com gran des capitais e sob administrações veras, mas que, apesar da solidez de
mais, uu menos semelhantes — sal vou da i-uina o comércio do país tando o desmoronamento de ri edificadas com
, cviriquezas o labor de muitos anos.
Por ridas uma
que os bancos das duas refepiaças tiveram, nessa época conduta de exceção! ?
suas organizações, em estagnação dos negócios, corriam ris co iminente. O pânico já
icsedo comércio atacadista de fazendas, do qual eram detentores firmas tuyuêsas (na maior porparte)
3-uínu Contavam-sc mo-
próprios a explicaram nas reuniões em que a crise era examinada, do cm relevo
Êles pona probidade inatacável
senso co-
receio.
Fatos dessa natureza mercial de um povo valem na vida cocomo pa drões de nobreza que devem ser lem brados para estímulo aos que ainda duvidam do valor dos imponderáveis para triunfar no comércio, lução que assim tão eloqüentemente dignificava
A i*esoo comércio português ê brasileiro constituía uma honra das mais altas a que pode aspirar uma raça.
Isso era assim antes do Estado Novo.
e n um s
virtude da se anuncia , brasilei¬ ras e luso-brasileiras poderia confiar e nas quais se sem temor e sem va. A falência dessas casas levaria de rastro outras casas e possivelmen te até bancos. A derrocada assim seria fatal e o prenuncio da do nosso comércio sentia-se no am biente como uma calamidade nacio nal. Uma tensão nervosa domina va todos os espíritos, as horas, esperando-se, a cada mento, que um primeiro protesto de letra precipitasse a insolvência das referidas praças. Nesse momento um dos mais dolorosos de nossa vida econômica — triunfou o bom dos banqueiros. Tanto no Rio, mo em São Paulo, os estabelecimen tos bancários, depois de troca de idéias entre os seus diretores, resol veram não só reformar todos os tí tulos com vencimentos próximos mas assegurar às referidas casas que elas seriam, como medida de exceção, as sistidas em todas as suas necessi dades financeiras ainda que a situa ção se prolongasse. Essa resolução dos bancos — indiscutivelmente sen sata e tão em antagonismo com o que antes e depois se tem praticado em ocasiões, menos gi’aves, é certo, mas
ao se com o uposto contraste, uma imaginária antinomia entre os dois períodos — antes e de pois da ditadura — vamos aqui trans crever o panorama da praça de San tos, tal como o focalizamos dos nossos trabalhos de A praça de Santos é uma praça sem nenhuma similar em todo mundo. L
em um anos atrás: U O Pelos moldes de suas pra xes, pelo método dos seus trabalhos, pelo feitio moral com que está assi nalado o sistema dominante nas suas

●5r> ■V
t
Para que não se diga pense que estamos fantasiando objetivo de estabelecer
penetram naquele meio e excluídos de suas ela se distancia em abso- rejes nao os apóstatas são assembléias. Operações, ..
. luto das grandes praças americanas e em nada se assemelha aos entre postos do Velho Mundo. * Transações de grande vulto ali efetuadas sob palavra, sem te mor de que uma das partes, a que vende, venha pre-
sao compra ou a que
Os empregados do comercio, des de o mais modesto moço de amiazém de função elevada e de respondireção das grandes mesmos propósi-
até o sabilidade na casas, mantêm os tos de probidade profissional, auxiliares das grandes casas.
Os judicar a outra faltando ao comproassumido. Nas épocas do misso ^ grande oscilação cambial e nos pe ríodos em que o mercado de café i experimenta flutuações inesperadas e violentas, negócios montando a ^ grandes somas sao fechados sob pa- - mesmo lavra para confinnação, por escrito, t somente 24 ou 48 horas depois, sendo cibos, que » certo que antes do prazo fixado para pois são procurados, a documentação — como muitas vê- hoje não consta que um empregado W zes sucede — as alterações do mer- desses, quer o que paga, quer o que
jovens diariamente, à
s primeiras horas, percidade efetuando pagamencentenas de contos correm a tos de centenas c de réis receber em troca, no , sem momento, como é de praxe em todo o mundo, os respectivos resòmente muitas horas deEntretanto, até w cado ocasionam formação de fortunas recebe, se tivesse apiovei ^ o da I imprevistas ou prejuízos colossais. oportunidade paia se lansvini o ií Entretanto, a parte lesada muitas vê- bom caminho.
rentes
A êsses lineamentos morais inecorrespondem outras à praça zes pelas contingências da sorte, que podería fàcilmente formular um pre texto qualquer para fugir às res ponsabilidades da transação, ainda menção, qualidades, não revestida da legalidade e assim evitar grandes perdas, às vêzes até a sua ruína, em hora amarga e dolorosa, pega na pena, para cumprir a palavra empenhada, sobrepondo dêste modo, aos interesses materiais, a veram ■ honra do seu nome e a serenidade da sua consciência.
É esta a fisionomia moral da pi’a- do. ça de Santos. Os comerciantes que ali se fizeram aos poucos, que co meçaram por modestos auxiliares até ascenderem às culminâncias do alto ar comércio há muito que respiram esta ^ atmosfera. Os novos, nacionais ou f estrangeiros, vindos de fora, que já trazem bagagem de capitais, não po dem fugir ao ambiente local. Os he-

outros atributos dignos Em sua generalidade os seus comerciantes são homens educado.s e dc espírito cultivado. Entre os comissários c exportadores nacio nais há firmas que-evocam a nobreza do antigo regime, e nomes que tifuTgor no parlamento do ImDentre os comissários, váno congresso do EstaAntigas familías paulistas com Nobiliarquia, estão aí Filhos
pério.
iguram ro na perfeitamente representadas, ulares e de altas patentes da armada nacional, aí vivem e traba lham sem que se sintam deslocados, casas comerciais que os É nessas das famílias abastadas e das de mais destaque na sociedade, fazem aprendizado de administração.
regist de tit filhos
o seu
1
t i í
1
(
r
rios f V
Em suma, entre os comerciantes, in termediários de negócios, cambistas, corretores e propostos há gente oriunda dos grandes solares, assim como filhos da burguesia e de origem desta, mas, que se fizeram por si, pelo seu próprio esforço e por isso ascenderam no conceito público”.
chiam-nos de nobre orgulho: “Santos é uma praça em que os comerciantes cumprem religiosamente os tratos
mo-
de um consolidado inglês os negócios fechados sob palavra, muitas vêzes são confirmados ' crito somente um ou dois dias depois e nunca houve apostasia
seus conA palavra ali tem o valor li e por \sso por esum recuo ou uma 0 comércio comissário, constituía, desde Icngos anos, um conjunto do forças econômicas ativas, pre colaborou com a lavoura na defe sa do café e também
que semcom os gover nos tôdas as vêzes que era solicita da a sua cooperação.
Durante longo tempo, cs comissá rios, tanto nos bons como nos maus anos, financiavam a lavoura do sa fra a safra, para ajuste de contas quando realizada a venda do café. Financiavam também para aumento das culturas, pura ampliação de ben feitorias, para aquisição de máqui nas e algumas vêzes até para com pra de novas propriedades.

A praça de Santos antes do Es tado Novo era assim como acaba mos de relatar. E hoje?
em
Entre comissários c fazendeiros, numerosas cii‘cunstâncias havia mais que interêsse material, havia amizade e vínculos morais que pren diam uns aos outros.
Em Hamburgo, cidade mercantil de serviços perfeitos, apontada cono paradigma de elevada cultura comercial, ouvi banqueiros e grandes comerciantes classificarem o comis sariado da praça de Santos uma
e fecundas instituições comerciais do mundo e que podería sei-vir de mode lo em qualquer país pela sua organi zação e pela sua moralidade”.
Hoje, não obstíinte o advento de intrusos, ela sonesta. nao e uma praça deA probidade ainda sebrevivo ali, mas falta-lhe preseutemonte aquela austeridade <iue sela va as operações e que tinha e teve repercussão nas outras grandes pra ças mundiais. Ilojo nem todos comerciantes possuem aquCde generoso de outrora de pôr o intelèsse geral, o interesse da cemunidade acima dos interesses individuais. Dentro da própria .\ssociação Co mercial se verifica como as opiniões na apreciação das necessidades da * praça, na forma de solicitar-se dos poderes públicos medidas acauteladoras dos interesses do comércio, sugestões oferecidas ao governo ra resoluções de problemas econômi cos, se subdividem em certas ocasiões, prevalecendo não a mais vitil ã co munhão social, mas a que favorece
us senso nas pa-
como das mais interessantes, úteis ora a um grupo ora a outro, umas vêzes ao mais numeroso; outras, que possui mais hábil expositor das ques tões e que se coloca, com arte e en genho, visando a solução “pro domo sua”, afastando-se assim daquela se veridade e imparcialidade patriótica que no passado se imprimiam nas grandes assembléias e que consti-
Os conceitos que chefes das orga nizações mais poderosas da Alemanha emitiam sôbre o nosso comércio, enI
tuíam apaná^o soberbo daquela ter-
ra.
Apesar de tudo, da velha geranotáveis comerciantes de ou-
há quem as pratique. O Estado No- . vo foi um eclipse na honra brasilei ra, mas já apareceram no horizonte claridades que prenunciam a volta de tais dias de atmosfera límpida de ambientes purificados.
Amua há pouco tempo uma imporantiga firma viu-se em sér rias dificuldades financeiras em con de arrojadas operaçoes
CIOSOS.
tante e seqüència
^' feitas por gerentes novos sem a madureza e a prudência dos antecessoe que inauvertidamente se exce- res ● deram em negócios de vulto muito . superiores ao capital em giro. Com . a queda, então violenta, das cotações de café tinha que ir à garra fatal- mente a casa e isso sena um caso banal na vida comerciai de uma granW de praça; entretanto, o pai dos gerenJ' tes, encanecido nas lides do comércio, í possuidor ue grande fortuna alcançada t. lentamente no decorrer de meia cenk túria de anos de labor fecundo e ho-
ção üe trora ainda restam exemplares preEatos recentes o provam. Com o advento da ditadura um vento de destruição soprou sôbre o Brasil, alterando profundamente aquele clima de moralidade que antes nos beneficiava. Essa ação nefasta se iniciou primeiramente na administração pública, nistérios se transformaram em bôlclandestinas onde tudo se compro va e tudo se vendia. Dentro de mui tas autarquias estabeleceram-se in termediários para negócios tortuorepartições arrecadadoras,
Vários misas sos; nas
entre funcionários públicos e aventuocasião, organizaram-se societas seleris” estabelecendo anar quia, prendendo processos para daí, mediante chantagem, tirarem o seu Traficantes de toda a es-
sponte sua”, mais preocupa' do em deixar aos filhos um legado espiritual do que valores materiais, estabelecimentos de cré-
nes^o ' procura os J dito e lhes oferece e lhes entrega para garantia das dívidas que consti^ tuíam o grande passivo da sociedade ’ os seus bens particulares, não obs tante se tratar de sociedade de ca; pitai limitado.
Para nós, brasileiros e paulistas e também para os homens pessimis tas ao encarar o panorama a'uai da
t dissolução dos costumes nesta epo-
ca, em que os valores morais e es pirituais são postos à margem, esse gesto singular representa um consôlo e uma esperança. Nem tudo es tá perdido. Ainda subsistem con-
^ cepções elevadas de moral, e ainda

reiros de U proveito, pécie, chegados no Norte e do Sul, contrabandistas conhecidos nas fron teiras foram empossados em lugares rendosos através dos quais cometiam tôda sorte de patifarias.
Com a entrada do Brasil na guerpara postos de 'fiscalização e de coordenação e para intendentes e liquidantes de patrimônios e bens de alemães e italianos, foram chamados indivíduos — salvo poucas exceções escrúpulos morais e inteira¬
ra, — sem
mente inadequados àquelas funções. Tudo se fazia às barbas do governo institutos e nas comissões criaA venalidade encontrou, então nos das.
pleno reinado. Criou-se o mer-
o seu cado negro em todas as utilidades.
’
● p > <
,●
í
■'*
I
O governo protegia todos os granpf I '
des patifes g ai daquele que os denun ciasse.
Indivíduos nem beii-a
sem eira
, sem capacidade para comerciar apa reciam de um dia pai-a cutro, ricos e afrontando o povo que trabalha, com um padrão de vida de milioná rios, mantendo amantes e dando-lhes palacetes e carruagens.
Mas, por infelicidade irregularidades não íicaram circuns critas à burocracia
nossa, tais e aos departa
tudes da mulher brasileira, de Deus, ainda há no organismo na cional uma certa capacidade de re sistência, mas a infecção latente, certos casos, pode se generaliz
O demasiado e indecoroso pelo luxo, o uso e abuso de bebidas alcooólicas, a dissolução dos c stumes o a atração pel'^ .iôgo penetraram em tôdas as classes sociais.
Mercê em ar. amor A moça
e oran-
porque es tamos na época, dizem várias delas, !- “mulher evoluída * da e emancipada”.
E com isso a vida doméstica se de sorganiza e o lar, outrora doce refú gio dos país e dos marid-^s de volta dos seus trabalhos profissionais, de encontravam, ao lado da nuva dos seus, horas

operária fuma, joga e bebe uísque fingindo moça da classe média; esta faz o mesmo querendopassar por mentos públicos, elas atingiram tôdas as outras atividades. a Entre grã-fina e damas da alta acham tudo isso natural, - sociedade as grandes casas de comércio ganizações industriais, houve muitas que puseram de lado os métodos do trabalho que constituíam normas tigas que as prestigiaram durante longos anos e lhes valeram um ele vado conceito social, pai-a optarem, em corrida vertiginosa, pelos lucros fáceis, negócios de aventuras e por meio de golpes e processos conde náveis.
Um tal ambiente favoreceu a entra da na vida mercantil do país de merosos traficantes que fundaram indústrias e empresas comerciais com propósitos deliberados de se locuple tarem à custa dos bisonhos acio nistas que, seduzidos pelos lucros mi rabolantes, corriam pressurosos, a subscrever as ações.
Êsses fatos todos que ocorreram em conseqüência da inflação, como obra da ditadura, pela comissão de sábia economia de guerra cor- uma rompendo a sociedade brasileira e atingindo, em gi-andes proporções o corpo social, não se detiveram. Fo ram mais longe. O mal penetrou sorrateiramente naquilo que mais prezamos na vida da nação, na dig nidade das nossas famílias, nas vir-
onsuave terrepousantes pao espírito fatigado pelo esforço laborioso, uma serena e confoi-tadora felicidade, transforma inferno de -^isputas e discórdias às vezes, terminam
ra -se em um que, ca^asti'òfica
nu-
mente. E é assim que uma sociedade de tradição altamente moralizada mo a brasileira, se acha de ruir por terra.
coameaçada O que deveremos fazer para impedir essa tragédia cional ? na-
A imprensa cabe. como é natural, um papel preponderante em uma campanha ativa e com o objetivo de Gvitar-se a desagregação da famí lia brasileira, ciaram atividades nesse sentido ria útil que esse pensamento patrió tico se difundisse em todo o territó rio nacional.
Vários órgãos já inie se-
Em Buenos Aires, em 1917, a De.. legaçâo Industrial Brasileira, que alj
DrcFSTO EcoNó^^co 39
! fôra erti missão de estreitar as re lações entre os dois países colabo rando em vasto plano para um inter câmbio comercial, foi alvo de várias homenagens. Entre as festas dadas honra, houve um chá ofere- em sua
Brasil há muitas damas que se de dicam às letras) e recorda-se a últitemporada lírica. Depois, cheHá então o beima gam rapazes...
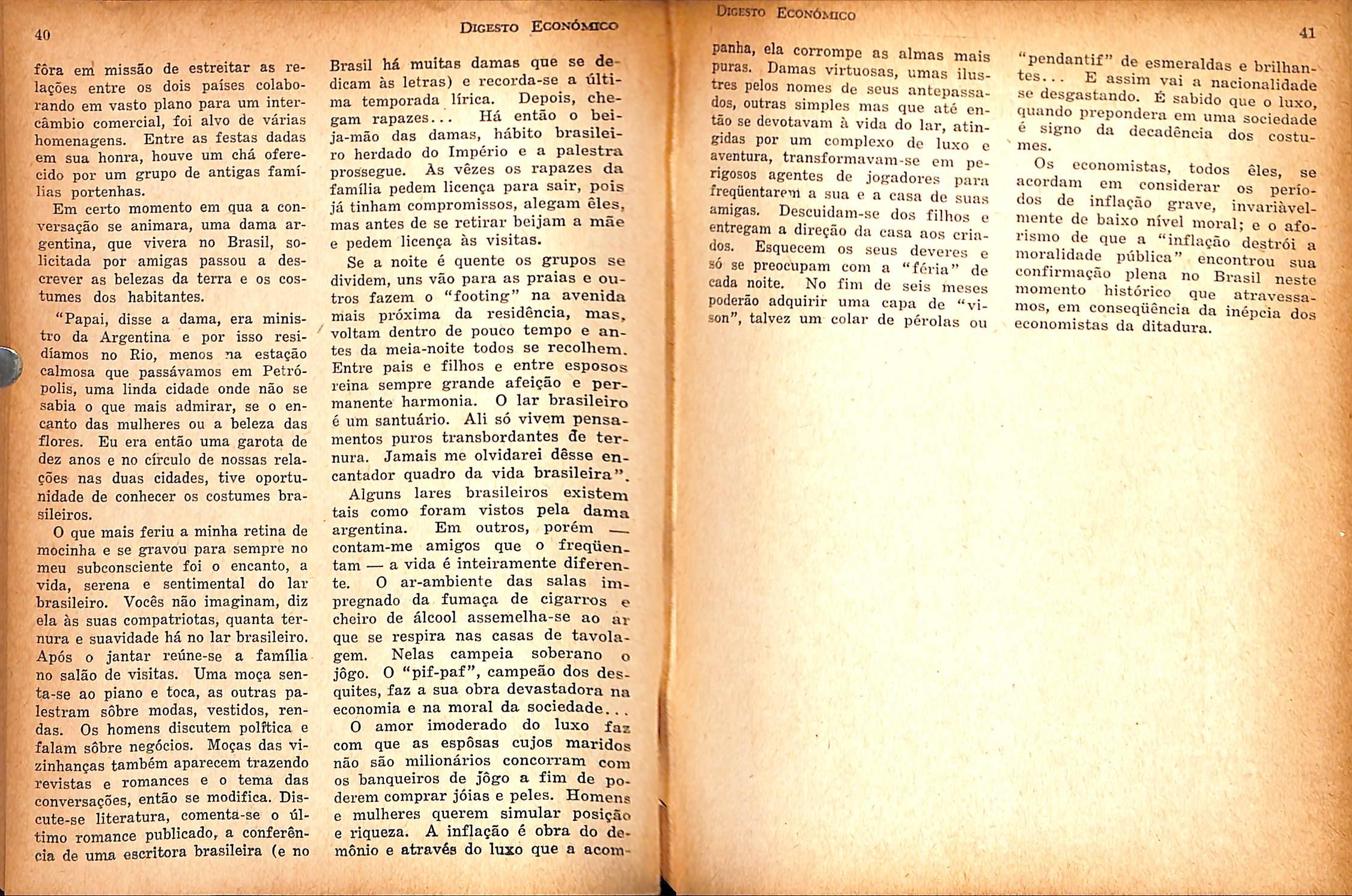
ja-mao ro cido por um grupo de antigas famí lias portenhas.
Em certo momento em qua a con versação se animara, uma dama ar gentina, que vivera no Brasil, so licitada por amigas passou a des crever as belezas da terra e os cos tumes dos habitantes.
“Papai, disse a dama, era ministi'o da Argentina e por isso resi díamos no Rio, menos na estação calmosa que passávamos em Petrópolis, uma linda cidade onde não se sabia o que mais admirar, se o en canto das mulheres ou a beleza das flores. Eu era então uma garota de dez anos e no círculo de nossas rela ções nas duas cidades, tive oportu nidade de conhecer os costumes bra sileiros.
O que mais feriu a minha retina de mocinha e se gravou para sempre no meu subconsciente foi o encanto, a vida, serena e sentimental do lar brasileiro. Vocês não imaginam, diz ela às suas compatriotas, quanta ter nura e suavidade há no lar brasileiro. Após 0 jantar reúne-se a família no salão de visitas. Uma moça sen ta-se ao piano e toca, as outras pa lestram sobre modas, vestidos, ren das. Os homens discutem política e falam sobre negócios. Moças das vi zinhanças também aparecem trazendo revistas e romances e o tema das conversações, então se modifica. Discute-se literatura, comenta-se o úl timo romance publicado, a conferên cia de uma escritora brasileira (e no
" . das damas, hábito brasileiherdado do Império e a palestra Às vêzes os rapazes da
prossegue, família pedem licença para sair, pois já tinham compromissos, alegam êles, antes de se retirar beijam a mãe mas
G pedem licença às visitas.
Se a noite é quente os grupos se dividem, uns vão para as praias e ou tros fazem o "footing” na avenida mais próxima da residência, mas, voltam dentro de pouco tempo e an tes da meia-noite todos se recolhem. Entre pais e filhos e entre esposos reina sempre grande afeição e per manente harmonia. O lar brasileiro é um santuário. Ali só vivem pensa mentos puros transbordantes de ter nura. Jamais me olvidarei desse en cantador quadro da vida brasileira”.
Alguns lares brasileiros existem tais como foram vistos pela dama Em outros, porém argentina, contam-me amigos que o freqüentam — a vida é inteiramente díferen0 ar-ambiente das salas im pregnado da fumaça de cigarixjs e cheiro de álcool assemelha-se ao que se respira nas casas de tavolaNelas campeia soberano
te. ar gem. jôgo. O “pif-paf”, campeão dos desquites, faz a sua obra devastadora economia e na moral da sociedade...
O amor imoderado do luxo faz com que as esposas cujos maridos milionários concorram
com os po-
o na nao sao banqueiros de Jôgo a fim de derem comprar jóias e peles. Homens e mulheres querem simular posição e riqueza. A inflação é obra do de mônio e através do luxo que a acom-
Digesto Econômico 40
f: 'I
panha, ela corrompe as almas mais puras. Damas virtuosas, umas ilus tres pelos nomes de dos, outras simples tão se devotavam à vida do lar, atin gidas por um complexo de luxo e aventura, transformavam
seus antepnssamas que até cn-se cm pe-
“pondantif” de esmeraldas e brilhanesy . E assim vai a nacionalidade se desgastando. É sabido que o luxo, quando prepondera om uma sociedade e signo da decadência dos costu mes.
ngosos agentes de jogadores freqüentarem amigas.
casa aos criaseus deveres e féria seis meses capa de
U ti de u VI-
Os economistas, acordam em cons para a sua e a casa de suas Descuidam-se dos filhos e entregam a direção da dos. Esquecem os só se preocupam com a cada noite. No fim de poderão adquirir uma son”, talvez um colar de pérolas ou
se iderar ave, dos do inflação mente do baixo nível rismo de
gr U que a moralidade pública confirmação plena momento histórico
todos êles, os períoinvaiààvelmoral; e o afoinflaçào destrói ” encontrou
a sua no Brasil neste que atravessa-
mos, em conseqüêncin da inépcia dos economistas da ditadura.
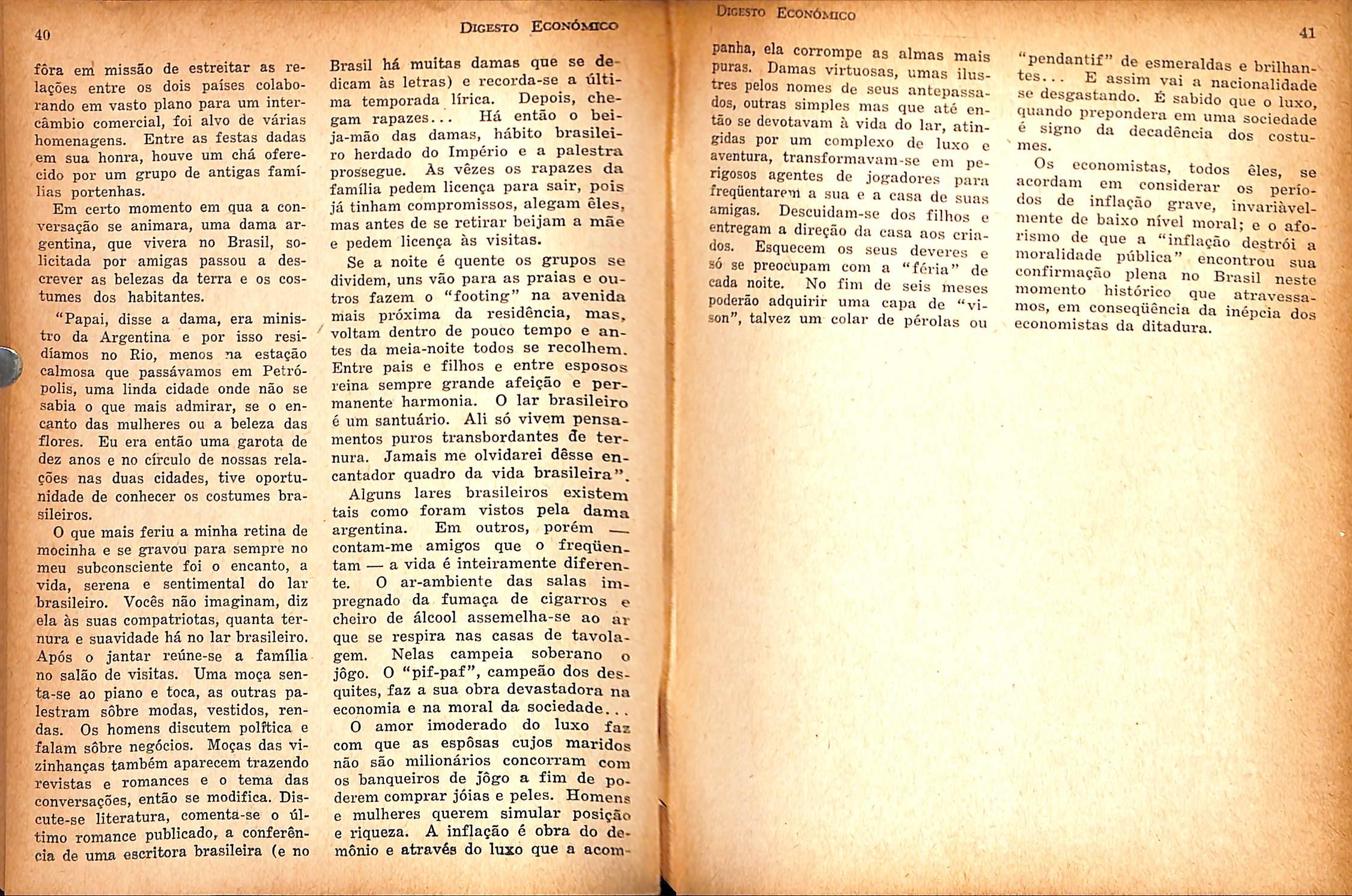
Dicesto Econômico 41
CRÉDITO POBLÍCO
Otávio Gouveia de Bulhó^
(Exposição feita no Con^eUio Técnico da Confederação Nacional do Comércio e resumida pelo au or;
Esta a verdate o crédito público. Álinistro da Fazenda encaminhou Presidente da República um projeto de lei visando a normalizar a situação do crédito público. O pre- o sidente da República, concordando viv-. com os pontos de vista sus.entados regime peij MiniStro, resolveu enviar men sagens a Câmara dos Deputados, no p.eciados não porque o
Ode. ao senciuo de scr bai.xada uma lei se- União — justiça se faça
ia
dizendo, tem a grande De modo que, como projeto em exame irtude de pretender restabelecer o ; anterior, o que é louvável, títulos públicos têm sido deGovêrno da Os cará autorizado a emitir títulos da Nunca faltou. Há alguns casos
I gundo a qual o Poder Executivo fi- faltado ao pagamento dos juros,
í-^ dívida pública até o montante de 60 duais e municipais. Refiro-me, porém, I bdhô
tenha es de cruzeiros, com a finali- âmbito federal. Não conheço um ● dade precípua de consolidar e uni- caso de falta de pagamento de juros
Í. ' formizar tóda a dívida da União, dos títulos da dívida pública da União. ' Estados e dos Municípios. falta de resgate. Mas o
» À primeira vista, êsse projeto de resgate não influi no caso, poique lei parece inoportuno. Num período o montante da dívida^ conso i a a é y, em que não temos muita confiança tão diminuto cm relação ao oiçame^nno crédito público, falar numa emis- to federal, que não expiessao, são de títulos no valor de 60 bilhões Resgate visa a contrabalançar o mon de cruzeiros é qualquer coisa de ou- tante da dívida pública com a sado. Há, entretanto, um mérito es- Mas —- repito — o montante da di, pecial nesse projeto de lei — exata- vida pública em mente o de reconher a dificuldade de vamente !' colocação dos títulos públicos. Portanto, não é êsse o
nosso pais é relatiinsignificante. motivo da dodiminuto.
Nã
Qual a prnicipal dificuldade de co- preciação dos títulos, locar os títulos públicos? o meio cesso de oferta de ap c ^ r será rebelde à aquisição ? cado. O que ocorre que o juro nuo
; lança mão de empréstimos públicos.
^ A república assistiu a vários lança■' mentos de empréstimos públicos. Só
o há excorresponde à depreciação monetária.
Não. Desde o Império, o Govêrno procura
Reconhecendo o fato, o projeto estabelecer um sistema me-
H de 1930 em diante, começou a haver K desinteresse. Passou, então, o Govêrrecorrer aos empréstimos com- f no a

com a ●; pulsorios; e quando enveredou por f êsse caminho, liquidou completamen-
diante o qual o juro seja pago ao portador do título em consonância depreciação monetária.
Mas, qual a fonte ou qual o ín dice que o Governo resolveu estabo- j lecer para a estimativa do pagamen-
>:
.
..M
kT
Dicesto Econômico
to dêsse juro? Recorro de câmbio ao mercado e pretende se estabeleça o pagamento dos juros do acordo com a cotação do cruzeiro no câmbio.
É BÔbre êsse dispositivo que deve mos refletir, que 0 Governo tem enfrentar o problema. De . virtude dôsse reconhecimento, suge re nova modalidade de pagamento do juros. 0 que nos compete fazer é verificar se tal modalidade 6 zoável ou não.
tancia, parece que não se dove adotar esse critério. I\Ias que outro critério podemos então seguir? Adotar uma correção pelos índices de preço ? âlas não há índices oficiais do preços.
De um lado, vemos coragem do a outro, em ra-
Na realidade, é fácil criticar o > Art. 2.0 do difícil projeto; mas também é apresentar-lliG um substituti- '
. tntretanto, refletindo bem o assunto, talvez vo sobre possamos chegar L uma conclusão sntisfatóri Procuremos sabor da apólice.
a la. qual o objetivo '
Em outras palavras: por que há compradores de apólices?
com
e nem De 1930
^ 0 primeiro aspecto, algo estranho, é relacionar-se a dívida interna 0 mercado de câmbio. As oscilações cambiais são muito bruscas sempre refletem bem a depreciação interna do valor da moeda, a 1935, por exemplo, o valor inter no do cruzeiro subia enquanto mui- ’ to se depreciava seu valor externa mente. E 0 que sucedeu nesse perío do pode suceder outra vez no futu ro. Nessa hipótese, o portador de tí tulos recebería juros excessivamente elevados. Se o valor da moeda está aubindo e êle recebeu juros como se a moeda estivesse se depreciando, no mínimo ganhará o dôbro do que ' de fato se pretende pa gar.

Além disso, na pró pria conjuntura atual a taxa de câmbio reflete je maneira exagerada a depreciação interna da moeda.
Precisamonte para efeito de tabilidado ? ren-
.
Em parte, sim, Ê cia- > ro que, quem compra um título, con- ■ i ta com a renda do título. Mas não é i apenas para isso. vo da
O grande objeticompra de apólices não pode ser aplicado com risco. Elns têm procurar a rentabilidade acima da rentabilidad, da reserva.
que . mas, talvez e a segurança A liquidez absoluta é > incompatível com o jur^, principal- ' mon*e com juros razoáveis, snlv , o em nosso país, em que os depósitos à , vista podem proporcionar os juros de Mas, nu
ma economia razoável, ; num período normal, liquidez absoluta é de fato
de. . Há os menos o.s ;
4, 6 e 67o. a pouco compatí- .. vel com a rentab^ida- , autores que procuram distin.iruir títulos, pelo
; títulos públicos, do diI nheiro, exatamente por ^ este motivo. O dinheiro é 0 que há de mais líquido, é a reserva mais líquida possível. ’'S Não causa nenhum
n sua
embaraço
Não creio que, inter namente, apesar de to los os pesares, o cruzei ro esteja valendo 60 ou 70 cruzeiros por dólar. Diante dessa ciicunstransai
título já ferência, ao passo que o ' acarreta alguma dificuldade, o que exige uma renda, crua de traduzir o que alguns^ auto res sustentam. Embora suscetível de crítica, no fundo a idéia exprime qualde acertado.

Esta a maneira quer coisa
Analise-se o caso das
companhias
préstirao com a garantia de que o juro vai ser pago na base do titulo depreciado. Então quem o adquire sabe que vai receber 12% e, nesse ao vendedor
caso, em lugar de pagar
Cr.$ 500, pagará a soma do valor uns nominal do título.
Se o governo, em lugar de recorrer à taxa de câmbio, adotar o siste ma em virtude do qual o juro seja pago em consonância com a deprecia do título em determinado períoBôlsa de Valores, penso que çao do, na
Elas não procuram aperendimento de suas reservas. de seguro, nas o Precisam naturalmente de rendimen to. Mas precisam também de uma de certa maneira líquida. No reserva ^ . terá assegurado, ate certo PO^to, o que se pretende com o art. 2. cita do, sem o inconveniente de ligar-se o financiamento interno a sorte do crumercado exterior. E preci-
caso de haver acidente superior ao previsto, imediatamente a companhia recorre a suas reservas, vende apóli ces e, com essa venda, consegue fa zer face ao imprevisto. zeiro no -
Os bancos também precisam de re- so, é bern ver a e, pa - regime servas secundárias para fazer face suposto da eliminaça a prejuízo de determinados emprés- inflacionário sis em ico. timos que realizam. As instituições Existe outra disposição no artigo de previdência, as caixas econômicas, 2.° que traz novamente a ai a o Pro blema da cláusula-ouro. Se a clausula foi rejeitada em 1930, acredito tenha sido com algum exagêro.
enfim, todas as entidades dêsse gê nero precisam de reseinras, que devem ser completamente líquidas e que re que opresentam o meio termo entre o in vestimento comum de ações e o di' nheiro deixado em caixa.
A apólice é exatamente o meio termo, porque corresponde a um semi-investimento. Ora, se a apólice começa a se depreciar no mercado inicia-se com o valor de mil cruzei ros e depois passa para 900, 800 e 700 cruzeiros — perde completamen-
te o caráter de reserva ou preserva ção de capital, que deve ter.
, Entretanto, algo de proveitoso deve mos conservar da abolição da cláusu la-ouro. Aqui, da maneira por que o projeto está redigido, volta-se intecláusula. Quer di- gralmente a essa
Se estou certo nesta ordem de con siderações, talvez devesse o governo Congresso que o autorizas- sugenr ao
L se a pagar juros capazes de manter a estabilidade do valor nominal do título. Vamos admitir que a base de Lança-se o em- fôsse de 5%.
comprasse hoje um títu- zer: quem lo ficaria para sempre garantido por uma taxa de conversão de 18,75 cru zeiros, ainda que no futuro o govêmo taxa cambial. modificasse a Isso, em linhas gerais, em relação h estabilidade do valor do_ título. Vejamos agora a questão da con versão dos títulos especiais. O pro jeto diz no artigo 3.°, que os títu los atuais serão substituídos por seu valor corrente, bora uma lei dessa natureza, preten de-se naturalmente inspirar cbnfian »
Ora, quando se ela-
DicESTO Econômico 44
.luroE r
anos e êsse título se desvaloriza. Em lugar de valer mil c*ruzeiros, i)assa a quinhentos ou quatrocentos. Vem 0 governo e propõe substituir êsse título por outro, tão, um titulo de 100 cruzeiros, Oferece, onmas Aqui o mesmo acontece, se partir da estaca se restabelecer o zero. crédito pú
surto inflacionário. Peneou-se, então, num empréstimo com depreciação garantia con¬ tra a monctiiria. Sc depreciação monetáiú-.._ia, ocorresse a ' o subscritor estaria assegurado con tra a queda do valor da moeda, nao houvesse não havoria, também, necessidade de utilizav-se a cláusu la de garantia.
ProcuraPretendtíPaao subscon-
blico, naturalmente por outro do valor de 40, quer dizer, do menos da meta de dêsse titulo de lUO. K uma troca rn isso, é preciso oferecer critor do titulo uma garantia voluntária, mus de qualquer maneira reconhece-se como definitiva a de preciação sofrida pela apólice. Ora. se 0 govêiDO assim procedo não parece muito honesto numa versão — não poderá o titular da apólice duvidar do Governo V tendo que, quando se pretendo fazer a conversão, se se deseja inspirar confiança, o pagamento deve ser pe lo valor nominal e não pelo valor atual
do título.
o que conEn-

Acho com garantia contra a
tra a depreciação monetária. Quando houver subscrição, o simples fato da realização dessa subscrição de títu los já será o caminho, o passo deci sivo para combater a inflação, que êsse é que é o ponto de partida. Aliás, são dois pontos de partida: acabar-se com a inflaçao e oferecerse um título depreciação monetária.
Penso quo o projeto da lei, objetivos, é excelente. em seus No Brasil, ° crédi to pubhco se nao oferecermos títu los públicos capazes de enfrentar depreciação monetária, ver mais depreciação monetária, tan to melhor:
não poderemos restabelecer a Se não hou-
serao pagos os juros bá
Se houver depreciação sicos. tária, será preciso o reajustamènto, desde que, bem entendido, se trate de inflação moderada e transitória. Num regime de inflação sistemática há crédito público.
mononão CO-
Existem subscritores de títulos da dívida pública por força das circuns tâncias. Êsses subscritores são aque les que não querem deixar o dinheiro em completa liquidez, que, no. regi me comum, podemos considei-ar mo não proporcionando juros.
Temos que reconhecer a realidade do-s fatos. O Governo de um país da América Latina procurou acabar con: a inflação e durante dois anos ficou-se mais depressão do fiação. Terminado êsse período, achou 0 Governo que já podia lançar mão da venda de títulos. Èles deve ríam ser subscritos, uma vez que não havia mais depreciação monetária. Não conseguiu colocá-los; não en controu subscritores. Por que? Res ponderam muito razoavelmente os subscritores, mediante consulta pré via: de fato, há dois anos não há in flação; mas, também, há 20 anos que existia inflação no país. Quem sa be BC, no fim do período de dois anos, pode 0 Governo ser levado a novo -
Dtcesto Econômico 46
ça. É de acreditar-se que quem subs creve 0 título do governo da União, do Estado ou do Município, o façu pelo valor nominal ou nas proximi dades do valor nominal. Correm os Se
verique m-
a
dessa hierarquia, parte dos dentro preendimentos poderá ser finan ciada pelos impostos e a outra par te por meio de empréstimos. Como? Pelo menos fazendo com que os tí tulos oferecidos aos tomadores manvalor nominal através de
em tenham o
uma taxa de juro.s que garanta esse valor nominal.
O prof. Eugênio razão em dizer que

tária.
í
I
K
êsse
custeio das despesas cor-
librado. no quG nao concerne ao rentes.
mente no
Corrigido o setor dos investimentos, estabelecida a hierarquia das obras mesmo tempo, proo Govêrno não pode paralisar com pletamente os investimentos, humanamente impossível, aconselhar o Govêrno a ser comedi do nos investimentos, a estabelecer êles certa hierarquia, porque
Giidin tem tôda a solução resolproblema da depreciação moneNão o resolverá no caso da ve o I porque os subscritores particulares , contribuem com parcela diminuta paij ra a aquisição dos títulos da dívida pública. Essas entidades precisam de renda e de resei’vas. É claro que a renda lhes interessa mas também a reserva de que possam dispor. A elas interessa esse semi-investimen to, porque, de quando em quando, precisam lançar mão das reservas para fazer face ao imprevisto. Des sa maneira, se o Governo resolve combater a inflação usando, entre outras, a anna do crédito público, poderá alcançar resultado satisfató rio, porque agora não se encontra em situação de combatê-la inteiramen te, desde que não dispõe de mercado de crédito público, que representa par cela importantíssima nos orçamentos e nos investimentos. No momento públicas e, ao curando-se obter recursos por meio Seria do crédito público matéria de con’eção da inflação economia brasileira. Creio sin ceramente que poderemos viver o progredir sem a inflaçao.
sou otimista Devemos em na para
Digesto EcoNÓ>nco 46
Creio que devemos adotar virtude o redo çime bancário em qual os depósitos à vista não paEm conseqüência, ad- ^ íçuem juros, mitir-se-ia o semi-investimento, que corresponde o título da dívida pública. As companhias de seguro, instituições de previdência e caixas econômicas, são as gi’andes subscri toras de títulos em tôda a parte do mundo, inclusive nos Estados Unidos, :t
depreciação violenta, como a que es tamos presenciando. Entretanto, se o Governo organizar um programa razoável de combate à inflação e ape lar para o crédito público, oferecen do seus títulos às entidade.s que têm interêsse em manter reservas (aciediobter, anualmente, de
to que possa dois a três bilhões de cruzeiros por processo) iremos gradativamente entrando pelo caminho de üm sis tema monetário perfeitamente equiOs orçamentos brasileiros estão desequilibrados
t'
í\
O desequilíbrio reside exatasetor dos investimentos.
Ssots Catarina e 0 comércio brasileiro
(Prc.siclcnttí da
BnA.sii.u) Machado N’i-rro Confí.dcravrio Xiuional do CoimVcio)
Coü muito grato a esta afetuot acolhida, que me dispensam homens de empiêsa,. e de modo pecial os meus amigos do de Santa Catarina.
s o e comérc
Estimula-nos encontrá-los assim, unidos em torno do suas entidades, nelas concentrando anseios e preo cupações, não apenas no tocante à sua classe e ao seu Estado, mas em relação à grande pátria comum.
que aceitamos por imperativo de nos- ^ i^o espirito público e pola vocaçuo de \ servir desinteressadamente ao bem )
io
u s sçonium, constituem alento e estímulo indispensáveis, os testemunhos de so- j lidarlodade e provas de estima, co-^ ^ mo os que tuo gencrosamente hojo nos dispensam os companheiros de lutas do glorioso Estado de Santa Ca- *' tarina, entre os quais posso assina

coesão em momento ingrato como êste, quando a gravidade dos proble mas econômicos, sociais e políticos, de um lado, e a ação da demagogia divísionista, de outro, fazem recair sobre nossas cabeças o peso das sus peitas infamantes e acusações injus tas de responsáveis pelas dificulda des que hoje amarguram o povo bra sileiro.
Instantes de emoção afetiva, como 0 que ora nos proporcionais, consti tuem verdadeiros oásis ao longo de nossa jornada como Presidente da Confederação Nacional do Comércio.
kL
conmoNo exercício dessas funções, u
lar
expoentes como Aderbal Ramos : 'J Severo Simões, Haroldo Glavin, Au- ● gusto de Faria, Ademar Gonzaga en tre outros, que têm à sua frente Char les Edgar Moritz, essa figiu^a de ba- i de amigo leal I í
e dedicado. in
talhador cansável,
Não precisaria traçar-vos aqui o J elogio do comerciante brasileiro, pois soaria falso como o autolouvor. Va lería acentuar, entretanto, uma ca racterística, que e verdadeira, e con traria muita impressão errônea que A por aí anda confundido raciocínios e ^ alimentando falsos juízos:
Nossa profissão não é dourada pe- S Ias galas da opulência. Longe disso « refletindo a pobreza do * meio em que j
opera, é tristemente pobre o comércio brasileiro. Alguns empreendimentos * de vulto são visíveis nos grandes tros; a grande cen-^ massa, porém, está espalhada nos agentes de peneti*ação í do interior, plantada
poeiradas de vilas anônimas, ou ins- '●* talada à beira dos caminhos, traba-Í lhando sem alarde pela manutenção 1 da solidariedade e do contacto entre j 03 brasileiros. Figura simbólica,
em ruas emque
>rr: ●*' .'V '
«0
Conforta-nos a certeza de vossa
Não são freqüentes estes ensejos de convivência despreocupada para a troca de impressões sobre problemas os mais diversos. No mais das ve zes 0 que nos toca, no desempenho do honroso mandato com que a con fiança do comércio nos distinguiu, é ser porta-vozes de suas queixas e arautos de sua defesa, quando não pára-raios de cóleras injustas » tra êle desencadeadas a todo k mento,
'
se repete há gerações, a dêsses ne gociantes que começam pobres, e em k. geral acabam tão pobres como no f início. Modestos agentes do progrestôi-no dêsses Ç so, quantas vêzes em
! marginais da vida urbana e da labunúcleos de f ta rural se formam os
I atração e de convivência através dos 'quais se introduzem os hábitos civilizados, os costumes do século e se estabelece o jogo das trocas no recei bimento dos produtos essenciais e 1 na entrega dos artigos da terra. Êles eompartilham a realidade da pobre za brasileira, o baixo padrão de vida ‘ do povo lutando para conseguir sa' tisfazer necessidades elementai’es. ‘ Êles vivem o drama do morador do I interior, sempre isolado, com freqüênj cia sofrendo doenças, quando não subJ nutrido, e no geral insuficientemen te educado.

Êsse labor obscuro, tão nosso col; nhecido, vem de longa data, e se insr creve nas raízes da foi^mação social do Brasil. Êle explica por que a profissão mercantil, ao lado das ati vidades manuais e mecânicas, foi r
sempre encarada com desdém pela sociedade latifundiária e escravocra ta do Império. 0 comércio era o re-
^ , >
iúgio dos fracassados ou dos incapa- *1 filhos das fauiílias abastadas j
zes; 05
encaminhavam para as carreiras liberais, para o clero, para a buro cracia, formando a elite dirigente, humanista e aristocrática, que pre dominou até bem pouco.
Apenas nas primeiras décadas dêste século o panorama começou a nioOs contactos mais fáceis
se dificar-se.
e freqüentes com o resto do mundo, exemplos das nações mai.s adiannotadamente os Estados os tadas Unidos — o crescimento demográfiritmo acelerado do progresso. co e o determinaram a ascensão de um gi*udiferente de homens dinâmicos, inteligentes e práticos, que tomou em suas mãos a tarefa de criar, atra vés da livre iniciativa, a base eco nômica em que hoje se apóia a estru tura social e a política do país.
O que construíram terá talvez fi cado aquém dos seus sonhos de bons brasileiros, com' entusiasmo, dentro dos limites estreitos do meio, sem ajuda, comba tido pela incompreensão, pela ign^orância, quando não pela má-fé.
po Mas foi levado a termo ram sorventes, mo bilizando - lhes tõdas as ener-
gias e obrigando-os a escravizadora concen. tração. Suas entidades
5 5TÍT:
●
m
Digbsto Econômi
1
As realizações era que se empenhaeram de fato gigantescas e abV !: [
"jl classe se apliIji cavam, via do regra, a defender-lhes os in teresses na est/ ...
d e
administrativa, e à vida polídavam medíocre atenção.
O ambiente, na verdade, convidaa essa atitude despreocupada. Até as diferenças idcolópricas ainda se haviam configurado de niaclara entre nós, c pola falta de P^*Í.idos políticos rcalmente organi^dos e de âmbito nacional, as idéias campo econômico e social não ofegrandes contradições, inspi*^tido-se largamente no espírito lientão em pleno fastígio. As
i no terreno econômico, como no social, Socorriam na maior parte da boa
‘'^ontade mal orientada. Mas eram i danosos às classes sôbre cujos I <jmbros recaíam diretamente, quan! to ao país tomado em conjunto. E ' procuraram canalizar a experiência, 08 conhecimentos práticos e a clara visão dos problemas dos homens do comércio, da indiistria e da agrope cuária para as atividades legislativas, no intuito de colaborar para o bem do país através de leis melhor orienta das.
Houve um começo de ação, empre endida em 1933 pelo Partido Econo mista, obra de dois homens de ideal
I (V Oliveira.
Serafim Valandro e João Daudt
08 homens de emprésa àquela época chamados a colaborar nas ta refas legislativas demonstravam espreparados para bem desempe nhar suas responsabilidades, cionandn
os nomes
que tar Menaponas os desaparecidos, basta lembrar, dentre êlos, de Uoberto Simonsen o de Gastão Vidigal. para assinalar duas autên ticas figuras de lideres, que soube ram ser também grandes parlamen tares.
Durante o hiato ocorrido vida democrática e nos anos subse quentes, procuraram as classes
em nossa pro dutoras fazer ouvir a voz de suas rei vindicações e seus pareceres em face dos problemas nacionais, dades representativas se transforma ram, equipararam-se tecnicamente, promoveram grandes reuniões de âm bito nacional, em corajosos movimen tos coletivos de envergadura para tudo e debate de temas econômicos e sociais, formando o único no país’ em que erà possível sentar opiniões não dirigidas.
Vale citar, entre tais empreendi mentos, o Congresso Brasileiro de Economia, as conferências de Teresópolis e de Araxá. Os memoráveis documentos resultantes dêsses
Suas entiesU forum aprecon-
Mais adiante HCB.
a Constituição de 1934 admitiu a representação de clasE em que pesem as críticas que

claves, bem como a Carta de Paz So- '" ciai, definem com eloqüência o teor da mentalidade já amadurecida dos homens de empresa brasileiros nes- ^ ta metade do século. As indicações nêles contidas, animadas de superior espírito público, impessoais, e de pu ro bom senso, teriara, se aceitas, evi-
tado ao Brasil a situação calamito sa que hoje atravessa. Na grande maioria, entretanto, seu destino me lancólico foi o do arquivo ou o da do ponto de vista democrático po dem ser feitas ao sistema, o fato é
49
transformações operadas
e
Guerra veio acelerar, Por fim 03 homens de empresa
^ sentido público de sua atividade. Êles começai-am a perceber que cometidos pelos governos mundo, e (luo a Segunda despertaram 08 erros
no ^í^sil
no
para
I
I biblioteca de diferentes palácios pre sidenciais, ministeriais e legislativos.

’i Ora, a conjuntura mundial e nacioí. nal continua a impor transformações vida social e política, e não é pos sível que os elementos que contri buem de maneira preponderante paformação da riqueza nacional, resignem a continuar como es pectadores ante os que decidem dos seus destinos, reduzidos a enviar me moriais ou i-epresentações a que qua se ninguém dá atenção.
incorporado à letra de gramas partidários, mas efetí' to adotado nos textos das f de go. sem a inspirar as diretrizes
k
na ra a se
à
Êles sentem que não podem conti nuar ausentes dos órgãos deliberantes, quando os líderes de outras cor rentes de opinião ali se encontram.
É imperativo que diante de outras forças, conscientes e agi*essivas, os homens do comércio, da indústria e da agropecuária, por todas as razões que decorrem de sua posição no ce nário econômico e social do país, lu tem em favor da presença de ele mentos saídos de seu meio, nos cor pos legislativos, tanto da esfera fe deral, como dos Estados e municí pios.
Neste sentido está se realizando por todo o país extenso trabalho e ' muitos candidatos às próximas elei ções deverão sair de nosso meio.
vêmo. curso tèiu todo A êsse movimento em os homens do comércio eiu Brasil prestado decidido sentem que lhes está i-esex^vado de relevo nos acontecimentos a Não como delegados de ^ privilegiada, de aproveitadores siba. ritas, e exploradores da miséria do povo. Mas como homens dignos brasileiros de todos os quadrantos^ problemas da
familiarizados com os . terra e da gente, e com êles identifi, cados pela convivência cotidiana.
Os acontecimentos em marcha podem fortalecer essa decisão, nos levará a participar de modo niai^ direto na vida política- Estamos as» sistindo impotentes sucederem-se me. didas que, com a pretensão de ateu. der a objetivos sociais e de contri buir para reprimir os abusos do der econômico, estão na realidade opç.. rando além de toda a medida a pro, dução nacional, tomando-a cada vo^ mais cara e difícil. E as providên. cias que levam ao crescente intervep. cionismo do Estado — umas já con cretizadas em leis, outras em ges tação legislativa — parecem tender abolir de todo a livre iniciativa, transferindo para o governo todos encargos da produção, transporte e comércio.
os cs-
/
DíCEnro
1
V)
Fiéis ao espírito da livre empresa e à vocação democrática, que sempre orientaram nossas atividades, não po. deríamos continuar a assistir impas síveis ao desenrolar dessa trama, em que mais do que nossos destinos t. <9
O comércio como'classe, e suas en tidades são apartidárias e apolíticas. Seus componentes, entretanto, como cidadãos, portadores de pensamento comum, de alto sentido prático e pa"triótico, definido nas cartas econô micas de Teresópolis e de Araxá e na Caii^ de Paz Social, têm o di reito, que ninguém de boa-fé lhes neu gará, de colaborar sem intuitos su", baltemos, para que o espírito da queles documentos seja não apenas f
tó em jogo 0 futuro das liberdades 00 Brasil.
convoca-
A consompre cona caos sa¬
Ob homens de empresa dc Santa ! Catarina também se acham ' dos a trazer seu concurso, como ci dadãos e homen.s de partido, tríbuiçâo de sua experiência, presente em todos os movimentos letivos com que temos procurado ser vir ao Brasil, não pode faltar ?rande oportunidade que nos aguar da, não para o exercício cgoístico ' OQ hedonista de mandatos, mas para I 0 ingrato desempenho do apostolado püblico em favor de nossos princí pios. É mais um desafio à nossa pacidade de servir, a que não nos fur taremos, quaisquer quo sejam I CTifícios a enfrentar.
projetos do desenvolvimento portuá rio em Laguna, Imbituba, Florianó polis c São Francisco; o fornecimento cia energia elétrica em grande esca la; as realização pioneiras da atividaob industrial; sa experiência colonizadora; os deve res que vos advêm do fato de des Estado do fronteira, a ooste, c base naval avançada, ao sul; a premência do vosso aparelhamento eco nômico em face dos Brasil.
vossa as lições da yosserinterêsses do Havoria muito a dizer cada um desses capítulos, para exal tar vossos feitos
em ou para comungar com vossas esperanças e apreensões.
Não podemos resistir. porém, ao impulso de transmitir-vos as preo cupações que dominam no instante atual vossos irmãos de atividade vesto do Brasil. no Conhecemos vossa
Relevai quo vos haja levado pelo caminho áspero destas considerações, quando outro devera ser, talvez, o tema deste encontro, em correspon dência com a festiva e generosa aco lhida a nós dispensada.
Possivelmente estaríamos mais de acordo com esta circunstância debruçássemos sobre as cheias de valor do vosso passado, em que a conquista da terra e o domí nio da natureza foi epopéia escrita não apenas com a espada mas com 0 labor dos homens de'empresa que vos antecederam.
Quiçá coubessem melhor em noslas palavras o estudo da vossa geoeconomia; os problemas de produção e transporte; o futuro da vossa in dústria madeireira e do mate; o des tino da exploração carbonífera; promessas da siderurgia do ferro;
se nos páginas as os

receptividade cívica, e sabemos que extensão podeis o estais decidi dos a colaborar para que, em hori zontes mais amplos do que os da en tidades de classe, ajudemos a resol ver de maneira mais acertada do até agora, problemas que não apenas de um grupo, de uma classe ou de um Estado, mas de todo o país.
em que são por vossa E sobretudo por
Nós vos agi*adecemos atenção generosa, esta soberba hospitalidade, que tem tanto o vosso coração.
Foi, para meus companheiros e pa ra mim, conforto e estímulo retomar ainda uma vez o convívio de Sta. Ca tarina e de seus homens de empresa. Neste Estado, de tantas certezas pre sentes e de tantas promessas futuras, servido pelo labor de homens de vos sa têmpera, renova-se com razão nos so entusiasmo e nossa confiança nos destinos da pátria
DtcESTo EcoNó^^co 51
5}: Hc
ll-»
Aglos cambiais e preços de esportaçM
A ACAR — crédito e assistência rural

/osÉ Testa
(Da Superintendência df) Café)
PROBLEMAS QUE SE INTERPENETRARAM
Na presente situação econômica e financeira do país há tantas contra dições e incongi'uências que difícil se torna um julgamento perfeito do qualquer assunto. É que não basta apenas o conhecimento dos proble mas, para julgá-los. Cumpre, tam bém, saber a que ponto êles se interpenetram e até onde pode um fator influir sôbre outro, aparente mente dissociado. Tudo isso requer muita serenidade e equilíbrio de jul gamento.
Evidentemente, é da própria es sência do conhecimento humano, e da sua mobilidade, essa divergência de opiniões sôbre qualquer assunto, o que depende não apenas do ângulo em que se coloca o observador como de sua capacidade de apreciação, de sua cultura, de sua isenção. E, espe cialmente no que respeita ao Brasil, país novo, onde numerosíssimos fa tores, até mesmo inesperados, atuam sôbre cada problema, difícil se tor na às vezes destrinçar uma questão e apreciá-la com segurança. Quase se pode dizer que cada assunto, entre nós, pode ter um duplo ou um múlti plo critério de julgamento.
Há, todavia, pelo menos com rela ção a certos problemas, linhas mes tras, sôbre as quais dificilmente pode haver divergência.
PREÇOS DO MERCADO INTERNO
Por que sobem, poi- exemplo, os de nossas utilidades, no merA pergunta compor ta tantas respostas que quase se poderia dizer que cabe uma, diferente, ' cada estudioso — economista, soció logo ou político.
preços cado interno? a 1 i que a causa í se ra cousa.
Pode-se afirmar — dizem alguns principal é a inflação: houvesse menos dinheiro fácil, paser esbanjado em especulações, o total da produção do país deveria ser trocado por menor quantidade de moe da, donde um menor preço para cada Se houvesse suficiente produ-
não subiríam. Res-
sa o * * *
y
'J
ção, esta absoi*verÍa a massa monetáría, e os preços pondem outros que o problema nào é assim tão simples: o Brasil est« crescimento, afirmam, e nào po de ter, estático, o sèu meio circulan te; se êste fôsse menor, menores se riam as inversões também na agricul tura e nos transportes; os juros do dinheiro eresceriam; donde menor produção e preços ainda mais altos. em ,1;
Não é a inflação a principal caudos altos preços, dizem outros; nem a falta de produção. Esta exis te, e tanto assim que tem ficado amontoada nos 1 desvios ferroviários, nas estações, apodrecendo, em Goiás, no Triângulo Mineiro, no Norte do Paraná; 0 que falta são os trans portes. Pouco adiantaria, retrucam alguns, que houvesse mais transpor
tes: 0 problema é de intermediários, de locupletação indébita, de falta do caráter dos que querem çanhar mi lhões à custa da miséria do povo; nâo interessa a quantidade de mercadoria disponível, pois chegam êsses comer ciantes desonestos a destruí-la em parte, com o objetivo de elevar os preços do restante.
Kâo temos governo, dizem estes. 0 problema nâo é somente de esfe ra administrativa, respondem aque les: cumpi*e aos próprios particula res organizarem-se e produzir com eficiência, livres da tutela governa mental, como em tantos países acon tece.
Palta-nos 6 financiamento, dizem alguns: com dinheiro a juros de 2 e 3% mensais, ao invés de anuais, como acontece em outras nações, co mo é possível produzir barato ?
Vemos, pois, como um único assun to pode ocasionar tantas e tão diver sas opiniões. Acreditamos que a resposta não de ve ser simplista. Cada uma daquelas afirmações encerra parte dela, e par-
te também de erros. Num dado seaer en- lor, o problema pode e deve carado de certo modo; noutro, deve rá sô-lo de modo diferente. Aí é que se fazem necessários o conhecimento do assunto e o equilíbrio de julgamen¬ to. :i;
OS PREÇOS no CAFÉ
Abstraindo-nos de tantos outros, que muito interessante seria nar, vemos, ainda agora, dois proble mas capitais encarados de formas diversas e às vêxes antagônicas pe las fôrças vivas do país. Um dêles é o dos preços do café. dos ágios cambiais, dade dos produtores, uma boa per centagem dos comerciantes, e a ad ministração pública julgam preços, no momento, nada têm de
cxamiOutro, o Quase a totalique os
E onde a verdade ? exagerados, representando tão mente uma devida retribuição e, mais ainda, um ajustamento à lei da ofer ta e procura, em virtude das
sògrandes geadas de 5 e 6 de julho do ano passado que reduziam, substancialmen te, a produção brasileira. Representariam ainda, os preços atiiais, de acordo com esse ponto de vista, uma compensação pelos muitos anos em que o pro duto foi vendido a preços inadequados, que nem mes mo chegavam, às vezes, a compensar as despesas de produção.
Há outras V0269, porém, que discordam, julgando

’ -l-J Dicesto Econômico 63
'.■i
estarmos vitalizando a concorrência e sucedâneos, desestimulando o con sumo e preparando, no futuro, nova ^ superprodução invendável. r Ambas as correntes têm razão, a É absolutamente certo atuais preços, devidos prin-

os nosso ver. que os
refazer estoques, os quais, num vo lume previsto, nunca foram conside rados pêso no mercado, podendo até servir aos próprios interesses dos consumidores”. Esta declaração, de um homem prudente e experimentado, é bem prudente. Mas, chega a preo cupar a simples hipótese de se rei niciar a formação de estoques, pois, se os do passado se tornaram um sélúo encargo, os do futuro mais ain da o poderão ser. Há, agora, mais numerosos e importantes produtores de café. E há mais atividade organi zada dos consumidores, em torno de
cipalmente à queda de produção oca sionada pelas geadas, representam \ apenas uma compensação pelos lonI gos períodos de preços baixos, a que tivemos de fazer face no passado, pre ços êstes impostos artificialmente, por especulações e principalmente pe●1 lo “ceiling” americano. Defenden do 0 café, nossas entidades admi nistrativas, como 0 Ministério da Fazenda e com êle o Banco do Brasil queda
1 e o Instituto Brasileiro do Café, de' fendem não apenas nosso principal .restrições e sucedâneos. Notícias reproduto de exportação, base de nos- centes aludem, por exemplo, a uma ( sa economia, mas, principalmente, — diminuição de 16% no consumo e isso é que importa acentuar — ba- Estados Unidos, no primeiro Irimesse de nossas importações. E julgam tre deste ano, em comparação elas que nem mesmo se justificaria, idêntico período do ano anterior, ao situação como a atual, de ma- passo que subia em 25% o consumo do chá. Ao mesmo tempo, verificase também na Alemanha uma no consumo, e pela mesma razão; a alta dos preços.
QOS com numa nifesto equilíbrio estatístico, e mesmo de falta de adequado suprimen to do mercado, uma surda campanha ' contra o consumo e contra os pre-
● ços do nosso café.
' Cabe notar, todavia, que tudo isso entende com o momento presente. Relativamente ao futuro, dá realmente
:i: Hí
COMO PRODUZIR EM BASES COMPETITIVAS
^ que pensar o estímulo à concorrência fazemos e a incapacidade que teremos para concorrer nos mercados ' internacionais, com os nossos preços
I inflacionados e nossa própria produf ção igualmente inflacionada, graças , exatamente a essa constante (e ner ' cessária) proteção aos preços.
Acreditamos que há uma solução racional para a controvérsia e a mesma essência do problema; deremos produzir, transportar
se que E derada pelo sr.
1 chega a preocupar a hipótese consiDlederichsen, atual
der em tais condições que ninguém possa competir conosco, pois é o Bra sil o país que melhores condições reu ne para tanto. B tudo isso manter-s
paru poe veniLfe.
Dicesto Econômico 54
'*■
presidente do Instituto Brasileiro do Café, em seu discurso de posse, quan do admite que, lá para julho de 1955, “deveremos provavelmente cuidar de
E não se-
do para o produtor os mesmos lucros atuais. Basta, para consegrui-lo, que ●eja o café produzido, beneficiado, transportado e comercializado em con dições favoráveis. Se uma saca de café c vendida, digamos, a Cr.$ 2.500,00, tendo sido produzida ao custo de Cr.$ 2.000,00 e deixando conseqüentemente um lucro líquido de SCO cruzeiros, não seria possível pro duzi-la, suponhamos, por Cr.$ 1.500.00 e vendê-la por 2.000,00 ? ria igual o lucro, nesse caso (exce tuadas naturalmente as taxaçòes e in cidências ad-valorem)? Dir-se-á que ee trata de uma utopia, pois qualquer lavrador desejaria produzir por me nor preço, e se não o faz é porque nas atuais condições de dinheiro ca ro, braço oneroso e difícil, falta de adubos, e de tran.sportes, impostos pesados, etc., difícil se torna conse guir aquêle objetivo. Cumpre per segui-lo, todavia. Diremos mais; im porta consegui-lo, a qualquer custo. Uma campanha tenaz, bem orienta da, patriótica, deve ser realizada nes se sentido, abrangendo todos os as pectos do problema, da base ao ápice. Enumeremos, “^osso modo”, o que seria necessário: Em primeiro lugar, financiamento a juros baixos e longo prazo. Nas atuais condições do mer cado de dinheiro no Brasil, um enun ciado dessa ordem parece romântico. Mas, não o parecerá tanto se cuidar mos, nossa
de fato, da complementação de rêde bancária, organizando, na Aliás, o
prática, aquilo que há tanto está cria do teòricamente: o Banco Central e Banco Rural e Hipotecário, neste item, poderá ser inestimável uma adequada aplicação dos ágios cambiais, assunto sÔbre que falaremos
mais adiante, rência especial à produção, imprescindível necessidade da ado ção generalizada do modernas e ra cionais práticas agrícolas, ve ser tentado com èsso objetivo; desde a escolha das torras mais ado(luadas (quanto ã fei'tilidude, à cli matologia, etc.); da melhor semen te (quanto ã produtividade, u rusticidado, à qualidade do produto); do uso, tanto quanto possível da canização; da adubação (orgânica e mineral); da calagem; dn irrigação; da defesa dò solo. Vêm,

A seguir, e cora refevem a Tudo dcmea seguir, os processos de secagem o bcneficiamento, muito importantes para a con secução de um produto de alta qua lidade. A seguir, um item do mais alto valor quanto ao barateamento da produção: o transporte. Muito es tá sendo feito nesse sentido, quanto a ferrovias,rodovias e portos, tanto pelo governo federal quanto pelos es taduais. Muito mais há n fazer, rém. São incríveis as condições rei nantes em certas estradas de feiro e há poucos dias tomamos conhecimen to, estarrecidos, de que, em trechos da E. F. Pavaná-Santa Ca tarina ficam os vagões de carga, mui tas vezes, parados por períodos até de 45 dias, à espera de lenha, tendo um despacho de arroz levado 75 dias do Rio Grande a São Paulo, e havendo despachos de 4 anos (!) atender, em ordem cronológica!.. . É incrível, também, que cargas pesa das sejam transportadas de Porto Alegre a S. Paulo e desta cidade a Recife, por caminhão! São milhares de quilômetros por estradas de ter ra e com gasolina estrangeira. Vem, a seguir, o item relativo a
pocertos a
Economic . ■ 5f>
uma rêde de armazéns e silos, onde a mercadoria, acumulada nos perío dos de safra, possa ser guardada, de vidamente protegida e financiada, ao invés de apodrecer nos desvios e nos pátios das estações, como tanto tem acontecido e como está acontecen do, no presente.
Ainda quanto ao transporte, por que não equiparmos devidamente o Lóide Brasileiro, a fim de que possa ser transportada em seus navios pelo menos uma parte mais substancial de nossas exportações?
Quanto dinhei ro poderia ficar no Brasil e, principalmente, quantas valiosas divisas es trangeiras poderíam ser poupadas, visto que do café, por exemplo, nem I 16% são transportados em navios nacionais?
RACIONALIZAÇAO, NA CIDADE E NO CAMPO

» O
sua
necessidades. 0 que acontece é que produção, embora inteliírente e tantas vezes dedicada, é muitas vêpouco produtiva, em face de pro cessos técnicos obsoletos, de falta de nutrição e de saúde.
zcs se nos
Para aumentar a produção indus trial urbana basta apenas melhor ra cionalização das fábricas, o que vem sendo feito de maneira mui*^© auspi ciosa, embora com relativa lentidão. 0 nível mental e físico do operário urbano é bastante satisfatório. Mas. com relação ao meio rural, não bas ta apenas metodizar a exploração afirrícola: cumpre, inicial e preclpuamente, elevar o padrão hipriênico e cultural do homem do campo. Isso não se fará apenas com leis ou de cretos. E muito menos com uma sim ples elevação de salários. O que torna indispensável é uma política prática, metódica, persis*^ente, moldes, por exemplo, do que vem fa zendo a ACAR, maprnífica organiza ção que merece comentários mais de morados e esclarecedores.
*
E que dizer dos ágios cambiais?
Trata-se de problema que, a rigor, não deveria existir, seria que os próprios exportadores obtivessem, diretamente, suas van tagens de preço, sem que tivessem do conseguir, posteriormente, devolução de parte daquilo que lhes fôsse tirado. Um câmbio livre seria, evidentemen te, o ideal, como ideal seria, pre, a ausência de quaisquer conti6-
Mais racional sem-
'
Dicesto Económ 56
1 ? I[ *
*
Se todos êsses itens fôssem devida mente atendidos, nossa produção sc, ria, incontestàvelmente mais barata, / mesmo com a relativa inflação que existe. A esta não se pode reduzir de modo drástico. Seria impossível e contraproducente. E, mesmo uma . redução moderada não seria fácil, , num país em tremendo nível de der ^ senvolvimento, onde a cada momento não necessários novos e substanciais ’ ■ investimentos. Reduzir o custo da ' mão-de-obra seria, igualmente, im¬ possível, mesmo não falando em seu aspecto anti-social e desumano, operário, urbano ou rural, não ganha muito, no Brasil. A mais das ' vezes percebe, mesmo, abaixo de suas *
A QUESTXO DOS AGIOS CAMBIAIS
les ofíciais sôbre qualquer assunto. Mas, é possível, na atual situação cambial e monetária do Brasil, tal situação?
Segundo têm reiteradaniente afirmado as autoridades responsáveis pe la política financeira e cambial do país, não se pode ainda, no momento, chegar ao "câmbio livre”. E, segun do algumas afirmações, cabem ao ca fé maiores ônus por se tratar do úni co produto capaz de suportá-los. Não é êsse, todavia, o conceito dos Souza Dantas e Osvaldo Aranha, ten do êste último assegurado, ainda há pouco, que os ágios das licitaçõe.s cambiais de moeda recaem não sôbre a exportação, mas sôbre a importa ção. Aparentemente, assim é
sua suspensão, cabe examinar outro aspecto ainda mais importante, e mesmo mais urgente, pois se encontia em fase de pre-cxecução: referi-, mo-nos ao problema da aplicação dos agios arrecadados até deduzidas o momento, as parcelas já empregadas no pagamento de bonificações exportadores aos e na regularização das operações do câmbio.
srs. po
rém cabe notar que os importado res, posteriormente ao pagamento licenças de câmbio, transferem aque les ônus ao comprador, vendendo-lho a mercadoria em novas bases, de acordo com os novo.s custos da moe-
da.
na.s
Aliás, cabe aqui um parêntese, lativo u rercsponsabilidade da própria lavoura, c principalmente da lavou ra cafeoirn, pectos. E é dupla essa responsabili dade: primeiro porque ela não ganiza econômica i Nunca o soube fazer, é, gcralmente, imposições sócio-geográficas, divíduo autônomo, isolado, no Brasil
nesse e em outros as¬ se or ou politicamente. Sc o lavrador por natureza e por um inindependente o essa situação
tem afirmado singularmonte c seria necessário buscar-se
Um câmbio livre seria, por certo,

0 ideal, já pelas facilidades propor cionadas, já pela faculdade de competição que nos proporcionaria, prejuízo do exportador, muito ! trário. 0 único ponto a discutir ó
som ao con-
80 0 permitiríam as condições finan' ceiras do país, e isso, segundo tem sido afirmado não c, por enquanto, fixeqüívcl.
RESPONSABILIDADE DOS LÍDERES RURAIS
Enquanto se irá discutindo a legiti midade do9 ágios e a possibilidade de
ciólogos, especialmente em Oliveira Viana, a focalizaçâo do problema, que se nos apresenta a cada instante, além do fato de
se nao nos so¬ E. se não organizar
assistência desse Pe-
Digesto EcoNó^^co 57
política ou económicamente, o lavra dor brasileiro, e em especial o cafeicultor, tem por sua vez abdicado de sua própria direção e prerrogativas, ao invocar, constantemente e por to dos os motivos, a mesmo governo que, ao depois, terá que resolver, êle próprio, aqueles pro blemas que lhe foram cometidos, de-se defesa de preços, financiamen tos, intervenções no mercado, etc., e é explicável que o tão invocado gover no tome, depois, o controle de uma si tuação na qual o colocaram. Atenden do, entretanto, aos apelos dos lavra dores, criou o Instituto Brasileiro do 4: * *
Café (como havia anteriormente cria do o Departamento Nacional do Café) c deu, pràticamente, sua direção aos cafeicultores. FoL isso o contrário do que aconteceu na Colômbia, onde a poderosa Fcderación Nacional de Cafeteros resolve, diretamente, os seus problemas, inclusive financeiros e do transpox’te. E, num movimento de fora para dentro, ao contrário do daqui, empolga, ela própria, o gover no do país. '
Fechemos, entretanto, o longo paa aplic. ;’ão rêntese, o examinemos dos ágios.

A APLICAÇÃO DOS AGIOS
Diz o Ministro Aranha total dos ágios recolhidos até 12 de julho, ou sejam Cr.$
19.662.613.2.3-1,80 (até segundo a minúcia contabilística bem brasileira e bem pueril) Cr.$
que, dü os centavos,
tenham, cojno ale^ S. Ex., sido corrotamente escriturados e seja o Ban co por êlcs responsável, devendo l)restar contas, inclusive ao Tribunal respectivo, o caso, aqui, não é inteiranicnte stunelhante ao dos ban cos particulares. Êstes, responsáveis pelos clepósito.s do público, são obriíjaclos a devolvê-los quando exigidos, sem o recurso a omissões, de que não se podem valor, como o Banco do Brasil. Dir-so-á, pois, agios tiveram de ser empregados ra evitar emis.sÔes, posteriormente necessárias, então estas foram adia das pela interferência dos ágios e pois, não houve pí'òpriamente des vio. A di.scussão, neste caso, já se amplia c reveste de novos aspectos, (]ue nos desviariam de nosso princi pal objetivo neste estudo.
se os pa¬
6.807.724.593,40 foram r
eservados para aplicações em benefício direto da lavoura. Faz o Ministro expres sa menção de que o Banco do Brasil está aplicando essas disponibilidades no financiamento da lavoura e na compra de produtos agropecuários. E a isso também se referiu o sr. Fran cisco A. de Toledo Piza, há pouco nomeado diretor-executivo do CNAER.
Não é de todo ociosa, como preten de o sr. Ministro da Fazenda, a argüiçâo de que teriam sido gastos os saldos dos ágios em outras finalida des como, por exemplo, a assistência ao Tesouro com o objetivo de evitar Embora o apelo a novas emissões.
Cabe-nos.
pn-
aplientre, pro¬ dutos agrícolas) e legítima e, niais que isso, indispensável, todavia, notar que só isso não bns- I ta e, principalmente, que só isso resolve o problema de base, que é o de produzir mais barato, em condidições competitivas, e sem sacrifí cio do lavrador, mas, ao contrário, com sua vantagem. Por outras lavras, trata-se de produzir em con dições economicamente mais sadias, mais módicas, que permitam um lunao
Otr.ESTO EcoNÓNnco 58
p
^ sH 5Í*
:l! :!s
A “ACAU*’ — CUÉDITO E ASSISTÊNCIA RURAL
A nosso ver, tôda e qualquer cação dos ágios cambiais em bene fício da lavoura (paganienio de bo nificações, financiamento de safras, defesa de preços dos
adequado, talvez atual, mas vendendo por só é possível produzindo
esmo lucro menos, o que por menos.
A principal, diremos a capital apli cação dos ágios (já que outras fon tes de financiamento nao temos, no presente, dados os relativamente pe quenos e onerosos recursos da Car teira Agrícola do Banco do Brasil) deveria ser no sentido de um perfei to e completo aparelhaniento das gas condições de produção, : tido de produzir mais, melhor barato. Cumpre racionalizar todo processo, do início ao fmi da de produção , nas bases que atrás, gucintamente, explanamos.
E como, nesse processo de racio nalização, impo.tante papel terá que desempenhar o homem do be aqui examinar o que tem feito campo, caI, com êsse objetivo, a ACAR, num traba lho de mérito ímpar no Brasil multiplicado por cem dar-nos-ia a chave da solução de problema rural, sem leis agrárias de asfalto ou salários rurais inexeqüíveis.
e que, ou por mil, : nosgO e que vem
nui a assistência financeira e mesmo r técnica, americana, aumentando cor respondentemente a nacional.
A base do plano da ACAR é o “crédito rural supervisionado”, con comitantemente, com a assistência técnica. Trata-se, conforme o lema da organização, de “ajudar a popula ção rural a ajudar a si própria,” de modo a que possa dispensar, depois, o auxílio da ACAR ou de qualquer ou tra entidade.
Abrange um variado campo de en sinamentos a assistência técnica e educacional da ACAR: melhoida das instalações da propriedade e do do micílio; melhoria do gado; aplicação das modernas técnicas agrícolas, co- ^ mo o uso de inseticidas, de fertilizan tes, conservação do solo, irrigação e rotação de culturas; distribuição de sementes, mudas, implementos e su primentos agiúcolas; melhoria do sistema de abastecimento de água ^ para consumo doméstico; construção de fossas sanitárias; formação de hortas domésticas; aulas sôbre saú de e higiene, economia doméstica, nutiúção e cozinha, carpintaria e con fecção de colchões, puericultura e costura; e treinamento de líderes.
É duro o trabalho que exige essa assistência técnica e educacional. Longe está de constituir uma sinecura. Muito ao contrário, trata-se de verdadeiro apostolado. Os edu cadores, assistentes, técnicos agrí colas, têm que ser pessoas inteira- 'mente dedicadas ao seu mister, que não podem encarar o “emprego” co mo um meio fácil de ganhar a vida, permanecendo nas capitais ou gran des cidades... A assistência tem que ser levada diretamente ao campo, à
(

f CTO
o m o.»
> V V -.4 r
nosno sene mais 0 linha
É a ACAR (Associação de Crédito e Assistência Rural) uma entidade gcm fins lucrativos, cujo presidente é o sr. Nelson Rockefeller, operando no Brasil desde 1949, me diante acordo com o governo de Mipas Gerais. Também há dois escri tórios em São Paulo (Santa Rita de passa Quatro e São José do Rio Par do) e vão ser os serviços estendidos ao Nordeste. Tanto o então governa dor, Milton Campos, como o atual, Juscelino Kubitschek, deram apoio en tusiástico à idéia, e o númei’0 de mu nicípios assistidos vem aumentando grandemente, à proporção que dimi■i Ml
mento Ics mutuários. humilde do trabalhador rural, as Há que vencer a mulher feita cada
casa salariado ou não. rotina, convencê-lo e à sua e filhos de como deve ser Tdiretamente, pràticamente. ’ ; idealismo, O COUSS; t
rabalho é árduo e exige persistência, caráter.

Cumpre, de outro lado, orientar o rurícola sobre a melhor maneira de empregar o dinheiro que lhe forne ce a organização, pois se trata de um supei-visicnado”, e que lhe 'é entregue pela Caixa Econômica do Cumpre
crédito Estado de Minas Gerais.
ser
P
ira
das obrigações assumidas
tem forçado
O êxito do progi-ama crescimento mais do que auspiCrescem também uih cioso do sistema, consideravelmente as verbas e o pes soal destinado ao sei-viço, que danpequeno por falta de forma ção técnica especializada. Insistimos em observar que não se procura lucro (nem ao menos lucros bancários). E que, também, não se tem ali um viveiro de empregos paburocratas. A assistente domésUtécnico agrícola têm, na ACAR, Ê um verdadeiro sa-
tes era ra ca e o funções rudes,
cerdócio, destinado a criar, no Bra sil, uma nova mentalidade agrícola, que há mais tempo deveriamos ter formado.
Se uma organização dessa índole desvirtuamento. capital, a fim de que não somente possa cumprir os compromissos assu midos, como também consiga me lhorar seu padi’ão de vida e sua proInformam os relatórios da dução.sem brasileira, tanto nos seus processei e principalmente, no seu ele- como, ACAR que é surpreendentemente pe quena a porcentagem de não cumprimento básico — o homem rural.
pudesse ter, multiplicados por milhares os seus serviços, estaríamos assistindo a um« verdadeira renovação da agricultura
rtO
examinar, primeiramente, o que feito com aquêle dinheiro: Ihoria das instalações, da residência, da propriedade agiúcola, do gado, dos pi'ocessos agronômicos, no sentido de conseguir melhor produção; e, poste riormente, assistência ao mutuário objetivo de fazer render êsse me*
com o
alberdi
A l-UÀM(> 1>K Mki.o Khanco
^ASciDo no mesmo ano em (jue ir rompeu a revolução da Indepen dência das antigas colônias espanho las na América, Alberdi passou a sua juventude naquele perícdo que Ricar do Levene considera o terceiro mento cronológico da divisão da his tória argentina, isto é, o periodo que vai de 1826 a 1852 e abrange os vinte anos do governo de Juan Manuel de Rosas, — a época que o citado histo riador denomina “ditadura legal, seja a delegação das faculdades ex traordinárias e o máximo do poder pú blico, conferido pela legislatura pessoa de um governante”.
Nesse mesmo ano de 1810, Rio de Janeiro e Filadélfia eram os dois grandes centros de irradiação da pro paganda da revolução libertadora do Rio da Prata, sendo campeão desse movimento na capital brasileira Sa turnino Rodiãgues Penha, português de nascimento, que acompanhou ao Brasil a casa real e era pessoa muito dedicada à princesa Carlota Joaquina, irmã do rei Fernando VII e esposa do príncipe real de Portugal, então regente do Brasil.
A revolução de maio de 1810 vinhase processando desde os últimos tem pos do vice-reinado do Prata, à es pera do chefe que, por suas quali dades pessoais e por seu prestígio indíscutido, fôsse capaz de encarnar os anseios do povo e empunhar a arma foi'jada ao fogo das forças sociais do minantes na época e orientadas no sentido da emancipação da colônia.
Puyerredón e Liniers foram os che-
lircvc vird a lume a alentada c funda mental obra para a História da Repú blico —— como foi o livro dc Nabuco para a vida do Império — a biografia dc Afránio dc Melo Rranco, escrita pe lo filho, deputado Afonso Arinos. Em homenagem àquele estadista, que foi grande jurista, parlamentar e diploma ta c nos concilias internacionais repre.sentou dignamente a nossa terra, re produzimos o prefácio que redigiu para a tradução das “Bases" de Alberdi, pormovida pela Divisão de Cooperação In telectual do Ministério das Relações Exteriores. Escrito quando ainda cm vigor a Constituição dc 37, Melo Fran co reafirmou a sua crença nos verda deiros postulados da democracia, berdi, cuja obra tanto ciUusÍas}no de.^pertou cm Rui Barbosa, foi o gênio que traçou as fórmulas da civilização ureentina.

Alfes dos patriotas na luta travada com o partido espanhol personificado no alcaide Martin Alzaga.
O gesto de Cornelio de Saavedra, quase impondo a Liniers que o acom panhasse à presença do povo reuni do em frente ao Cabildo, salvou a si tuação, que os reacionáidos anuncia vam como hostil à causa dos liber- * tadores, nias que, em verdade, era francamente pela revolução da inde pendência, como ficou demonstrado pelas aclamações populares ao i*efe-‘ rido chefe criollo.
A 25 de maio de 1810, os patriotas.
mo-
ou na
vo nais —,ocupai*am os minaram o
fundamentos da nova pátria.
A 29 de agosto do mesmo Tucumán Juan Bautista ano, nascia em Alberdi, justamente ressa quadi'a de idéia, transformada tempo em que a em ação a 25 de maio anterior, mar chava por sua força imanente ao próximo triunfo.
TOS anos de sua meninice.
Transportandose poucos anos de pois para Buenos Aires, ingressou aí Colégio
Ciências Morais”, vinculou-se
de no com
outros jovens, que exercer mais tarde impor- viriam a tante papel na vida argentina, fun dando-se a Em 1837 publicou um livro sob o tí tulo Fragmento preliminar ao estu do do Direito. r

fr
No ano de 1812 Manuel Belgrano, comandando a bateria que o tríunvirato mandara edificar na barranca do Rio Paraná, próximo a Rosário, com o propósito de fechar o caminho fluvial à frota espanhola, fêz içar no topo de seus mastros a bandeira azul e branca, as cores simbólicas que os patriotas já haviam ostentado a 26 de maio de 1810. E, por feliz coin cidência, nesse mesmo dia do ano de 1812, Belgrano fazia apresentar com suas tropas, no Te Deum cantado na igreja local, ao invés do estandairte do Rei, a bandeira da Pátria.
Coroando esses grandes feitos da história argentina, veio, afinal, o 9 de julho de 1816, que, encerrou o pe ríodo da independência com a vota ção' pelo Congresso de Tucumán da proposta que declarr a solenemente rotos os vínculos que prendiam aos reis da Espanha as “Províncias Uni das da América do Sul”.
Nesse ambiente de batalhas, quan do a espada de San' Martin, então intendente da antiga província de Cuyo, lançava os seus primeiros lam pejos para os gi’andiosos atos da con solidação da independência nacional e da travessia dos Andes para libei'tar o Chile e o Peru, — Alberdi vi-
Mas, desde 8 de dezembi’o de 1829, Juan Manuel de Rosas estava inves tido do cargo de Governador e Capitão-General da província do Buenos Aires, em pleno exercício das facul dades extraordinárias que lhe outor gara uma lei especial da Legislatura local, jurídica e pureza de ideais eram in compatíveis com a situação imposta pelo regime ditatorial reinante Buenos Aires, teve de emigrar pri meiro para Montevidéu, em 1838, o depois para o Chile, onde levou vida de pensamento e constante trabalh intelectual, escrevendo para prensa, publicando livros e ensinan do à mocidade.
Alberdi, cuja tenaz vocação em o a im-
organização política da Ro-
Datada de Valparaíso, a 30 de maio de 1852, está a carta dirigida por Alberdi ao General Justo José do Urquiza, oferecendo-lhe o seu gran de livro Bases e pontos de partida para a pública Argentina.
A 3 de fevereiro dêsse mesmo *mo de 1852, em Monte Caseros, Urquira à frente de grandes forças das pi*ovín- .
via 03 seis primei^
trazendo já nos chapéus o distintiadotado da faixa azul e branca, cores que ficaram sendo nacioafinal a praça, doCabildo e lançaram »■
Associação de Maio’'
●as de Entrc-Rios e Con-ientes c ^tro mil brasilcircs e quase dois ■;il uruguaios, derrotou o exército do *‘tador Rosas, sendo designado, pou-
trabalho valioso do Senhor J. Paulo de Medeiros.
Cabendo-nie a lionra de prefaciai a edição, deixarei consignadas adian to algumas considerações dosp teusiosas e singelas acerca do valor da famosa obra e do sua influência na organização política da Repúbli ca Argentina c na difusão dos ideais democráticos pelo vasto território sulamericano.
ve¬ ^ depois, por vários governadores província, para dirigir as Uelaçõe.s ^xteriores. Em seguida, foi celebi-í
o Acordo de São Nicolau, pel Qual se eunvocou o Congresso Cons tituinte de Santa Fé e sc entregou a '''■quiza 0 comando efetivo de todí forças militares do país.
A 20 de novembro de 1852, insta0 Congresso Constituinte, 'fiissão era a de resolver, entre Antecedentes unitários o as caractoHsticas federativas da Nação ArgcnWna, qual o melhor critério pai*a clai^rar-se a sua estrutura constitucio nal. Unitários eram os ensaios ante riores de Constituição, — o dc 1815), ao tempo do Diretório de Pueyrredón, e 0 de 1826, sondo Presidente ®ornardino Rivadávia.
O livro famoso de Alberdi estudou essa momentosu questão com tanta -gurança percuciente, largueza do ''ísáo, profundidade de análise, exa tidão de critério e plenitude de co nhecimento de todos os fatores dc in tegração do país, que se justificam as palavras calorosas de Sarmiento ao seu autor: noR.sa bandeira, nosso símbolo. vai xer 0 Decálogo argentino: a bandeira 'le todos os homens de coração”.

Sua Constituição é Êsse livro admirável foi agora tra duzido para o português e mandado publicar pela Divisão de Cooperação intelectual do Ministério das RelaExteriores, sob os auspícios do çoes Senhor Ministro de Estado, Dr. Os valdo Aranha.
A tradução, feita com fidelidade e nmorado cuidado de linguagem, tí
da so cia ao
Co a¬ do o is cuja os Em seu livro Síntese da História Civilização Argentina, Ricardo Leveno conta que, durante as sessões do Congresso Constituinte, reunido em Santa Fé, existia na secretaria um exemplar do Federalista, famoso o conhecido trabalho cm que Alexandi'G Hamilton, um dos fundadores da República dos Estados Unidos da América, explicou o plano da Consti tuição Federal, que êle concebera pa ra sua pátria, e desenvolveu a for midável argumentação a cujo poder de dialética teve de ceder o Congresde Filadélfia, ratificando o refe rido plano. Aquele exemplar pertendeputado Rivero Indarte e de via ser tomado como norma para a Constituição Argentina, visto que o o.spírito dominante no Congresso de Santa Fé era pela adoção do siste ma federativo, que fôra o escolhido pela Constituição de Filadélfia e se guido na Constituição americana.
Mas no momento em que sc devia formular o projeto argentino, aque le exemplar desapareceu, justamente quando, por feliz coincidência, cheg’ava às mãos dos deputados consti tuintes um livro novo, impresso nas oficinas do grande diário chileno El
^Cf.<rro Econômico G3
se
Mercurio. Eram as Bases de Alberdi, obra longamente pensada, mas escri ta por seu autor em curto período de tempo, com o propósito de que fosse lida e meditada pelos deputados que, depois da vitória de Urquiza, estavam convocados para reoi-ganizar a Repú blica, arrancando-a do caos em que achava depois dos vinte anos da ditadura de Rosas.
No prefácio, datado de Valparaíso a 1 de maio de 1852, Alberdi invoca a lei da expansão humana, a cuja força imanente as raças civilizadas da Europa foram impelidas à des coberta e conquista da América, do mesmo modo que há milênios os po vos egípcios se espraiaram pela Gré cia, os gregos pela península itálica e, afinal, os bárbaros habitantes da Germânia pelo ocidente do velho Con tinente, “para trocar com os restos do mundo romano a virilidade de seu sangue pela luz do cristianis mo”.
Para Alberdi, essa lei tem um fim providencial, porque é a ela que se deve o melhoramento indefinido da espécie humana por meio do ci*uzamento das raças, da intercomunicação das idéias e crenças e do nivela mento dos diversos produtos da ter-
ra.
Observando que essa lei de expan são encontrou na América do Sul um invencível obstáculo derivado do sis tema de monopólio geral em favor das metrópoles e dos respectivos na cionais, com exclusão dos outros Es tados e povos, três séculos e esterilizou para a ci vilização do mundo os fins da con quista ibero-americana, orientou o seu livro no sentido de su primir todos os entraves e proibições í ● y L.
do sistema colonial, que impediam o povoamento em larga escala dos de sertos americanos pelos povos euvoA América do Sul estava, di- peus.
zia êle, diante das exigências de uma lei, que reclamava pai*a a civilização o solo que as suas Repúblicas man tinham deserto para o atraso. Em toda a contextura dêsse livro

famoso, 0 autor bateu sempre essa, leda da abertura do território argrentino às correntes imigratórias duç raças civilizadas da Europa e da in corporação dos imigrantes à comu nhão nacional pela liberalidade du po.. lítica de equiparação dos estrang^eiros aos nascidos no país.
O capitucm favor da imigraçao como
de progresso e de cultura vastos territórios das Repúblicas do Continente.
para os Cada europeu que vem a nossas plagas, diz Alberdi, traznos mais civilização em seus hábito-st que logo comunica a nossos habitan tes, do que muitos livros de filoso fia”. O povoamento é uma sidade sul-americana necosque suplanta todas as demais; e a medida exata nos,
da capacidade de nossos gover quatro por teuma a mcconvoi-
“O Ministro de Estado, que não du plica 0 censo desses povos, de anos, é inepto e não merece um olhar do país; perdeu seu tempo em bagatelas e nimiedades.” Os Estados tini dos fizeram a sua grandeza rem recebido em todas as época^ imigração abundantíssima da Eump» e um dos motivos do rompimento das treze colônias primitivas com trópole foi a barreira ou dificuldade que a Inglaterra quis opor a essa imi ] gração, que insensivelmente tia em colossos as suas antigas co¬
r ●£ DICESTO ECONÔMICO^ 64
*
lo XIII das Bases é um apêlo eloqüente aos governos sul-americanos meio i \ ír f
sistema que durou Alberdi
Na própria ata da declaraos
çao^ da independência dos Estados Unidos, foi invocado êsse motivo da revolta das colônias contra a metrópole, fato êsse assinalado por All>erdi, que o crmentou com a obser'■^çào de que a enorme acumulação d® estrangeiros não impediu os Es^dos Unidos de conquistarem sua in dependência e de criar uma nacionali dade grande e poderosa.
A tolerância religiosa, o forrocara navegação marítima e a interior, ® liberdade de c''mércio, o crédito externo fundado na segurança e res ponsabilidade solidária de todos povos das diferen'es províncias, a proteção do Estado às empresas es trangeiras de utilidade geral, são ou tros tantos requisitos da p"lítica de povoamento do solo pela boa imigra ção, porque, no conceito de Alberii, p* América tanto precisa de canitais quanto de população e o imigrante sem dinheiro é um soldado' sem ar mas. “Fazei que emigrem os pesos, mas o peso é um emigrado qre exiCc muitas concessões e privilégios. Dai-os, porque o capital é o braco esquerdo do progresso desses países”. Assim como as leis de fndias da metrónole espanhola cumulavam de privilégios os conventos, para fo mentar 0 estabelecimento dessas guardas avançadas da civilização da quela época, outro tanto devem fazer as leis atuais, para dar pábulo ao de senvolvimento comercial e industrial, prodigando favores às empresas in dustriais que levantem sua bandeira atrevida nos desertos de nosso Con tinente.
A partir do capítulo XV das Bases, Alberdi assinala os pontos fundamen tais da Constituição da República Ar-
gent.na, começando por debater a mais grave das questões que se apresentavam, a qual só teve soluçã' de finitiva muitos anos depois: a da fi xação da capital do país em Buenos Aires. Êsse grave problema, que ao tempo de Rosas servia de pretexto às violências do ditador, incitando seus asseclas à matança dos adversár:os c m o gi*‘to de “morram os sel vagens unitários”, dividiu os argen tinos após a vitória de Caseros, levando-os a lu^a fratricida. A bata lha de Pavón, ganha por Mitre a 17 de setembi’o de 1816. te'*e como consenüência a união definitiva de todas
os as províncias argentmas e a final integração do território nnc'onal.
Confr ntando os antecedentes uni tários e federativos do país. A’b'’r'li doelfOra ser imnossível a iinHade indiv’sí''el do p-ovêroo <reral ar'^''ntino e onta por um governo central que divida e concil'e sua acão oom as sob-^rapías provinciais 1'mitadas ”or governo geral, Pro- sua vrz ci^mo o clamava ass‘m as vantao-=*ns do siaf'®d'’vaf,i”o. quo **abraca e conlibi^rdnd^s de ouda nrovínnrerro<rat'ví>s de tô «a n naE'‘a a combini^cão do ?ocal’smo
c'lia ps ca e a = cao com a nacão, ou a an^icacão do qve Gle chamava a fórmula destinada a Ijresidir a polítVa moderna de organizacã'' dos E^^t^dos: a combina ção harmônica da liberdade com as sociação.
Alberdi Tratando da cidadania, aconselhava que tanto ela como o do micílio fossem prodígados ao estran geiro, sem que a isso fosse êste coa gido; pr«'pôs a assimilação dos di reitos civis do estrangeiro e do na cional; concedeu lhe o acesso aos em pregos públicos secundários, princi-

l-.roNONnCO
íônias.
65
palmente nos quadros municipais; reconheceu a inviolabilidade do direito de pr priedade e a liberdade comple ta do trabalho e da indústria, como sendo o meio mais enérgico de ali ciamento da imigração estrangeira. Depois dos grandes in erêsses econô micos, os objetivos do pacto C'nstitucional deveriam ser a independên cia e os meios de defendê-la contra os ataques improváveis ou impossíveis
das potências européias.
Na época em que Alberdi escreveu
j;* as Bases e o seu projeto de Constiij: tuiçâo, a Argentina não tinha ainda
I um milhão de habitantes, espalha, , dos em um vasto território de quase
Í duzentas mil léguas quadradas, em ; que os primeiros núcleos de popula●' çâo dis*avam trezentas e mais léguas de Buenos Aires. Era o deserto e la pampa, incompatível com a uni' dade indivisível do govêrno.
çundo as Bases, foi aceito tegralmente pelo Conprresso tuinte de Santa Fé, a 1 de «e 1853. Modificado mais de ^ ‘
em anos posteriores, pode . que êle é ainda a lei máxírrt® -Na, çâo Argentina.
No regime político dessatuição, a República vizinha rou, enriqueceu, povoou-se, íortalç. ceu-se interna e externamente, formou-se em um grande Estado, sóliaas ba.
Consti, cujo poder se assenta em ses econômicas e no vigor raça sadiamente constituída.
Não é, pois, exagerado considera^^ Alberdi, cujas elevadas concop. ções frrmam a força inspiradorn organização argentina, como um dos fundadores da Nação. Seu papel bíg, tórico foi cm seu país comparável de Alexandre Hamilton dos Estnd
de se no Os Unidos da América.
Em matéria de política externa, ve ser recordada a orientação
● n íha -
■ ' Daí decorre a sensata observação Ij' feita por Alberdi aos ensaios anteí riores de Constituição, que, imitando f as que foram decretadas na Europa depois da Revolução francesa, “sanI cionaram a unidade indivisível, em í'países vastíssimos e desertos, que, f conquanto sejam suscetíveis de um govêrno geral, não o são de um r govêrno indivisível”.
li
í n !● ●
y tempo o norte da América do Sul, consoante a frase final do livro admirável do grande pensador argen* tino, em sua primeira edição.

. nifestou conceitos, repetidos poste, ri-^rmento, segundo os quais convirjg sempre à boa causa argentina urna política amigável com o Brasil, da mais atrasado e falso do que q pretendido an'agonismo de sistema político entre o Brasil e as H-epúbli. cas sul-americanas.
Na. Isto só existe
para uma política superficial e frj. vola, que se detém na estreiteza do’! fatos. A esta classe pertence a diferença de forma de govêrno. No fun do êsse país (o Brasil) está mais in. ternado do que nós no caminho da
i>' t tJÜ ■ I I. Jw>'. I j4i- .i.
UICESIU B6 quase C'nsti^
dizer
-
r- \ t
americana das concepções do omiriea. te pensador argentino e, s^^bretudo sua opinião sôbrc o Brasil, consiga, nada com mais amplitude na segun. da edição das Base.s, capítulo XXXlv Em escritos de 1844 e 1852, êle
As Bases preconizam uma Constituição sob 0 modêlo da dos Estadas
Unidos da América, sem ser cópia servil desta, mas feita com o pensamen'0 voltado para as condições peculiares do país que iria reger. A América do Norte s'»ria ao mesmo
O projeto de Alberdi, concebido se-
liberdade... o Brasil é hoje ■ der essencialmente americano.
Concebida há
u quase im séc
m poulo, a obra intelectual do AlberJi

sor considerado cuino uma das jrlórias da latinidade.
tiu lumino; amonte a realidade amerlcuna de nossos dias.
pressenA Süluyâo do.4 pr blemus por êle assinalados em scii país, como em todos os da América 00 Sul, vai sendo a fôrça do progresso e é a prova da segurança do caminho por êle traçado à nossa promiss ra evolução.
Poderemos dizer
nosso como o professor
Nho obstante a triste evidência dos f..tos que escurecem os dias atuais, temos fó em que a América nao sq prestará a ser corpo de experiência para a aventura de qualquer das ideologias que pretendem abolir os íundamontos da filosofia polídea inspirad ra da obra intelectual de Albirdi.
03OYí
Murray Butler, quando fala dos Kslados Unidos, que a Constituição truturada pelo gênio do AlberJi
1852 fôra criada por uma popula ção recém-saída da anarqvia p litica, ameaçada de perigos internos e externos, espalhada sobre um vasto território inculto e quase deserto. Aquela Constituição permitiu que tal população se decuplicasse em cinqüen‘a anos e se transformasse om um grande povo, que tinha direito a
Acreditamos, como aquele eminente rei or da Universidade de Colúmbia, que o século cm que vivemos demons trará que só são duráveis as obras criadas ao influxo dos princípios dc moí*al cristã e os sistemas de liber dade cívica e política, que sobre êles 1'epousem.
E é sôbre tais fundament-s que Constituição concebida descansa a pelo gênio de Alberdi e cujos prin cípios essenciais regem ainda os des tinos da República Argentina.
ü7
História econômica e arquivos
 Deolindo Amouim
Deolindo Amouim
Ddefeito de nossa for mação, que se ressentiu, desde cedo, üa f^Ica de embocadura para t. o conjun o, não temos levado em c:nta a influência das empresas e orga-
poi'tância incontestável no desenvol vimento de um país. A história de se resume nas lutas, lances heróicos, nas agitações um pais nao nos
EviDO a um políticas ou nas manifestações emoTem-se a impressão de que cionais. I nizações privadas na evolução soI ciai e política de nosso país. É certo ‘f que, de algum tempo a esta parte, Já se modificou muito a nossa ma neira* de ver os fatores económicrs
’ no computo geral dos elementos mais decisivos na vida nacional. Isto im porta em dizer que já temos, realK' mente, a consciência de nossa história econômica, tanto assim que já esB' tamos reconhecendo a significação !das atividades comerciais, industriais, bancárias, agrícolas, p r exemplo, no Ias ro geral de nossa cultura transformações sócio-políticas por que passando o país, especialmente depois de ceitos fenômenos, como a "‘ascensão das massas”, a interfe. rêncía do Estado na vida econômica particular etc. Entretanto
lôda a nossa História teve por cen-* tro de gravidade apenas três ordens de fatos: as revoluções internas, as campanhas políticas e os epiSÓdios de E a história econômica ? guerras.
e nas vem seja
dito com tôda franqueza — a verdade é que ainda não se fêz, no Bra sil, um levantamento histórico para ■/ fixar a verdadeira influência das or¬ ganizações econômicas na vida na cional. y '
Nossa ílistória, durante muito , tempo, teve a preocupação restrita de per em relevo apenas os aconte-
cimentos políticos e os feitos de guerP.. ra. Pouca referência, e assim mes&, mo superficial, à vida comercial, à ti evrlução da indústria e da agricultu■L ra, ao sistema bancário e, finalmente, K, a outros fatores econômicos de im-
Não pesa, porventura, na balança da evolução nacional a contribuição das atividades econômicas, seja no comér cio, seja na indústria ou na lavoura ? Já existem, felizmente, estudos apreciáve.s no campo da história econô¬ mica do Brasil, seara que tem tido exploradores de pulso e de visão cla ra como Roberto Simonsen, Prado Júnior, Afonso Arinos e outros, aliás em número ainda muito reduzido. Já não se pode mais dizer que a histó ria econômica seja um campo vir gem. Não. Já se começa, portanto, a compreender a influência da ati vidade econômica na história nacio nal. Quando recuamos um pouco, en contramos o acervo histórico de Capistrano, em cujo pensamento já previa, há muito tempo, a valoriza ção do fator econômico no encadeamento da História nacional.
se
Apesar do que já existe neste ter reno, é indispensável um estudo pecífico das empresas privadas organizações comerciais, bancos etc. — a fim de que se possa avaliar contribuição dessas organizações processos de desenvolvimento do país.
esa nos
privados^ -K^í» *1F**' ' 1
|p
-0 excesso de história políticacomo diz José Honório Rodrigues e com inteiro cabimento, fêz com que a maioria dos historiadores brasilei ros se esquecesse de explicar zões econômicas que influíram nossa formação. Realniente,
nem a história matéria-prima
as raem o pouco
não é aó a história da utilização, pe lo homem, do solo, para a obtenção de sua subsistência, da transformação da de sua distribuição, dade dc
nos-
C10.S
na cri¬ em que mento
0 fator ecomo
e dos grandes empreendedores como Mauá, Antônio Prado. (“TEO RIA DA HISTÓRIA DO BRASIL” — pgs. 88/91). A maior dificulda de seria, talvez, a carência de arqui vos organizados para qualquer pes quisa histórica no campo das empre sas i)articulares. sociedade, um instituto especializa do em pesquisa déste gênero.
Não temos uma
Pourealidade, da históconierciais, ,
CO SC sabe, na ria de grandes firmas alguns bancos tradicionais, de algumas organizações econômicas de projeção, a
Na multiplíciseus aspectos, história do capital e dos bancos, história da in dústria c dos processos de produção, cabe também a história dos negóinteresse em relação aos empreendi mentos de ordem econômica levou grande parte dos estudiosos de sa História a um erro de visão e de planejamento muito sensível tica ou na apreciação dos fatos his tóricos. Há fatos históricos 0 aspecto político não pode ser bem compreendido sem o conhecimento das causas econômicas que sôbre éles tiveram preponderância. Quem estuda, por exemplo, o movimento abolicionista não pode separar três aspectos, que se completam: o eco nômico, o sentimental e, finalmente, o político, que foi, a bem dizer, o coroa da humanitária
não ser quanto aos regissua corres- tros comuns, campanha, nómico influiu poderosaraente na campanha aboli cionista, ao lado, é claro, das manifestações senti mentais do povo e, ao mestempo, dos objetivos' de ordem política contra a Monarquia. Na urdidura dos acontecimentos polítitos e até mesmo das gran des reformas é muito difícil excluir
história econômica, tão íntimas e a tão consistentes são os vínculos de relação entre os fatos econômicos e fatos políticos e sociais.

os drigues, com Ijie é notório: a
Observa ainda José Honório Roo senso objetivo que história econômica
suas suas demandas com
pendência rotineira, faturas, seus balanços etc. Não se sabe, entretanto, qual foi a reação desta ou daquela empresa, de que maneira teria ela contri buído para a solução de uma crise econômica, dian te de circunstâncias ex cepcionais da vida nacio nal. Ora, os balanços de uma empresa privada, seus relatórios, algumas de a União, por
exemplo, podem oferecer ao estudioso da história econômica e também da história política o melhor subsídio pa ra o conhecimento de fatos que tive ram importância considerável na vi-
6n
,êj
Falta-nos, a êste res- da nacional, peito, um trabalho de coordenação capaz de, com a amplitude e a sistematização necessárias, permitir o conhecimento direto de fontes que, até hoje ainda Tião foram suficiente mente avaliadas: arquivos particula res, espólios, inventários balanços, relatórios etc. etc.
Existe nos Estados Unidos uma sociedade cujo fim é precisamente conservar e divulgar documentos de interes.^íe geral para a história das organizações e empresas. Chama-se Business Historical Society. Entre as suas publicações, tôdas elas de grande interesse para a história eco nômica, é muito citada, por exem plo, “The preservation of Business Records”, além de uma revista, que, ainda há pouco, mereceu referência especial de Bertrand Gille, em Ungo e bem documentado estudo sobre quivos de emprêsas”, na Revue Ilistorique — Paris, T.CCVIII.
marn» de Comércio, cujaa delibermções constituem uma fonte de pri meira ordem aôbre as reações patro nais em face dfs acontecimentos eco nômicos gerais, são de excepcional importância, acrescenta — os arquivos industriais, bancários, assim como os arquivos de estradas de ferro, de companhias de navegação etc. Tôdas essas espé cies de arquivos privados ou parti culares podem fornecer subsídios de valor incalculável não apenas em re lação à história econômica, conjunto dos clementes que consti tuem as fontes da História Geral.
Do mosino modo mas no
arLamense se para em-
ta Bertrand Gille o'fato de não encontrar em qualquer biblioteca francesa a coleção completa do Bulletin of the Business Historical So ciety, 0 que revela certo desinterêspelas publicações 'especializadas em história ou arquivos de emprêsas comerciais, industriais, bancárias etc. Seja como fôr, a verdade é que existem sociedades fundadas cuidar do material histórico das presas, como já existem publicações especializadas neste ramo da His tória geral, tão importante como qualquer outro.

( dentes objetivos de política imediat-i se colocou, no ensino de Direito, V cadeira de Economia antes da pria próIn'rodução à Ciência do Direi to”, que é a cadeira que correspondo à de Filosofia do Direito, disciplina inicial nos currículos, pelo regime antigo. Dizia então o plano de re forma que “a ordem econômica pre. cede a ordem jurídica”. Não iremos tão longe. Todavia, forçoso é reco nhecer que a história ecrnómica
O problema dos arquivos econômi cos privados — como salienta Gille — é, hoje, assunto de numerosos es tudos. Diz êle; os arquivos das Câ-
<( nuo pode constituir uma história à par te, sem qualquer traço de conexão com a história política. Dai, portan to, a necessidade, aliás muito lógica
as em um a estrueconôe juriuma reforma Já heuve, até, com evi f. íih.
t,r ■ DlCÍJÜTO 7ü
1
A vida econômica não pode deixai* de ter influência na vida política, sim como os fenômenos políticos, muites casos, não podem deixar de ter repercussão na ordem econômica Uma crise econômica pode mudar Governo, como pode alterar tura de um regime. Não é possível, portanto, dissociar a ordem mica da ordem política, social dica. de ensino em que, embora
e compreensível, de se dar mais im portância do que se tem dado até agora, entre nós, à his‘ória arquivos de empresas bancos, indústrias etc.
e aos comerciais, seja de nunca ou novas guerno guerra traz económassa.
Quando se estudam, p^'r exemplo, os efeitos de uma guoiTa em deter minada fase da História, grande ou de curta duração, Be pode deixar de considerar o lado econômico: a reação da indústria do comércio, a formação de indústrias em conseqücncia da ía, a situação dos,bancos em face da Bítuaçâo de guerra, por exemplo. To dos esses elementos dizem respeito aos efeitos de uma guerra na vida econômica do país- A história de uma guerra não se resume apenas nas operações militares, nas batalhas, recrutamento. Tôda imedlatamente conseqüjnclas micas; o recrutamento em ermo se sabe, despovoa os campos c abre claros sensíveis na indústria; a indústria dc guerra absorve energia e material humano, muitas vezes for çando a paralisação ou a diminuição de outras indústrias. Quem, portan to, tiver de escrever, cem an^ s de pois, a história de uma guerra, não poderá, de forma alguma, perder ele vista 0 aspecto econômico, cujas fon tes mais indicadas devem ser os ar quivos, relatórios c balanços de em presas privadas, bancos c outras or¬
ganizações de natureza econômica. ^ao queremos chegar ao extremo de admitir, como quer a concepção marxista da História, que todos os tecimentos históricos estão na nconde pendência do fator econômico, seria reduzir muito a História, den tro de uma or‘odoxia sistemática e unilateral.

Isto Conquanto a “interpre tação econômica da História”, segun do a chamada linha marxista, já es teja superada por interpretações mais lúcidas e mais abertas, não se deve chegar ao extremo oposto, isto é, ao desprezo completo das fontes dc informações econômicas na interpre tação da História Gei'al, ainda que seja, em iiltima análise, como pis‘a de pesquisa ou como elemento de orientação.
Não temos, finalmente, no Brasil, uma organização especializada em arquivos de empi*êsas privadas. O.s Institutos Históricos e outras socie dades afins têm tarefas gerais, e não podem, por isso mesmo, dedicar mui to tempo a pesquisas deste gênero, especialmen‘‘e porque é muito difí cil o trabalhcsa a pesquisa em arqui vos comerciais, industriais ou bancá1‘ios, vis^o não haver organização ade quada à investigação histórica. Já é tempo, entretanto, de se organizar, no Brasil, a pesquisa histórica das fontes piúvadas como elemento indis pensável à história econômica.
Dicesto EcoNójnoo 71
r
o Fundo Nacional de Eletrificação e Influência no desenvolvimento da metalurgia
 Hekiuque Anawatk
U’rofessür cia Escola Politécnica clc Porto Alegre)
Hekiuque Anawatk
U’rofessür cia Escola Politécnica clc Porto Alegre)
introdutória A presente palestra é a um debate mais amplo que se seguir. Abordamos o as sunto em seus vários as])ectos e en alguns dêles transmitimos do de
deverá nooso moÉ evidente que po
pensar.
k
derá haver discordâncias. Até é mé rito, pois, o real objetivo do Centro Morais Rêgo é confrontar os dife rentes modos de ver das pessoas em relação aos problemas que influen ciam 0 desenvolvimento da metalur gia.
, que melhor es clarecidos, seremos os primeiros a formar no denominador comum da causa em questão.
Muitos valores estariam mais qua lificados para abordar este tema, en tre eles o próprio Dr. Rômulo de Almeida, que nos dá a honra de pre sidir esta chefe
P.N.E. e P.N.E..
sessão, mesmo porque foi da equipe elaboradora do Entretanto, pre-
tendeu o Centro Morais Rêgo que fôsse abordado não por um especia lista na produção de energia elétrica ou elemento da alta administração federal, mas por elemento da classe metalúrgica para conhecer seu pen samento. Esta a razão porque aqui estou.
INTRODUÇÃO
Por todo 0 pais a crise de potência instalada atingiu o auge. Em parte alguma o consumidor sente-se satis feito e seguro. 0 racionamento tor nou-se inevitável; em alguns lugares alcança de 6 a 10 horas diárias, outros é mais atenuado. Uns são mais recentes, outros mais antigos, naturalmente, transtornos e aborre cimentos e por fim o refrão: cisamos de energia, não importa que preço”, ponderam “porém, tão barata quan to possível”.
eivi Ti'az, « Prepor Outros mais avisados cresci
É universalmente sabido eletricidade, pelo uso que tem, tão ●('
Ao Centro Morais Rêgo — e à co missão organizadora dêste conclave, que me honraram com êste convite expresso meus anseios de poder es tar sempre contribuindo para o bri lho de suas iniciativas.
pi k. 1 ● < i
das companhias concessionárias período de guerra, que retardou obras — falta de cambiais — desin teresse ou desleixo dos governos, mor mente o Federal, e por fim, o pró prio “Código de Águas”, que desen coraja a iniciativa particular, tanto mais quanto se desenvolve a espiral J inflacíonáida. Admitamos a conjuga ção de todas estas causas e a necessi dade de serem encaradas concomitan temente, em qualquer estudo que se faça no sentido de dar nova orientação ; e rumo ao desenvolvimento da indús- I tria da Energia Elétrica.
'J?
sua '
As causas determinantes desta crise são as mais variadas: )
Naturalmente
mento vertiginoso — industrializa, ção intensiva — melhora do padrão de vida — estíagens imprevisào
suus quo
a cosua serexigindo para os
, ?çneralizado, é tão essencial ‘Atividade, que a indústria de produção adquire o caráter de ^ço de utilidade pública, que 0 Estado a controle, estabele cendo exigências o deveres produtores, e também suplementando a estes, quando se fizer necessário. A escassez de energia adquiriu tal tjravidade que os governos estaduais e 0 federal se viram compelidos a exercer esta ação supletiva.
Já em 1951, S. Excia., o Governa dor Garcez, quando de uma confe rência perante os membros do Rotary Club do Rio de Janeiro, expunha clara e sucintamente seu programa de governo; mostrou que, em face da legislação vigente, não era possí vel contar-se exclusivamente com a iniciativa privada no suprimento da energia.

Já antes, em vários Estados, sen¬
tiram seus governos a necessidade de intervir neste campo, complementan do e suplementando as iniciativas en tão exislentes. Assim é que hoje contam o Rio Gi-ande do Sul e Minas Gerais com planos estaduais de Ele trificação, sendo que o de Minas Gei‘uis antecipou suas obras, magnífico estudo de planejamento que está servindo de exem-
pOr um fferal, plü a outros Estados. Já o primeipara a execução de um conjun to de usinas e interligações, criou uma taxa especial, dita de eletrifica-
ro, çao, para garantir financeiramente sua execução.
Rio de Janeiro, São Paulo, Espíri to Santo e Paraná, empi*endem tam bém grandes obi’as, no sentido de estabelecer redes regionais, abaste cidas por centrais instaladas com o máximo de rendimento. o Conselho Nesta mesma época, Nacional de Economia, ul timava um estudo de refornosso código de de forma a possibiinversões de ca-
ma do águas, litar novas pitais pai-ticulares, pela al teração de certas cláusulas coercitivas. Sendo o de Águas” atacado por lado como um dos res-
íl Códi¬ go um ponsáveis pela agravação acumulada da crise de ener gia, impunha-se ao Governo Federal encarar com realis- . mo este ponto, dentro de noi*mas adequadas, como o fêz o Conselho Nacional de
Economia, e mais tarde a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Enti-etanto, tal não aconteceu. O governo tem sentido o
K^IO liCONÒMiCo 73
'íí-/-
reflexo q’.:e tal crise vem prrvocando no seio de nossa indústria e na nossa economia em geral. Sendo so licitado cada vez mais, por ser o granue detentor dos recursos finan ceiros e do câmbio ou pela exigência técnica e harmônica com cutros pla nos governamentais, como o do Car vão, vem üitimamente interessandose na construção de Centrais Elé ri cas, como a da zona Carvoeira de Santa Catarina, e a de Candiota, per to de Bagé, ainda na fase inicial de t execução.
de 20 ctv3. íôbre o kwh, para cens comerciais» cunsuiiuaor inaustriul esie cuorauo a ruzao x-^ura nao gruv«r ucmais as inuubtriaa, giauutís c^iisuiUiaor^s. propoi» o govenio as scguiiitea v»»r.-
mídores resiuenciais e Para o impusto seria v»tu. CaCCâtí-
tageos: t^uaiido a inXluência da energia tnca soure o cuslü uo prouuco Ciuvease eiiuo o o’/o, o impo&to 5>erxa cobrado integralincu.e. üe vesstí entre 5 e io‘/o, pogarta ape nas õüVí-' entre lU e xovo, na zu% e alom ue 15Vo, nao soirer.a imposto algum.
Transportes urbanos Estrauas de Ferro com eietrica Escolas — Templos Entidades Estatais. 1 1 I I
.
Em virtude das altas inversões e para enfrentar um plano de maior envergadura, apresentou, em fins de abril de 1953, o projeto de institui ção do Fundo Nacional de Ele trificação, segundo estudos elabo rados pelos seus assessores técniTal projeto transitou em re gime de urgência na Câmara e Se nado, onde encontrou sua aprovação, com algumas emendas, já em prin cípio de dezembro do mesmo ano.

cos. a) — Criação de um exemplo do
l I
cional”, para a instalação de Usinas Termo ou Hidrelétricas no Territó rio Nacional, que se constituiría de:
I Adicionais de imposto de consôbre todos os produexceção dos dites de sumo tos, com
3 — Isentava dos impostos os se guintcs cünsumiuox'es:
'X
4 — Para os que possuíssenx rador próprio, a taxuçào caria reduzida a 6ÜVb dc<i< que usassem combustível cional.
G0% para os Estados e Municip\v>^ As demais arrecadações, ficar nas mãos da União.
Eliminação dos impostos e até então incidentes taxas 2 Assim é que, para a t^rrecadaçi.' total estimada em Cr.Ç
sobre o kwh, e criação do que chamou, inicialmente, de im posto único.
2.124.000.000,00, cabería à União: — Cr.$
1.464.000.000,00
y. '● üicEjrro ücov 74
Para melhor análise de nosso tema, vejamos, a seguir, as bases iniciais do PNE e as alterações pos‘eriormente introduzidas pelo Parlamento: “fundo”, a Fundo Rodoviário Na7
traçã.
5 — Do montante recolhido pv»' Fundo Nacional de Eletrifi cação, apenas o impôs.o üni CO sobre o kwh, seria ropar*í. do entre a União, os Estad»:-' e Municípios, na relnç^Q 40% para a União e
l.a necessidade;
seria criado è razão Tal imposto
e aos Estados e D. F.: 660.000.000,00 Cr.$
* * sk
A TRAMITAÇÃO NO CONGRESSO
d)
no sistema da Concessionária. Ê fato comprovado por inqué rito que, se as Concessionárias puderem suprir tais empresas, elas abandonarão a produção própria do Energia.
a incon-
Além dos prejuízos que a em presa possa ter, há ainda os riscos decorrentes do manu seio do óleo, c o conseqüente aumento das taxas de seguro; Evasão de cambiais.
Combatida na Câmara por vários deputados, notadamente os gaiíchos, teve esta cláusula eliminada, extin guindo a.ssim uma das preocunações sobre o PNE. Para a Indústria Me talúrgica, grande consumidora de energia elétrica, foi uma resolução francamente favorável. Oue ditram as companhias como a Belgo-lMineira, Acosita, CSN e outras que pos suem produção própria.
s
a) É uma inversão indevida do capital de uma indústria pa ra a produção de um artigo, que nào é sua especialidade;
Quanto à 2.*^ parte, levantamos em Como várias ocasiões a discussão: tal taxação sobre as IndúsInfelizmen^^e, pouco

a encarar trias de base”?
conseguimos no sentido de desper tar a atenção dos interessados a es te pr-^blema. A reação mais positi va partnx. do Centro das Indústrias do Rio Grande do Sul. Seu parecer ao presidente do Senado expunha o pen samento geral da classe. Nele esta vam incluídos êstes 2 itens de funda-
Concessionárias
c) Estas ocorrem
b) O custo do kwh gerado é sem pre mais caro que o obtido nas Companhias (com exceções), instalações quando há déficit de energia
mental interesse para a Indústria Metalúrgica. No senado, encontrou pronta aceitação por parte de alguns senadores, entre êles o Sr. Othon Mader aqui presente, que compreen deram bem o alcance daquelas argu mentações. Os resultados finais não foram os desejados, mas transpirou no5 debates havidos a juatoze de
Dicesto Eco^'ó^aco 75
Tal foi, senhores, inicialmente, o Federal. pensamento do Governo Ao tomarmos conhecimento deste do cumento, verificamos logo veniência de aceitar tais proposições, numa época em que deveriamos pro curar conseguir a eliminação dos obstáculos que dificultam nossa in dustrialização em bases do concorrên cia. Dos i^ens, de imediato interes se para a Indústria Metalúrgica, sal tavam à vista: A taxação sobre o kwh produzido por geradores pri vativos e indiscriminação de indús trias para o fim desta taxação. Des consideraremos os problemas secun dários quanto à distribuição entre os Estados, bem como não teceremos co mentários sobre os adicionais do impô.sto de c''nsumo. Atacamos o pro blema na primeira oportunidade que se nos apresentou, e es^^a se deu no decurso da 1.® Reunião Plenária da Indústria, realizada em São Paulo, naqueles mesmos dias. Consecruimos a condenarão formal da taxação so bre a produção nrónria do kwh. N''ssa argumentação foi a mais simples: e)
3.°)
Consumo a FORFAIT ad valorem 5% emenda proposta pelo senador. In* felizmente, o re^me de urgência a que esteve sujeita esta mensagem, não permitiu que um estudo sereno e mais amplo fôsse levado a efeito.
Terminada a fase parlamentar, encontravamo-nos perante a seguinte situação:
a) Os que produzem energia para seu próprio consumo, estão isentos da tributação sobre o kwh consumido;
b) A taxação formulada para a indústria foi mantida como o origi nal, com a alteração de que, quando a energia influi além de 15% no cus to do produto, a taxação sobre o kwh será de 1 ctvo, quando antes era zero. Tal alteração foi devida a argumen tos diversos, entre os quais o de um deputado que assim afirmava: “Quan to maior é a impor’ância da energia elétrica para a indústria, mais ra zão ainda para que pague a taxa pro posta”. E a Câmara cedeu ante tal argumento. Aguarda-se agora a ma nifestação da Câmara Federal sobre as emendas do Senado para em se guida subir à Sanção Presidencial. Entre as emendas apresentadas pelo Senado, as principais são: 1) O im posto será cobrado gradativamente crescente para as indústrias, sendo:
1,° ano — 25% da taxa
— 60%
— 7.5%
— 100%
2.0) Novas tarifas para kwh luz — sendo
4.^)
5.0)
10% do F N E., deverão ser destinados à eletrificação rural.
Os gastos do F N E. indepen derão do visto do Congresso. Uma vez aprovado o Plano Nacional de Eletrificação, poderá o govêmo efetuar uma operação de crédito até 1.500 milhões de cruzeiros com base nas futuras recei tas do FNE.
0 — 20 kwb/mês — isentos

20 — 60 kwh/mês — 10 ctvos 60 — 200 kwh/mês — 20
mais que 200 kwh/môs — 30 ctvos.
E assim, chegamos ao ponto onde estamos hoje. nosso
Tentaremos analis.ar tema em 3 capítulos:
O F N E. e as indústrias de base. A interferência dos governos na produção da energia elé‘rica. A Eletrobrás.
O FUNDO NACIONAL DE ELETRI FICAÇÃO E AS indústrias DE BASE
A Influência da Energia Elétrica nos Custos de Produção para os Diversos Tipos de Indústrias
É importante analisar êste ponto, porquanto o parágrafo 4.° do artigo 6.° do projeto de lei leveu em consi deração esta influência. Assim é quc propõe que pagarão a taxa de ctvs. por kwh consumido, sòmente o?
indústrias onde a energia elétrica in cide no custo da produção de 0 a 5^ apenas. Quando esta incidência fôr dt? 6 a 10%, a taxa será de 5 c‘vs. o quando fôr de 10 a 15%, apenas 3 Além de 16% de incidência, o ctvs.
DiCKSTO Ecokómico 76
>
'í
f V l k l
i: . I í
V.
●
f:
K
M n n 2.0
ff tt 4.0 h r f-
3.0 » »
s
1 k. í .
impôsto sôbre os kwh consumidos se rá de 1 ctv.
É preciso, para se compreender me lhor o alcance das proposições acima, estudar exatamente a influência da energia elétrica para cada tipo de indústria.
de J. A. Whitlow, publicado na re vista Engenharia de São Paulo —■ mês de março de 1944, e um trabalho recente sôbre a indústria no RGS.. Podemos sintetizar os resultados no seguin‘e quadro, que mostra, de mo do geral, como se compõem os custos des produtos manufaturados.
Nada melhor que citar um artigo RGS — 1950 USA — 1944 Med. Geral Ind. Me- 7o talúrgica.

Matéria-Prima
Combustível
Mão-de-obra
Administração e Escritório
Impostos e Taxas
Aposentadoria e Pensões
Serviços Sociais
Outras Despesas
Impostos — Taxas — Lucros ....
Na fase atual do desenvolvimento industrial do país, em que predomi nam indústrias de transformação, ve mos que a influência da energia elé trica no custo do produto é relativainente baixa, mesmo no caso par ticular da Iniús'ria do Rio Grande do Sul, que paga alto preço pelo kwh. Está patente, pois, que a grande maioria das indústrias do país esta rá classificada no primeiro grupo, entre 0 e 5%.
Num mesmo grupo de indústrias, encontramos tipos os mais variados, onde esta influência é completamente diferente. Assim, para a Indústria Metalúrgica, a influência apentada é de 22%, porque a grande maioria é indústria de produção de artigos aca bados, de preço uni ário mais eleva do, mormente no Rio Grande do Sul. No caso de usinas que fabricam aço em fornos elétricos, é fácil verificar
53,4
esta incidência é outra muito diversa, consumo de 0.66 kwh por quilo de pro duto acabado, veremos a importân cia que deve merecer por parte dos industriais metalúrgicos, especialmen te dos produtores de aço.
Tomando-se, outrossim, o a a
Idênticas considerações se aplicam diversas outras indústrias onde o kwh exerce capital iniluência, entre elas as do alumínio, refinos eletrolí icos de metais não ferrosos, eletro-redução de minério de ferro, fabricação dos triplos e metafosfatos, a fixação do nitrogênio do ar e ou tras mais.
Do livro Industrial Eletrochemistry, de C. T. Mantell, extraímos os seguintes dados de consumo do kwh, para a o''tenção de certos produtos eletromelalúrgicos e eletroquímicog
rD 77 iGESTo Ecoxó^^co
como 44,9 62,9 2,32 2,2 3,1 22,Ú 25,3 17,6 6,6 6,2 7,1 6,6 1,0 1,2 0.8 0,5 12,6 12,9 20.64
r.
A quantidade de energia necessá ria para a obtenção destes produtos, { nos mostra como é essencial a ob tenção de um kwh de baixo custo e ^ com muito mais razão o cuidado com que deve ser encarado qualquer imI pôsto que vier incidir sobre a ener‘ gia. Êste grupo de indústrias acih ma apontado, provavelmente, para efeito da taxação prevista, será na turalmente beneficiado pelas atenua ções do artigo 5.°. Entretanto, uma \ cousa não deve ser esquecida. Tais atenuações são referentes ao “prcdu, to acabado'’ o não às etapas de sua fabricação. Assim, para os produtores
de aço laminado, que possxiem fornos elé‘ricos a incidência apenas sobre aço em lingote é diversa daquela so bre o produto final, capaz de alterar profundamente o valor do imposto único.

o
peSerá tanto menor quanto mais trabalhado fôr o produto final. A tendência destas indústrias de en¬ tregarem no mercado produ*-o8 já acabados trará, sem dúvida, tranator- ●
● V Dtcesto EcoNÓ^nco^ 78
FUNDIDOS 20.000 — 24.000 kwh/Ton. 16.000 — 26 000 28.000 — 50.000 14.200 — 14.600 44.000 — 48.000 110.000 tt ●fj I» V ff Alumínio Magnssio (Clorureto) Magnésio (Óxido) Sódio Cálcio Berilo 4 f I I* PRODUTOS DE FORNOS ELÉTRICOS 4.n00 — 7.000 kwh/Ton. 3.000 — 6.000 4.000 — 6.000 6.000 — 8.000 3.000 — 4.000 4.000 — 7.000 » ff 7f tf tf tf ff ft tf ff Ferro S’lício 60% . ... Ferro Manganês — 80% Ferro Cromo — 70% Ferro Molibdeno — 50% Ferro Tungstênio — 70% Ferro Vanádio Ferro Silício — Manganês 4.000 — 6.000 Zinco Sulfureto de Carbono F'ósforo Ácido Fosfórieo Grafi‘e Carbureto SilicKso Carbureto de Cálcio Alumina Fundível Aço (Gusa Frio) Aço (Gusa Líquido) Carbureto — 80% Carbureto — 100% Gusa (eletro-redução) r rs r ff ft ff tf 2.400 — 2.800 800 — 1.000 8.000 —11.000 4.400 — 4.600 3.000 — 4 e^^o 6.4Ü0 — 7.700 2.600 — 2.800 2.000 — 3.000 6ü0 — 800 100 — 400 3.100 3.830 2.000 — 2.500 ft tf tf tf ff ff -0 ft ft ff ff i, tt ft t» » >1 tf >» tt tf tt tf tf tf ft
ELETRÓLTCOS
ti
1
No caso da Indústria do Alumínio a observação é a mesma. A incidên cia sobre o alumínio em lingote ê uma e no produto manufatui*ado la própria fábrica será outra muito diversa. j .uáÉÜ ii^' ■
nos Inevitáveis, além daqueles da exata estipulação desta influência, sua confirmação e fiscalização pelo serviço público encarregado.
Uma outra ponderação a ser lem brada nesta casa, é que esta in fluência percentual sofre variações
com o tempo, pois o kwn tem uma estabilidade de preços muito de, em confron o com a instabilida de de qualquer outro produto e mãode-obra. Desta forma, se hoje tal influência alcança 6% amanhã, pro vavelmente, Ccirá para õ. Mui.o fá-
cil será estarmos variando de cias se, Pegando mais impostos. Tal cbserveçao e real e foi confirmada p.r anahse posterior numa usina de aço.
Os adicionais do imposto de consumo.
A alta geral do custo de vida, que provocou a alta dos salários e a fixação de novo Salário Mí nimo, que tanta celeuma já trouNoves impostos prediais, no vas leis de selos, a lei Lafer, que majora em 15% os impostos de renda acima de 10.000 cruzeiros, vendas e consignações e tantos ou tros que se espera apareçam de um a outro momen o.
xe.
granpaís em formação como é o Brasil, pode trazer conseqüências econômicas pre judiciais:
Tor este apaiihaao geral, poue-se venficar como é importante levar em consiueraçao as inuústrias de base, para fjns desta taxaçao. Justificamse, pois, as .entativas 4ue extra-ofici**imente se tentou fazer, no sentido
üe nos precavermos c.ntra este peKiitretantü, a ausência de uuia ngo.
força uníssona, lutando por certas prerrogativas não se pode inculpar como simples descuido dos mais di retamente interessaüos. Sem dúvida, realidade que se constatou é ou tra: 0 impôs o único sôbre o kwh foi, talvez, 0 menor dos impostos e oneraçôes criadas, nos últimos anos. Talvez nunca aconteceu antes tanta tributação conjugada. Veja-se:
a os
A reforma Cambial
A criação da Petrobrás.
A própria crise de energia e inúmeros investimentos reali zados para se obter força própria.
Uma supertributação. num
Os economistas da atuarenda na-
lidade têm dado muita atenção à cor relação entre tributação e cional, de onde tiram ensinamentos
valiosos.
A propósito, Colin Clark, ren do economista australiano. : de todas as tribiTaçnes
'maadverte que a soma não deve ir além de 25% da renda Quando este mimero é ul- nacional,
trapassado. afirma êle. ê=te excesso de tributação exercerá influência in flacionária. quando sua acão normal deveria ser simplesmente deflacionâÉ sabid'' que em 1951 esta re- ria.

lacão era de 29%. Hoje com os ácrios cambiais e outros impostos, é possível OOP tenhamos ultrapassado a casa dos 3^%. Uma comnrnvacão desta teo ria foi o árrio cambial, que nã"^ deixa de ser um novo e tremendo imnôsto Innondo ao -novo. A«^uardava-se. uma deflação pela retirada do meio circidaní-e e o que houve foi uma nova inflarão.
Al-^m disto, o excesso de ^r^hni-arão esl-á pronorriopando um poder finan ceiro extrem'’mente forfe nas mãos do Governo Federal, política esta con- do.
O impôs'o sôbre os lucros ex traordinários, que teve sua tra mitação interditada para reestu-
DxCL^TO tCONÓMlCO 79
trária à descentralização administrae poiiuca muntcip-lisca que ho¬ je g-.niia VUKO.
E como escopo final. existentes, possibilite a oferta de energia pre cedendo e estimulando a demanda.
Coiiseqüeniemente, o L^li i.as per-íictí
industrial, tner«.ções, concoruara iiue uiu«i a nit*is ou a menus, com

ou bein razao, perue a impor ancia, porque a con^equenre alua uo preço uc seu proouco será a compensação lógiCu por todas estas tnbucaçoes.
E agora, perante todos aqui reu nidos, poderiamos também opinar da mesma forma. Porém, quando o CIMK encaixou êste tema, entre ou tros, para ser discutido nesta sema na, Lina cousa tinha em vista; Pro vocar uma manifestação coletiva so bre o assunto e, ao mesmo tempo, analisar com ponderação tal influên cia. De nossa parte lembramos, que se queromos constituir bases sólidas pa ra uma industrialização intensa, fazse irister não mais aceitarmos indi ferentes tais tributações. Temos que nos defender contra tudo que possa dificultar ou prejudicar a conquista de uma sólida implantação industrial, sobre uma base social econômica está' vel, p-'is, do con rário, apenas contribuiremos, com tal indiferença, pa^ ra um clima de insegurança coletiva e de autodestruição.
A INTERFERÊNCIA GOVERNA MENTAL E O DESENVOLVI
Cem a criação do FNE, com a disliibuição de quotas para os Estados, Municípios e União, surge, para o país, uma nova circunstância: a intensiiicação da interferência do Es tado em assuntos de Energia Elétri ca. Esta interferência vinha se pro cessando de uns oito anos para cá em diversos Estados, e pelo Governo Federal, com a construção da Usina cie Paulo Afonso.
Já mostramos atrás que se admi¬ te hoje, como imperiosa, a interfe rência dos governos no campo da produção da energia elétrica, onde, agente supletivo, corrija e sim- > como
plifique os interesses privados, bem promova o aproveitamento mais racional das disponibilidades como
Não sabemos o que irá acontecer nos diversos Estados, já que lhes surge uma nova fonte de i-eceita proveniente do Fundo. Nos ciue vêm realizando obras há mais tempo, gundo planos próprios, anteriores à criação do Fundo, já se pode prever que provavelmente continuarão suas dire;.rizes atuais, caso de Minas, Rio Grande do Sul. São Paulo, etc.. Natui*almente queno reforço financeiro que berão por conta das quotas que lhes couberem, acelerará suas obras, interessante constatar que estes três Estados, apresentam diretrizes dife rentes.
agora sccom Assim é o o perece-
uma con-
Assim é que São Paulo — de série de usinas programadas, iniciou a construção de uma — a do Salto do Paranapanema — para 80.000 CV e recentemente a do Jurumirim. Todo 0 encargo financeiro coube ao pró prio Estado, que a organizou final mente como s-^ciedade anônima, niti damente estatal. Apenas pretende li mitar sua influência, produzindo e vendendo em grosso, às Cias. cessionárias já existentes da redon deza e até à cidade de São Paulo.
Em Minas Gerais, a orientação ge-
t- ●» - ● Diütbio EcoNO.vm-oT^ tíU
í
. /
l-
i i‘ í
Ê
\ I
MENTO DA METALURGIA
I/-lí-
j.
u or-
ral adotada pelo Estado foi ganização de empresas de capital misto tipo “HOLDING”, complementa com o necessário para o êxito do empreendimento.
ü Estado tíxe-
eatabelecimenio da Eletrometalurgla, recursos naDaí o arrojo do romper propugnan-
No Estado do Itio Grande do Sul. 0 governo, através de um órgão au tárquico — Comissão Estadual de Energia Elétrica — CEEE cuta a construção de um conjunto de usinas termo e hidrelétricas, inter ligadas, todas elas deverão garantir no futuro as necessidades do Estado. — principalniente da metade norte. A orientação imposta fui a estat.i-: Ção absoluta de tôdas as fases da inindústria metalúrgica em cada um distribuição domiciliar. A possível colaboração particular foi reduzida ao mínimo.
●i4-
para aproveitamento dos turais do subsolo governo mineiro em tentar o famoso círculo vicioso, do abundância de energia e preço, lão grande foi o êxito desta polí tica. que ai temos Minas aiu-astando grandes empresas industriais pa ra sua esfera de ação. E, antes mes mo que suas usinas estivessem ulti madas, suas capacidades estavam tô das comprometidas, o que está ani mando o governo a novas iniciati vas do mesmo gênci*o.
c) Rio Grande do Sul — A orien tação seguida pelo chefe da autarquia gaúcha ò nitidamente de fundo social, as obras que A justificativa para executa é o abastecimento da ener gia elétrica aos lares citadinos e se A coexistência da possível rurais, industria só é possível nas horas de Aqui temos a prias indústrias demanda baixa. meira limitação para a) Em São Paulo Não especi ficou 0 Estado nada a respeito. Seu objetivo primordial foi conseguir uma garantia de fornecimento à Sorocabafornecer o excedente às conces- na c
Vejamos o comportamento frente à indústria metalúrgica em cada um dêstes Estados.
de trabalho contínuo, como o sao as horas de con- metalúrgicas, pois nas doméstico, das 18 às 23 horas, caberão outros consumidores no Êste fato, que passou des-
sumo nao circuito, sionárias da redondeza, para r*efôrço de seus sistemas. Pela liberalida de aqui existente, aceita o Estado qualquer tipo de indústria a menos que não haja energia disponível. A colaboração particular, que aqui foi total no suprimento ao Estado, pelo que temos notícias, continuará. Há, sem dúvida, a dificuldade natural crise de energia instalada e dificul dade de normalização da situação,
b) Minas Gerais — O magnífico estudo de Lucas Lopes, Bernardino de Matos e outros para a Cia. Bra sileira de Engenharia, que elaborou 0 Plano de Eletrificação do Estado, prevê uma política de estímulo ao
percebido, já se constata atualmente, e é a própria Comissão quem adverte interesados futuros desta con- aos tingência.
Aí têni, senhores, modos distintos de agir cujas consequências para desenvolvimento da indústria me talúrgica — notadamente a eletrometalúrgica — sofre a influência cor respondente.

o
GOVÊRNO FEDERAL
Quanto ao comportamento do Govêrno Federal por intermédio de
Lmolíio bcoNOauco
suag organizaçScs (Hidrelétricas do São Francisco), temos a imnressão de que não dificultará o estabeleci mento de indústrias eletromet'’lúrcricas, a despeito do caso Reynolds, que provavelmente se reves ia de carac terísticas o=peciais. Nos dcmnis em preendimentos. como a Usina de Candíota ÍBa?é — R, Grande do Snl),

em início de construção, oi; a tcrmoclétrica do sul de Rontn C'’tarina
(Plano Nacional do Carvão) pensam^-s nue o raciocínio será o mesmo: s“t4 função dos nreens finais que se obti r«Tn p'’ra o kwh. ,Cnm .a criacão do FXE. vai o Governo Fed^^ral tr'’r ativamonte dneão da energia eláfrica. por inter-
enno camno de nroõa lá anunciada ELETROBRAS. criação da
Na mensagem que S. Excia., o Sr. Mmjstro da Agricultura, enviou à Presidência da República, em novem bro p. passado, expõe claramen poderá ser e quai orientação futura do Governo Federal. Na realidade fo ram confirmadas
a com a recente men sagem que organiza o Plano Nacio nal de Eletrificação e Eletrebrás. São suas as seguintes considerações:
— “Urge modificar êste estado de cousas; e a solução indicada parccenos que é a de conservar o sistema de concessão às entidades privadas, co brindo a deficiência apontada acima, com a intervenção do gr;vêrno na pro
rentes, Inte^ada num plano de eletri ficação, f rmado por sistemas, com instalações existentes dos diversos concessionários”.
Tais considerações foram expres sas. não sem antes proceder-se a uma an.ólise da orientação seguida nos di versos Estados e até mostrando discorílância à cer‘os cas~s est.aduH’S.
sua Tcn mrsee a
Seu objetivo f'nal — .sunerar a de manda — é iíleal G. sem dúvida, uma das cnndicõGR “sine qua non”, para que a Indnstr-a el'»trome*ah1rgica pos sa se estabelecer. E nara se conseguir este estágio. miiHo terá que se fazer, po’s atravescnmos um ncríodo de cri se. com u>*ims esgotadas, onde há mu’to se vêm fazendo restrições na utilização da energia elétrica, mos nois a conviccão de nu“ tiein'’cão meis ativa do Go^^ê^-jin pn. deral. na nrodncão da enorrF?»» nlétnca por intermédio da Eiotrobvás. rá comoJuia e não será entrave ao desenvolvimento da Indústria Meta lúrgica em geral. Estará condiciona da, entretanto, à disponibilidade preços adequados para esta energia.
O PLANO NACIONAL DE ELETRIFICAÇÃO
a
dução de energia elétrica, mediante construção de grandes centrais e a interconexão de usinas, instituindose os grandes sistemas de eletrifica ção”.
U
Esta intervenção deverá ter ca ráter supletivo e abrangerá apenas a produção e a transmissão de energia elétrica, de preferência em zonas ca¬
Difícil se torna ao autor comentar o Plano Nacional de Elotrificaçâo, dado que a mensagem que propõe sua criação é recentí.ssima, não tendo ain da havido tempo suficiente para análises mais profundas. Entretan to, pela repercussão imensa que terá na economia geral do país, não po demos perder esta oportunidade de apresentar algumas considerações, e se possivel, comentá-las posteriormen-
to. Vejamos suas linhas mestras;
82 Dicesto Econôxuco
ITO
L E>
1) A orientação geral sugerida pel-' Sr. Ministro da Agricultura em sua mensagem, foi adotada pelo Sr. Presidente da República, isto é supletiva às iniciativas já existen tes.
2) Propõe-se o governo a cons truir uma série de grandes centrais e in erligá Ias racionalmente de for ma a obter o maior rendimento pos sível do sistema.
As interligações acima referida.s estarão dentro de quatro sistemas in dependentes:
d) TRIÂNGULO (DOURADOS) e GOIÁS, e ainda os sistemas independen tes, isolados.
8) UNIFTCACAO , DA FRE QUÊNCIA nara 60 ciclos, em todo o território brasileiro bem como imifrrmização das ^ensões.
4) Instalação da Indústria pesa da de m'>terial elétrico, com apoio do poder público, ou pelo próprio poder ~ pi>blico.
CACHOEIRA DO a)
b)
HIDRELÉTRICA SÃO FRAN CISCO
FUNIL NO RIO DAS CON TAS (BAHIA), atendendo to do o nordeste até ao sul da Bahia.
SISTEMA DO CENTRO DEvSDE MINAS GERAIS ESPÍRITO SANTO até SAN TA CATARINA.
5) CRIACÂO DA ELETROBRAS — Empresa de canital mist”. respon sável pela pxecucão do Plano Nacio nal de Eletrificação.

6) O prazo para a execucâo do Plano é de 10 anos, sendo aue pri meiro se executarão os empreendi mentos preferenciais, e em segundo lugar, um plano de expansão dos sis temas propostos.
c)
SISTEMA DO RIO GRANDE DO SUL.
I — centrais ELÉTRICAS
Para o primeiro grupo de empreendiment''s preferenciais, constante? v. do anexo A, da mensagem, salienta mos:
14.514.000.000,00
II — SISTEMAS ISOLADOS E SERV. l.OCATS ni — UNIFICAÇÃO DA FREQUÊNCIA
IV — IND. PESADA DO MATERIAL ELÉTRICO
V — ESTUDOS. PROJETOS, ADMINIS TRAÇAO
2.268.0^10.000.00
1.000.000.000,00
.$ 1.500.000.000,00
Cr.$ 200.000.000,00
Cr.$ 19.482.000.000,00
Obras do segundo grupo:
ESTUDOS DOS SISTEMAS
Cr.§ 12.915.600.000,00
7)
Prevê, ainda, uma operação de crédito até USS 250.000.000,00, ra atender às necessidades da cução do Plano (art 6.°).
Muito há a comentar, em torn paexeou m
o de tão grande plano. No momento, ape nas faremos alguns mais relacionados ao tema do dia: enos
Dicesto Eco^●6^^co 83
MINEIRO
Cr.S
Cr.$ Cr-$
Cr
Instalação da indústria pesada do material elétrico. — É óbvio que ao desenvolvimento efetivo desta se condiciona um desenvolvimento si multâneo de várias indústrias meta lúrgicas, sem o que faltará a maté ria-prima adequada àquela.
Naturalmcnte, esta iniciativa de ve ser comedida, para não ultrapas sar 03 limites de sua exeqüibilidade, tendo em vista o meio.
r A Unificação das Freqüências
lei, conforme os artigos 13 e 16 do PNE.
A proposição da cidagem, diferen te da proposta em 1938, é amplamen te explanada. Não deixará, por cer to, de merecer considerações espe ciais dos especialistas.

Das usinas que serão construídas
0 programa apresentado nos aneA e B, do Plano Nacional de Eletrificação soma um total de . . . . 3.896.000 KW a serem instalados em 2 etapas nos próximos 10 anos.
xos se a
Sua substituição, Causará transtornos na cer
PSe bem que será uma empreitada a ser indenizada pelos fundos do FNE, mei*ece consideração à parte. De um lado, a consecução dêste objetivo seria um tento que o país lavraria pela simplificação que a padronização traria à industria e ao comércio de material elétrico, e ao sistema de in terligação que se projeta. Entretan to, também tem seu lado adverso. Em grande parte do país a cidagem ado tada é 50 ciclos, mesmo às expensas do Governo Fe deral, não é tarefa tão fácil na prá tica.
Pelo que pareceu, esta programa ção visa a acompanhar o crescimen to da demanda. Torna-se difícil abor dar este ponto, pois não sabemos teve em vista consumidores especiais de grande porte, etc. e também co mo foi encarado o futuro consumo. Entretanto, nas partes referentes à usina de Santa Catarina, verifica-se imediatamente sua correlação com Me<-alurgia.
Mas isto não deve ser nossa simnos esquecer
ta, mormente à industria mecânica e metalúrgica, obstáculo à medida de alto alcance, à qual devemos emprestar patia. _ Não devemos que tal unificação forçará um dispêndio de cambiais, num momento dihcil.
E também no momento em que se instalam usinas, com toda a urgência, no Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espirito Santo, em 50 ciclos, é pre ciso cuidado especial para que esta legislação não venha atrasar a rea lização de programas já elaborados, já que é compulsória a aplicação da
A Usina Tormoelétrica de Santa Catarina — A idéia da construção de usinas termoelétricas junto às minas de carvão é hoje vencedora, eni contraposição à orientação até en tão existente. Esta questão é suma mente importante para nosso estu do, apesar de es^ar inclusa no Plano do Carvão. Forcosamente exercerá capital importância no comnlexo de interligações, previsto no Plano Na cional de Eletrificação.
Na mensagem do Sr. Ministro da Agricultura pouca importância foi dada à instalação futura da usina termoelétrica de Cresciuma — San ta Catarina, apesar de nue na da criacâo do Plano de Eletrificação Na cional, já lhe foi dada atenção maior. Após um minucioso estudo da li-
1% Digesto Eco^●ó^^co 84
(■
nha Rio-Sáo Paulo, quanto a futuroB abastecimentos de energ^ia, conclui o Sr. Ministro da Agricultura pela necessidade imediata, da Concessio nária duplicar a usina de Piratininga em São Paulo. Também instalar uma termoelérteia no Rio de Janeiro para 200.000 CV, ainda neste qüinqüênio, para amenizar a crise maior, que é prevista para ar/ós 1960, nesta
Muito provàvelmente o plano Na cional de Eletrificação poderá conter alguma cousa não bem ajustada. Pela rapidez com que foi elaborado isto se explica e naturalmente será alte rado com o tempo.
— reesregião.
Entre a circunstância de instalai mais usinas termoeletricas que irão consumir combustível importado, pro vocando dispêndio de cambiais, é preferível uma conjugação de esforexecução rápida da usina de Cresciuma e sua interligação ao sis tema do Centro, através das usinas do Ribeira e Rio Negro. Tal ponto de vista está perfeitamente de acordo Plano de Carvão e vamos afir: em consonância com um possi-
Cálculo exato da demanda tudo dos fatores de carga regionais, oportunidade, conveniência desta ou daquela interligação — melhor entrosamento com as organizações já existentes (Cia. Salto Gi*ande do Paranapanema, por ex.) planejamento econômico, etc. . .
CONCLUSÃO
ços e a com 0 mar
vel Plano Siderúrgico, pois que tal queimando subprodutos dos la vadores, proporcionará uma estabili dade adequada à indústria do carvão e indiretamente à indústria siderúr-
1) — Um país como o nosso, com limitados recursos em combustíveis sólidos — em quantidade e qualidade — confia poder utilizar a técnica mo derna de eletro-redução. Faz-se mis ter, porém, que aproveitemos nossos sistemas hidroelétricos de forma a ter mos energia abundante e o mais ba rato possível. As incipientes reserde petróleo nos indicam esta di- vas
usma, I retriz.
2) 1 gica. PN.E não
Outras usinas progi-amadas com o fim de socorrer a demanda do cir cuito Light-São Paulo, são as usinas do Ribeira, com 270.000 KWH.
A execução do programa do elimina a necessidade das
Cias. particulares ativarem seus pro gramas, assim como os governos Es taduais.

3) Apesar do desenvolvimento indústria metalúrgica vem que a
Muito provàvelmente elas poderão gi’ande influência na zona é altamente mineraliexercer adjacente tendo nos últimos anos, seria aconse lhável salvagTiardar, poi* todos os meios, o normal desenvolvimento e o estabelecimento desta indústria e de outras ditas de base. Dentro do fato consumado da criação do FNE, já aprovado pela Câmara e Senado, poder-se-ia como paliativo aplaudir a sugestão da emenda Senatorial da aplicação da cobrança às indústrias em escala crescente.
, que zada, apresentando já número ra zoável de companhias mineiras e quiçá, mais tarde, indústrias meta lúrgicas.
O reforço da capacidade na zona do Rio Santo Antônio em mais 150.000 KWH, permite prever vanta gens para aquela zona metalúrgica, como já aconteceu ont.es.
Dicesto Eco^●ó^^co 85
\
Por outro lado, para se con seguir qualquer outra atenuante pa ra as indústrias de base, torna-se necessário todo um processo especial no Parlamento. Porém, se convenien te, deve-se tentá-lo.
Uma sugestão recém-aventada é a de gravar apenas em 5u% da taxa total, que normalmente deveríam pa\ gar as indústrias de trabalho contí1 nuo, onde a influência do kwh é capitai. Isto correspondería ao trabaIho noturno, gozar da isenção da ta xação.
Em segundo lugar:
Ser considerada como compra compulsória de apólices ou ações da prójjfcl. Eietrobiás, a arrecadação coraHf pulsória do imposto úmeo nas indús^ trias em gorai que se vão criar.
6) — Extensão de financiamento à construção de usinas de interésse predominantemente privado, mas que sua utilização seja capital para indúslria de base.
6) — Adoção de uma política mais ativa no tocante a financiamento petr los diversos órgãos Federais, às ini^ ciativas estaduais e particulares, no ^ setor da energia elétrica. Idêntica sugestão para a consecução de cam' biais.
do Govêmo colaborar para apressar solução efetiva dêste problema.
8) — A aplicação do plano, no to cante à uniformização da freqüência, deve merecer uma atenção espe cial, para que não se tenham transtor nos mais c<-mpiexos para o futuro. Se se tornar irreahzável esta questão, então limitar tal uniformização às zonas geográficas e econômicas. Não nos esqueçamos que esta medida de penderá de consumo maior de cam biais.
Faz-se niis‘er completar revisão sobre a política Federal so bre águas e energia elétrica (código de águas). Uma revisão adequada possibilitará maior atração de parti culares a êste setor. Não deve o Governo Federal subestimar tal cola boração.
a
V)
Considerando que foi aproi vada pelo Senado a auterização ao Governo Federal para efetuar ainda I este ano, operação de crédito até i Cr.$ 1.500.000.000.00 por conta dos » futuros recolhimentos, seria oportu. no liberar tão cedo quanto possível . tel verba e utilizá-la em financia. mentos das obras particulares e es-
. t.aduais que estão ém fase de exeSeria uma forma brilbante ruçao.
10) — Quando à interferência es tatal, é digno de notar a orientação do Governo mineiro, que objetivou bem êste prcblema sob o ponto de vista do desenvolvimento metalúrgico considerou na elaboração do seu pla no. Já no P.N.E., se bem que não foram feitas tais objetivações, é de se esperar uma vantagem generali zada. As usinas de Santa Catarina e Vale da Ribeira, poderão no futuro prrporcionar ótimas possibilidades indústria mineira e metalúrgica. O reforço destinado ao sistema Minei ro, no Rio Santo Antônio, trará idênticas perspectivas.
o o u
11) — A criação do ministério de Minas e Energia, como conseqüência natural da evolução das a‘ividades mineiras e energéticas será decorrência, que se aguarda com an siedade.
uni:i

> *0 Digesto EcoNó^^co 86
a (
4) ’
0)
I

DlCJUíTO EC0M''/AJ ItC.' 87
FUNDO NACIONAL DE ELETRIFICAÇ.XO QUADRO EVOLUTIVO SÔBRE O ÍMPASTO ÚNICO SABRE O kwh PARA FINS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS Conforme Presidencial ; Cámarn — Maio 53 Confor aprovaçã üut. me Conforme aprovação do Senado Dez. 53 o da 53 0— 20 kwh 20— 50 60 — 200 além 200 íf 0 ctvs. 10 ff LUZ 20 ctvs. 20 ctvs. 20 M 30 0 — 6% 5 — 10% 10 — 15% 15% e mais 10 ctvs. 10 ctvs. 10 ctvs. ff 5 5 n 6 ft FÔRÇA 2.5 ff n 3 » S 0 n »» 1 1 s 5% do valor du conta. 3 ctvs/kwh FORFAIT Vi
QUADRO I

i DiCESTU EconOmu.o
2838 RECEITA PREVISTA PELO FUNDO NACIONAL DE ELETRIFICAÇÃO ■ ■ ‘ Em Cr.$ 1.000.000,00 1954-1958 1954-1964 1964 ; Imposto único sôbre o kwh j parte do Govêrno Federal — 40% r I 7.098 2.700 440 1 I I I I ; Adicionais sôbre o imposto de 1 consumo 624 3.637 8.384 Dotação orçamentária Federal 400 2.000 4.000 I I Total para o Govêrno Federal 8.237 1.464 19.482 I » Imposto único sôbre o kwh parte dos Estados e Municí pios 60% 660 4.049 10.648 I Total da receita: 3.588 20.623 49.612 I 1 A r<-
QUADRO n DIÁRIO DO CONGRESSO DE 14-10-6:i Pag.'

V m a .-S.§ ã^sli I sIÜ .-S h tí t» À’l W§ Q O O o M o o U3 w <N O O CO o LO i>H CM CM CO : P o « ●a Q> O S K o ^ -e V3 IO »' ® Ifl <o> o o ,2 o £ o N r, o ? eo os V cs cs IO " -TT ii 0-^0 00 o CM 00 OI O t» a O ●«* o « lO CO ec cs bo <y -. a::3 o v ● !-● O M O CJ 2á T3 V 1 «O o o o ● l o cs H v; « Õ V rH t: Ji o o 0^0 o o o o o o o o o o o os oi 00 IO oe cs oi o o o o o o" o o o o o o o o CM 00 1-5 o CO lO c- cvS CM £ « .2 c o o o o o o o lô CO CO CO 1-1 o o o o o o o o o eo CO o o K u o CJ T3 w CJ «« o o o o « :2 o lO 0 eo 00 to CO l-S 1 z c to CO o. o -2 rt o o o .jj «●C o o 00 CM CO 3 "S ^ ”^ 23 I §■= ES I w ® ICS o« c o o o o o OIOCSOO^^^^OO I om^^CM-OI CMIOCOCM ' 1-5 r-5 CM o o o CM CM 00 CM CM 1-* eõ eò cs 00 00 ôò 00 oo ü6 b. < CO es z CO CO CO s ^ s« Q "P fH T3 c z < ei a CO C. P (O ^ g- o TO H aJ - CO U 0) o ® lO ^ o -S 0> (O CM OOOiHCMrHCvlCMCDCDCMCO OOlOOOOOCMlOi-iCOCSOOCO CM 00 -Cli CM CM 1-4 o I-H CO 1-1 CO 1-1 os C< os 3 cx o ● o to cs «.§' s?,p oj rP a) o S Q. ^ o W iH « p sJ «u <s_ CO Q : TS CO CM eo CA V3 TO TO to ●'= TO "O "p stO z3 to cs ●o 7! TO a CA CA o S CA 0) 0> ●u cc. o OOOOOOOO oooooooo I oooooooo I OOOOOOOOCS lOlOOSOcOCOlTOO Q. o o o o o o o o o o o c=> C- C- to ●TO< «o o r! "O (1) íA '/) o CA 0) o o> es ●c '1 T3 CO 00 p eS CO CA TO ■« CO CO TO TO o -c C3 ●c CM .p ?● u TO bl eiC TO <u TO E-! na - I 01 {Ú o o E- E-1 z TO TO CO o ü! .s í> TO to o TO n o IP ●o TO r2 « o,p a> TO o 1 'o P o ' o to - 0.CA_5W●c CO TO TO - ü o Sj CA i VH iS -2 . bi "2 CL. CL.tíSSctíCOÈiCQ u TO TO 53 CO TO TO C B TO CO TO CO p « < a -2 « CA g 04 % z TO 3 o. o N3 o -4- 2 ITO 5 CO O hJ h <í Eh 42 5 bXi TO j;5 u 1.1 o « E- I,
Política de desenvolvimento da Indústria Automobilística no Brasil
Conferência pronunciada no
Comandante Lúcio Martins Níeira CENTRO DE ESTUDOS MORAIS RÊGO’^ de São Paulo, em 26 de abril de 1954.
O PROBLEMA DOS TRANSPORTES NO BRASIL
Osurto de desenvolvimento econô mico do Brasil, na última déca da, veio encontrar o país pràticamente desaparelhado em sua organiza ção para atender às suas crescen tes necessidades de tcansp’'rte e ener gia, exaltadas por uma movimenta ção de matérias-primas e produtos . acabados, pelos níveis de manufaturação interna — para os quais não I foram planejados tais serviços infra-estruturais.
f No setor de transporte do país, ■ suas vias clássicas, a ferroviária e a navegação, haviam sido delineadas no / passado, com base em uma organizaI ção econômica que há vinte anos ^ prenunciava estar entrando em fran; ca obsolência, correspondente que y era a uma estrutura pré-colonialista, I' através da qual o país se limitava \ a recoiTcr a fornecimentos de manu■ faturas de consumo do exterior, pa‘ gando-as com exnortações de maté' rias-primas e produtos agrícolas primários, de preço vil.
se
\ O deslocamento de tal esquema
primitivista, para o que presente mente se desenvolve entre nós, deve^ ria necessariamente ser acompanhado da revisão dos planos ferroviários
\ 6 de navegação' brasileiros, não sòbuscando a verificação das f mente
: necessidades de sua expansão quan-
titativa, como da diversificação das
zonas servidas pelo mesmo, dere-se, por exemplo, a profunda di ferença trazida para a vida nacional, nesse setor, com a produção interna substitutiva de aço no vale do Pa-
Consi-
raíba, passando a demandar da E.F. Central do Brasil um carreamento da ordem de quase um milhão de «-oneladas de matérias-primas e produ tos acabados, quando dantes, consumo semelhante de aço, era solicitado a essa estrada.
para nada ^ não obstante, é a mesma ferrovia, existen te desde o século passado, que encarrega dêsse serviço,, apenas com “retoques” em sua estrutura e tra çado.
so
O aumento continuado da produ ção interna eleva o standard de vida do país, e pi*cssiona a demanda para bens de consumo importados. Os pectivos incrementos da importação vêm contrabalançar, em termos de volume físico a transportar, as pou panças criadas pela produção inter na substitutiva, e assim, é mantidn. ou mesmo incrementada, a solicitaçS de transportes para que foram cria dos os presentes sistemas ferroviário o de navegação nacionais. obs¬
reso tante, estes últimos não acompanha ram a evolução do estado de cousas brasileiro, angustiando o seu progres so com suas deficiências por todos sentidas.
Em 1934, o país contava com cêr-
sentemente, êsse número sobe a ca de 33.000 Km de ferrovias.

»:
l
Pre
-
í
quaapenas nesse quanmesua c a Renun-
●36.700 Km, com uma expansão, Stí desprezível, em 20 anos, de 10%. Sua frota de navegação foC mais generosamente rcaparelhada passando, nesse mesmo período, do 500.000 a 724.000 toneladas brutas. Mas a organização de suporte para a navegação brasileira p iico evoluiu, quanto a portos e interligação dos mesmos com os centros de consumo, e cêrca de metade da frota já está obsoleta, mantcndo-sc assim, setor, deficiências marcadas to aos serviços dele solicitados.
Modernamente, pode ser conside rado como pràticamente desprovido de recursos de transporte ferroviá rio o país que, como o Brasil, apre^ sentar núnieros-índices de 4,6 tri s de ferrovia por quilômetro qua drado de superfície, ou 70 centíme tros de linha por habitante. E esses índices são ainda eloquentes em mesquinhez, se se consideram apenas as zonas de maior progresso econômi co nacional — pois que, referidos k faixa litorânea brasileira, e à respec tiva população, passam a apenas 13,8 metros per quilôme‘ro quadrado 2,1 metros por habitante, ciamos aqui a paralelos com outras nações, de tal modo gritantes seriam os mesmos.
Recentemente, foi concluído um es tudo detalhado e extenso sôbre a si tuação nacional do setor de transpor tes clássicos — ferroviário e nave gação. Os números obtidos e as ob servações feitas permi em medir exa tamente as dificuldades com que lu-
ta a produção brasileira para se ex pandir, a conta das suas deficiências infra-estruturais.
Concentrando análise do proble ma dos transp.rtes ferroviários so bre 33.30U Km de estrauus : e resum.ndo o pKno de trabalhos bre
a nacionais, - so as mesmas e simples obras de òua recupertição, sao de suas linhas, os orçamentos ela borados chegaram a alturas alarman tes. A preços de 1952, sei*ão necessá rios US§ lõl milhões e Cr.§ 7,7 bi lhões para extrair da rêde fer roviária nacional serviços de efi ciência compatível Cv.m o atual .raçado de suas linhas. Para tanto, se rão necessárias cêrca de 500 mil to¬

sem m..ior extenneladas de trilhos, ou seja, a pro dução total de Volta Redonda duranDeveriam ser substi- te 16 meses, tuidos cêrca de 8 milhões de dormentes — equivalendo a 40% dos que estão efetivamente em serviço. Seriam necessários cêrca de 13.500 vagões noves, sôbre os 65.000 exis tentes, e reparos ou modificações sô bre quase 40% desses úl.imos.
No setor da navegação, ocorrería ainda a necessidade de despesas montan‘o a cêrca de US$ 30 milhões em embai-cações, e US§ 38 milhões em serviços portuários, além de Cr.$ 420 milhões e Cr.§ 1.000 milhões respec tivamente, de despesas em moeda nacional.
O orçamento total errrespondente às atividades infraestruturais de transporte no país, subiría portan to à soma de Cr.Ç 13,5 bilhões, ape-
fo Kcünômico Ul
V St A' hàM*.
os
limitado propósito de sua nas para o recuperação. Se executado em 6 anos. como previsto, representará uma desanual de Cr.S 2,7 bilhões-12% pesa do orçamento da União, dos quais dispêndios em moeda estrangeira subiríam a USS 87 milhões por ano — mais de 5% das disponibilidades cambiais de todo o Brasil.
consciência ^“dnviár.a |ue cristaliza no Plano Kod"' cional cm plena execução. estradas, pioneiras, envolveiam trabalhos modestos
la mas embora oferecendo facilidades Mmitadas ao tráfeero, sempre pec. ndtiam a passagem dos ve.culos de carga O sltema podena se apertei. coL? como o vem sendo, no correr do 5 ’ n na medida das dispombiR. tempo
uma se ras , c na mcuiu«
À iniciativa privada pouco ficaremediar esse estado de cou* na para sas, afora o único recurso efetiva mente adotado — o do transporte ro doviário. Familiarizado o homem de particulares. reinante, f^. Â conta da situação
emprêsa brasileiro na lida com os veículos automóveis, não lhe restava outra alternativa senão o de provi denciar êle mesmo sua frota de trans porte, e de pressionar as autorida des goveniamentais para realizar sua parte na tarefa de prover meios substitutivos para o carreaniento da produção nacional, e isso com maio res probabilidades de sucesso, face a duas circunstâncias fundamentais:
— O investimento de capitais no transporte rodoviário pode ser di vidido entre o poder público e a iniciativa privada, e quanto a es ta última, ainda subdividido entre grande número de empresários.
Não demandaria portanto inver sões maciças de uma única origem.
— As providências e realizações no setor rodoviário podem envol ver uma planificação em etapas, sucessivas, em sentido qualitati vo, provendo-se desde a primeira, porém, às necessidades de sei*viçoy embora apresentando mani festas deficiências em sua preca riedade.
Desde 1930 o país foi adquirindo
dades de recursos govei-namenta.s e
ce às dificuldades de providencias pa, ra 0 reerguimento do sistema clôs. sico de transporte no pais, ferrovia^ transporte rodoviário e navegação, o
passou portanto a assumir presente, mente importância primordial na vj. da econômica do Brasil.^ 1 ornando para avaliar essa importância o ano do 1948 como base, verifica-se (Fig. 1) enquanto o movimento in. terestadual de carga transportada rodovias quadruplicou em 6 anos. permanece estável o transporte roviário, e apenas subiu de 607o transpoi'te sôbre água. Os núnier citados se referem a toneladas trans. portadas, e a configuração das estaaliás não disponíveis, refe.

por o Os tísticas,
rentes a toneladas-quilômetro, indi. caria uma situação menos precária ferrovias e a navegação ^ para as embora mostrando maior progresso no setor rodoviário.
Como conseqüência da situação dosparticipação rodoviária crita, a movimentação de carga, apenas comércio interestadual, assumiu U-
na no derança sôbre os demais sistemas, a partir de 1953, e tudo indica que a manterá por largo tempo, a julgar
I
pelos valores e fatos am» , o (fig. 2). Quase 50% d^e' portada além dos limites ^ L lo^Q estaduais no pais, em 1953, circulou sobre ca minhões. Acrescida ^ tal p

paçao, a movimentação de artici^ - carga dentro dos hrmtes de cada Estado, sôbre 0 que não se dispõe de dados tísticos, pode-se imaginar to passa a depender sileira do transporte
central, em busca das bacias do Ara fruaia, Tocantins e alto Paraguai possa realizar do SC mesmo modo, se ja a partir do Amazonas, seja a partir da bacia do S. Francisco e dos afluentes do Paraná, ria reservado minhão Então, estapresentemente ao cao papel representado no pas
estaa que ponProdução braa sado pela tropa de burros cargueiros, , ^ 1‘odoviário. ^ portanto, a importância assumida pa ra a vida nacional pelos veiculos nuc 0 realizem.
no serviço pioneiro dos bandeirantes, c Pesteriormonte, com a melhoria das trilhas primitivas, de estradas, duplicação do pistas, re dução de rampas e raios de seria ainda o caminhão o agente que consolidaria as conquistas territoriais do sertão brasileiro ainda por desbra-
var.
no asfaltamento curva, É possível que a situação dos , - trans¬ portes no pais possa vir a sefrer uma revolução em tempos vindouros, tque com isso se vol‘e à preponderân cia dos tipos clássicos deto. Certo é porém que tal carreamen--- mutação
hipotética não voltará à estrutura de antanho, em face mesmo das peculia ridades geográficas e do desenvolvi mento histórico do país.
A colonização brasileira, realizada ao Icngo de sua faixa litorânea, pro vocou um desenvolvimento marcado em seu sistema de navegação' maríti ma, ou se o quiserem, foi provocada e facilitada pelas disponibilidades de transporte marítimo dos tempos Icniais. Durante todo o império, marinha mercante brasileira, com seus navios de madeira, chegou colocar o Brasil, em lugar preeminente no concerto marítimo
coa mesmo a univer¬
Por outro lado, todo um trabalho de interligação das grandes vias de transporte interior, sejam elas fer roviárias, rodoviárias em linhas-tronco, ou mesmo fluviais, somente po derá ser racional e economicamente feita através do transperíe sôbre pneumáticos.' E o que representará, o já está representando, o veículoautomóvel nessas tendências do de senvolvimento nacional, não podendo embora ser medido em números, certamente avaliado peles que sera
tenham a necessária sensibilidade na visão da vida futura nacional.
v-íi
A demanda do sal.
Em fins do século passado, a pene tração na hinterlândia se fez através da ferrovia, na demanda aos alti planos da serra da Mantiqueira e a partir des portos servidos pela velha marinha brasileira.
É duvidoso porém que a penetração mais profunda até além do maciço
Já nos presentes tempos, têm-se repercussões evidentes da situação geral do país quanto ao seu siste ma de transportes em setores nodais da vida brasileira, mercado de veículos vem sofrendo saltes evidentes e criando com êles problemas de superação- difícil, dos que exigem providências imediatas e premonidoras contra percalços inevi táveis se não oportunamente tomadas.
A pressão da prociu*a de yeículos-
rior.
eombial para compras ta automóveis no pais, nos últimos anos, cheg*u a níveis insuportáveis por disponibilidades de pagamen to ao ex erior e assim, mais uma vez, acarreta o problema do transporte Brasil o ônus conseqüente da ne cessidade de mobilização d? roci rsos muito além das suas possibilidades econômicas.
nossas no e em
Dependendo t^-^^almente de importrções, o mercado nacional de veí culos passo no após-guerra a re presentar na balança de pagamentos do país tanto quanto o trigo e os produtos do petróleo, dois notórios grandes itens de impor'ação brasi leira. 0 progresso das importações desses últimos produtos vem acom panhando 0 crescimento demográfi co d-^ Brasil eni evolução paulatina e discreta, enquanto que os doS veí culos automóveis, em desenvolvimen to mais acentuado, termmou por al cançar os níveis de quaisquer dos dois (fig. 3 e 4) passando a represen tar em 1951/1952, 16% das importa ções totais, contra 7% dos pr^-dutos de trigo e 10% dos derivados do pe tróleo. E cabe aqui lembrar que a maior par‘’e desses últimos, cerca de 50% de seu valor, é consumida pelo serviço de transporte.
Boa parte das importações no setor autimobilístico foi impulsionada pe las necessidades de suprimento não satisfeitas durante o período de guer ra. Uma porcentagem sensível das suas compras no exterior é repre sentada pela demanda de veículos de passageiros, de uso menos essencial muitos casos puramente hedonístico — compras essas incentivadas pelo baixo preço dos automóveis, fa ce à desvalorização interna da moe da, não reajustada do ponto de vis-
u para servir como dades internas
culos de transporte géral. análise cuidadosa De resto, uma do mercado demonstra a extensão real da procura desses produtos o re vela que esta, mesmo a preços exa\ tados pelas manipulações cambiais vi gentes, ou por explorações mercan características dos mercados in satisfeitos, constitui uma fonte de cambiais, no
na ca!) da previsões desproporção grande, face a- s portações V
tis absorção de reservas presente e no próximo futuro, cjuc o país está longe de poder suportar Há númer''s concrv- impunemente,
tos que permitem medir essa procura. A curva representativa do número de caminhões em tráfego no Braí.i'. constitui uma ilustração segura dt tendência do mercado (fig. 5). ApoJ período de guerra, modificou-se * taxa de crescimento da frota de txan»o

3 no L>iüiSii^ \hi
l
fa'ôrcs, pernr-' Não obstante tais denian la P' sisto a píe.-isao (*.a ^rtes veículos-automóveis, e suas ,P d; m.nutençàOj referentes a intorêtàse econômico, os' mai r - i.,cr iculos de transporte de carga, J, 'face das razões aqui E essa afirmação poJe fato mente em mentadas. '
ser corroborada pela menção ao de que cm 1951/1952, anos do importi-çôes record de caminhões, os j de con rôle do comércio exteri r o país eram solicitados para a c^onces.são de licenças de importação, proporção de trcs unidades, para unidade efetivamente licenciada. Embora êsse comércio então viprento, de restrições futuras, etc., indicada é bastante licenciamentos e im- j efetivas realizadas, bom índice das necessU de caminhões ou vei.
rodovidrio brasileiro, passando cêrca dc 8% a ll,87oaa.
grama apresentado permite vori‘‘icar essa
O diamutação
, e bem . assim, a boa adaptação dos valores reais à curva com que se busca represen ar o fe nômeno do crescimento do número dc caminhões existentes no país uma exponencial, correspondendo cimento — percentual cumulativo de 11.8% por ano como citado, contemplação dessa curva ciada
novaçâo das unidades mantidas
Os estudos da Subcomissão do Ji pes, Tratores, Automóveis e Cami nhões da GDI vieram demonstrar que, de um modo sreral, os utilizadores brasileiros buscam renovar em sua maioria suas unidades serviço
ao cresassoa considerações relativas à reem eses-
tráfego durante o período de guerra, e chegadas a flagrante obsolência em' 1945, revela, como se verá, que a ren^^vação da frota de caminhões
tava terminada em 1950. Assim sendo, o fato de se manter o ritmo de importações após esse ano somen te pode ser expHcadoo pclo real acrés cimo da demanda de caminhões. Não ocorrería portan‘o, no caso, uma exal tação da prccura com permanência precária, mas uma manifestação tável do mercado.

Por seu lado, a prática da renova ção das unidades desgastadas pelo uso, pouco reconhecida no país, de vería ser devidamente analisada, fim de permitir a avaliação do merca do brasileiro de veículos, em bases só lidas e realisticas.
Com base na taxa de crescimento da frota de caminhões em serviço, e
quando essas atingem a cêfca de S As perturbações do abastecimento porém, criando restri ções à importação, alteram sensivel mente essa tendência dos utilizadores, de tal modo que durante o período de guerra
cm.
país, pela precariedade sistema rodoviário e vícios por outro lado
em anos de idade. se mantiveram em tráfego unidades em grande número com até 15 anos de Assim, ao fim serviço, da guerra, contava o país com uma frota de caminhões exausta e decadente, com uma composição, em gru pos de idade bastante característi cas de sua obsolência e baixa eficiênEssas observações são válidas sobretudo quando se considere, de um lado, a usura intensa imposta aos veículos no de seu de sua utilização; quando se compare a estrutura da fro ta de 1945 com uma composição cor respondente a ép''ca de abastecimen to franco, — tal como se pode apre ciar dos valores a seguir,- e do dia grama correspondente ao período 1930-1953 (fig. 6):
arbitrando uma dada composição pa ra a mesma, por grupos de idade, é
EOONÓJkflOO 95
a Idade dos caminhões em serviço 8-10 anos mais de 1 Ano 0-6 anos 6-8 anos 0 anos 65,2% 37,1% 91,1% 91,9% 1937 23,17o 20,87o 4.97o 8,17o 0 27,77o lC,77o 4,ü7o 1945 25,47o 1950 0 1952 0 0
L
possível estabelecer umá estimativa de necessidades do mercado nacio nal, ou seja, avaliar com razoável precisão, o esforço cambial correspon dente ao que deveríam ser as impor tações da espécie; alternativamcnre pode-se com o auxílio desses dois fa tores, medir o mexxado interno o.ue justificaria a produção local, do pon to de vista de sua exeqüibilidade eco nômica.
Muito conservadoramente, propõose uma constituição do parque nacio nal de caminhões, segundo a qual sc manteriam 80% das unidades exis tentes com idade máxima de 8 anos, sendo de 11 anos máximos a idade dos 20%, restantes. É claro que essa proposta nada tem de liberal, pois que muito provàvelmente o serviço in tensivo pedido aos veículos obriga rá ao seu escrapeamento com maior freqüência. Quando tal ocoiTa, po rém, a demanda do mercado natural mente será maior que a seguir anun ciada — o que significa maiores em penhes cambiais que os estimados, ou alternativamento, maior mercado, mais propício à implantação da in dústria de veículos no país.
incorporariam ao parque nacional de veículos de transporte, mais 475.000 unidades.
Em média, ter-se-ia que o país ne cessita de 83.000 unidades por ano. É porém de observar que, em virtude da necessidade crescente de ampliade renovação da frota, ano média se conformaria atraa çao e ano, essa vés de uma demanda díspar ao longo do tempo, do 34.000 unidades em 1954, tingindo 142.000 unidade.s ao chegar a 1962. se u
por em S
ano.s, da ordem de US$ 1.200 milhões cu sejam, cêrea de US$ 150 milhões em média anual, apenas para camiÉ evidente que tal cifra, a deveria adicionar ainda nhões. que se respondente às peças para manuten ção, não poderia ser tolerada país nos próximo.s tempos, face situação da balança de pagamentos.
a cor pelo sua u
a
Mantendo, para efeitos de cálculo, a taxa de crescimento observada após guerra, de 11,8% aa., (fig. 7) re sultará que em 1962, ter-se-iam em -serviço cerca de 765.000 caminhões, e que, entre 1954 e 1962 inclusive, se riam necessários ao mercado, 650.000 unidades novas, aplicadas na substi tuição das obsolências e ampliação da frota. Para uma frota atual de 290.000 caminhões, resultaria portan to que as novas unidades substituiriam 175.000 caminhões obsoletos e

das corim«ma com similaridade com semõ
, Em verdade, uma estimativa necessidades globais de divisas respondentes ao mercado automobi lístico, e compreendendo outras portações do gênero, tais como pequena porcentagem de autemóvoi-ç de passageiros, e sobretudo peças pa ra manutenção de caminhões e veí culos automóveis em geral, inclusivo tratores, motores fixos e marítimos os motores usuais dos veículos é bem elevada Atinge a cifra de USS1.800 milhòos no período de 8 anos considerado jam cêrea de USS 226 milhões em dia anual, o que representa uma cifra intolerável pelos meios de pagamen
Digesto Econòm nr,
A. uma cotação média, na base dos preços atuais, de US8 1.800,00 veículo, H demanda acima estimada correspondería a um dispêndio. \
to do país, muito embora correspon dendo a um regime de estrita auste ridade em suas importações em
- ge¬ ral e no caso automobilístico conside rado.
A alternativa que se poderia encon trar para o dilema em que se Brasil em suas necessidades de tr portes seria portanto uma única
vena o ansa instituição da indú.stria automobi lística brasileira — mediante plantação de uma política que levasse a essa meta, cessárias cautelas c ponderaçõe.s.

Sem dúvida, s§o em parte proce dentes os anúncios de tais óbices pi incipalmente quando apresentados em face da condicional preço — por
que se iria ter a manufatura nacionav em contraste com a dós países pro dutores atuais. Mas esses óbices po-
a imnacional cojn as no¬ auexigcnpara unieco-
Independentemente de (juaisquer considerações relativas à impoi-tância e oportunidade da indústria tomobilística para o Brasil, a idéia de sua implantação no país encerra inquestionáveis atrativos que a fa zem merecedora de especial atenção.
Ocorro no caso uma atividade de elevado sentido econômico, te quanto à técnica utilizada, manufaturações de elevado valoitário — qualificações essas <iue con correm poderosamente para dar à in dústria caráter prioidtáiio, quando apreciada em termos de sua contri buição para o desenvolvimento nómico e técnico do país.
A indústria automobilística, porem, desenvolvida a extremos de peid^eição imagináveis, nos países que nos vêm fornecendo até hoje sua produ ção, em razão mesmo desse desenvol¬ vimento, seria aos olhos de muitos diricilmente implantáveis no Brasil.
As dificuldades, que as haveria, pa ra iniciá-la e expandi-la entre nós, seriam para muitos insuperáveis, e exigiríam uma mobilização de recur sos não disponíveis no Brasil.
dem e devem efetivamento vidos, mediante a instituição de uma política nacional sobre íi questão au tomobilística, cumprindo nem cometer o êrro de subestimar a
ser remono caso complexidade do problema, nem su perestimar as dificuldades contidas em sua solução.
Antes de examinar analiticamente o problema por tais aspectos, porém, cabe imediatamente o anúncio de um verdadeiro postulado, aplicável ao caso da indústria de automóveis, ver dadeiro truísmo, que não obstante não é lembrado pelos que se ocupam de crprjtações em tômo do tema: Nas condições até pouco vigentes do sistema cambial brasileiro, e com as facilidades de importação até alguns anos conferidas ao comércio do artiuo estrangeiro, seria impossível mes mo pensar na indústria em causa en tre nós.
Haveria então que orientar o estu do do assunto, inicialmente, no senti do de verificar a natureza e a magni tude das medidas que se deveríam ins tituir no Bi*asil para afastar essas circunstâncias negativas, e isso, mes mo após as mutações dos sistemas dc controle de importações no Brasil, ocorridas nos últimos meses. De res to, o que se buscaria, dentro de tal ordem de idéias, seria a criação de um ambiente propício à implantação de uma indústria específica, e à sua
Dif:f<iTO EcoNÓNnco 97
consolldação, era atos já reclamados de um modo geral por tôda a indústria brasileira.
apIíc3çSo de uma cuRenharia e dc uma mãC'üe-^^í■a cspecialiisada, inexirte'.it''- no Bra-
b a indústria nacional espaços em que
I Do ponto de vista da clima^^iza* ção artificial que o fôsse — dos
4. automobilística seria posta a dar os primeiros vagidos, em ensaios seus débeis de manifestação de vida, típidas indústrias nascentes, que até existem nos Estados Unidos, ca mesmo havería que examinar essas carências do clima nacional que deveríam so frer 0 cerretivo do condicionamento, para se tornar propício a um evento feliz no setor da produção nacional.
Quais são, porém, essas dificul dades de ordem geral, tão temidas por apreciadores menos profundes e me nos bem informados das potenciali dades brasileiras no setor industrial ?
r
E quais os motivos, quais as inspira ções que têm levado ^ manifestação de temores, ou mesmo ao anúncio de frontais impossibilidades de instituide indústria? Enumeramos os çao
que nos parecem mais sensíveis, e que são os que mais amiúde se ci tam entre nós:
1 o 0 mercado restrito brasileiro, incapaz de suportar com sua demanda uma indústria auto mobilística assentada em barealmente econômicas. ses
2.0 A demanda de matérias-pri¬ mas qualidade e em volume exces sivo para as possibilidades de fornecimento interno.
de elevado standard de
siL — A necessidade dt- riobilização de capitais, em numtantes ele vados, que fiC situariam em despropoicionados com as disponildliíladen finan ceiras e cambiais do ]jaís.

extremos
5.0 — Os elevados in*erêsse?. do co mércio impnrtsuior de produ tos automobilísticos, «jue res peitáveis cm seu contexto, são contrariados até certo ponto ante a idéia da substituiçã da importação pela ])rodução local.
0.0 — Os interesses dos exportado res estrangeiros, nousos for necedores históricos, que tênA efetivamento no mercado brasileiro uma graide área de comércio i»ara colocação de sua p^o<iuç^lO, vultosa, munerativa e atraente. re-
Não esposamos os temores dos que citara as razões acima, nem mos, nas dificuldades apontadas, tivo bastante para atrasar ou adiar a eclosão de um evento sob todo pontos de vista o]H)rtuno, propício e necessário à vida do país. Julgamos, bem ao contrário, que não obstante a procedência de algumas das razões indicadas, não siíjam elas de ti\l monta a criar obstáculos insuperá veis. Em outras palavras, afirmamos s com especial ênfase que o ambiente brasileii’o está hoje bastante maduro
vem.-'s os f
^ 98 I DT-sesTO Eco^6^r.^o :
o
^ necessidade de mobilização tecnológica, constituída pela 3.® i' ■ j V J
para acclher a indústria automobi lística em seu seio e receber os be nefícios de sua atividade produtora, substitutiva de importações.
Os óbices acima enumerados vêm desencorajando a muitos, pela interpendencia com que se apresen am. À demanda de capitais para a implan tação da indústria, por exemplo, se responde pela inexistência de dis ponibilidade no país, e pelo possível recurso à ajuda des produtores trangeiros que se converteríam em fabricantes nacionais. Mas tais produ tores são precisamente as organiza ções que mais se oporiam à institui ção da indústria nacional, desejosos que estariam em manter o mercado
es-
se mostrou aqui sua exata extensão. E por muito que se queira exigir da demanda de produtos industriais, força é convir que os números que a representarão em futuro próximo no Brasil já são plenamen e satisfató rios para suportar uma indústria lo cal — mormente quando se atente em que em tôda a presente análise nos detemos apenas sobre o mercado de caminhões — cuja produção em mui tos casos beneficiará a de tratores e de automóveis de passageiros, assim como a de motores estacionários e ma rítimos.
coos
As dispenibilidades de matéria-pri ma no país nem sempre se oferecem com perspectivas mais amplas, e até certo pon*"© poderão constituir, não mas dificuldades para instituição industrial que posmarchar sobre vias tranqüilas.
para suas operações exclusivamente comerciais. E nesse exemplo ,JÁ mo em muitos outros, se ])erdem analistas que concluem apressada mente pelas negativas, de resto sem pre mais cômodas, mesmo para o con forto do trabalho em gabinete.
Do ponto de vista do mercado, são improcedentes dúvidas e temores. Já
Aços comuns
Aços especiais
Ferro fundi<lo e maleável
Metais não ferrosos ... ,
empecilhos, uma sa
Com ampla margem de segurança, pode-se arbitrar, em valores médios que um caminhão consome as seguin tes matérias-primas;

1 750 hh
392 79
382 79 59 n
Uma produção de 60.000 unidades, atingível certamente, ao que espera mos, antes de 1960 com um coeficien te de realizações internas de 90% do pêso das mesmas, demandaria por tanto cerca de 120.000 toneladas de matérias-primas, das quais existi ríam, quanto à qualidade, 117.000 to neladas da produção local. Quantita tivamente, pode sem dúvida o país
TOTAL;
2 684 »»
contar com a produção requerida, de pouco menos de 20.000 toneladas de ferro fundido e maleável para daqui a dois ou três anos; como pode tam bém contar com a produção de cer ca de 20.000 toneladas de aços espe ciais, uma indústria em franca ex pansão entre nós, como poderá dis por, mediante prioridade concedida à indústria automobilística, de cêrça
Üi(;kstü Econômico 99
de 86.000 toneladas de chapas e la¬ minados de aço comum, o que repre sentaria uma demanda de 25% da produção desses artigrs, já providen ciada para 1960. De resto, o que im pediría a solução menos ati*aente, mas possível, das importações supletivas da produção interna de matérias priincapaz ainda de atender quanti- mas,

tarivamente ao mercado da indústria automobilística? Para preços médios da ordem de US.? 0,70 FOB por qui lo de caminhão, essas matérias-primas iriam custar cêrea de US$ 0,20 por quilo FOB, numa diferença bastante grande para deixar api*eciável bene fício cambial, mesmo quando tôda a matéria-prima — aços comuns para a indústria automobilística, de vesse ser obtida no exterior.
A superação das dificuldades de natureza tecnológica, inerentes à in dústria de que nos ocupamos, se é mais árdua que a já verificada em outros setores industriais no Brasil, não o será de muito. Um ataque abrupto sobre o problema, sem dúvi da, envolverá a necessidade de uma mobilização de recursos adquiríveis, como o vêm sendo por muitas outras atividades produtivas nacionais, eclodidas entre nós nos últimos anos, com aquela mesma urgência (há quem diga açodamento) com que ago ra se estaria buscando implantar a indústria automobilística.
Cabe porém aqui lembrar que a indústria automobilística, mesmo nos Estados Unidos, não constitui uma atividade inteiramente integrada e auto-suficiente. Opera fortemente com base na subcontratação, recor rendo a especialistas para um infin dável número de partes acabadas e
semi-acabadas, em uma estruturação de desenvolvimento horizontal repro"duzivel no Brasil com evidentes van tagens — quer quanto ao tema da aplicação tecnológica, quer quanto ao da mobilização de capitais.
Dividindo a área de atividades pa ra essa indústria por setores espe cializados, dar-se-lhe-ão maicr soli dez econômica, maiores facilidades de organização de produção seriada, melhores possibilidades de fabricação a baixo custo, e precisamente, o n\ovimento que no Brasil se inicia atual mente em torno da indústria se^o
esses rumos logicamente imitados dos países industriais.
Nas necessidades financeiras cor respondentes à mobilização de capi tais para a indústria automobilísti ca, reside um óbice de transposição insuperável, é o que afirmam os des crentes. E muito especialmente, necessidades de divisas para impor tação de equipamento estaria um real empecilho par*a a implantação da i dústria automobilística entre nós.
nas in-
caso não não anos apenas para caminhões, corresponde rá a um benefício bastante gi-ande para o investimento que se venha realizar. E do ponto de vista cambial. 0 benefício seria ainda mais sensí vel, pois correspondente a um esfor ço para eliminar importações valen- n do cerca de US$ 1,6 milhões em oito 1
—ti
DiCESTO Econômico^ 100
t ■ é >
n i
De fato, as dificuldades no ocorrem, mas sua superação apresenta um esforço que se possa cumprir entre nós. Principalmente se se atentar em que o mo vimento comercial previsto — da or dem de Cr.$ 200 bilhões em 8 ● I
anos
cêrca de USS 55 milhões de mentos importados.
Mesmo que se confirne a produção, nos anos iniciais de desenvolvimento da indús ria, à casa das 30.000 uni dades anuais, e se realizem então apenas algumas partes dos veículos no país, será possível manter um ba lanço cambial sempre com saldos lí quidos, entre valor da produção subs titutiva de importações, e encargos em moeda estrangeira acarretados pela mesma — com a ccndição de se obterem os financiamentos usuais a prazo médio para o equipamento e a prazo curto para as partes comple mentares da produção interna.
Computando o investimento fixo total da indústria com base na rela ção 2:1 entre despesas em Cr.$ e des pesas em US$ à taxa de Cr.$ 30,00, ter-se-ia um investimento total da ordem de Cr$ 5,0 bilhões para a exe cução em 3 a 4 anos o que, face ào faturamento previsto, dá ao capi tal respectivo, margens de rentabi lidade altamente atra‘ivas.
E cumpre ainda notar que, como têm nctícias concretas desde já, algumas das propostas objetivas pa ra a indústria de caminhões no país, envolvem cálculos de rentabilidade confirmando êsses dados, c ofere cem condições de financiamento ou de inversão de capitais estx*angeiros, em bases bem mais favoráveis que as anunciadas acima.
equipase cm os
O choque dos interesses comerciais tôrno dos veículos-automóveis com das idéias de sua produção nacional existem, evidentes, por vezes assu mindo forma aguda, e não temos dú vidas de que permanecerão sob fonna latente durante muito tempo. Como
existe, de um modo geral, esse mes mo cheque entre o interesse dos im portadores e dos produtores locais.
Não se questionará aqui a legiti midade de tais interesses contraria dos pelos pontos de vista esposados ])or nós. São sensíveis, claros, legais, e fõrça é convir, somente desprezí veis c u preteríveis, quando ante os mesmos se levantem outros, como os cia indústria interna, de maior sen tido e conveniência geral pai'a o país.
Ijamen'áveis, isso sim, são certas manifestações desses mesmos inte resses, certas manobras e alegações lamentavelmente, encon- que, mais tram eco por vêzes no corpo admi nistrativo do país, ou no de seus ho mens de empresa — referimo-nos aos interêsses comerciais puros, apresen tados sob formas disfarçadas de rea lizações fabris nacionais, realmente nulas, insignificantes, ou irrelevantes.
Há campo propício, no desconheci mento de causa, na ingenuidade e, por irrisão, até mesmo no entusias mo patriótico, para escusas. E o lamentável nas mesmas é que, apresentadas sob a forma de projetos industriais, vêm desencorainiciativas sadias, vêm criar a

tais tentativas jar as falta de confiança na administração e no país, e podem até mesmo preju dicar, nessas iniciativas sadias, a de cisão para sua conversão em reali dades concretas.
O importante, então, é que na busca às medidas que possam criar um am biente propício à indústxáa, se venha instituir uma atmcsfex*a de confian ça e respeito, se possa fazer crer na decisão geral. O importante é que se possa mosti’nr que no Brasil se sabe hoje o que mais lhe convém, o
DiGESTO ECONÓ^UC(* 101
que se pode aqui realizar, sem jactáncias, sem precipitações perigosas, mas som a mal informados, dos descrentes, dos c: modistas.
A cooperação e a experiência dos produtores internacionais são neces sárias e como tal bsnvindas, para pro gramas sensíveis de realizações na cionais. Há um convite aos mesmos, há uma oportunidade que so lhes ofe rece para bons negócies no Brasil, Em contrapartida, há a firme deter minação, impulsionada pela evolução incoeicível dos acontccimen‘cs, de desenconrajar os antig s esquemas de operação de suprimento de bens de con.sumo manufaturados ao país, e as operações comerciais que cons tituíam sua base.
timidez dos fracos, dos nacionais.
Ao mesmo temp'', eram desenvol vidos estudos pelos órgãos de conlrôle das itnpoi-tações do país, Jo que resultou o Aviso 288, da CEXIM, bcui conliecido por quantos se interessam pelo assunto au om bilístico no país. A Subcomissão que presido acompanliüu e participou da decisão rela tiva a êsse Aviso, endossando plenamente seus dispositivos, e a idéia que preside sua feitura — a de criar imediatamente um ambiente propício paia a consolidação da indústria do peças automóveis já existentes, e pa ra a eclosão de novas fábricas, coixí a proibição de importação das peças de reposição que tivessem similares
IA firmeza da orientação governa mental e 0 agravamento da situação cambial do país, venceram finalmen te as possíveis resistências c vacilações d s que de fato estão a par das condições do mercado automobilísti-
Há hoje um pleno entendimen o entre algumas entidades estrangei ras, notórios importadores e comer ciantes do ramo automobilístico, coir h mens de empresa brasileiros, e com própria administração do país, vi sando ao fim comum — a instituição da indústria automobilística nacional.
A determinação da Administração
co. a no que tange à necessidade
Hcconhecem-se perfeitamente tos aspectos precários do Aviso 288, sua forma drástica e incisiva, efei’os marginais indesejáveis geralmente criados pelos embargos fron tais às importações no país. De to, o próprio órgão do governo, ponsável direto por sua e aplicação, foi o primeiro a anunciur essas mesmas críticas ao que se propunliu realizar.
Não obstante, o Aviso 288
cere os resrospublicnçtto cons
Pública
ausua primeira maimpossível remoção.
Êsse Aviso, sob forma de anexo ^ atual Instrução 87 da SUMOC, está plenamente revigorado e ampliado, o que foi feito com pleno conhecimen to e interf''rência da Subcomissão.

titui u marca concreta de uma polU tica que se iria instituir a partir do sua publicação e tinha nas caracte rísticas do sistema de controle conioi*cial de en âo, a origem e a causa do seus maiores defeitos, de difícil ou de criação da indústria nacional tomobilís iea, teve nifestação concreta na criação da Subcomissão do Jipe, Tratores, Au tomóveis e Caminhões, dentro da Co missão de Desenvolvimento Industrial — órgão assessor da I^residência da
E, face às novas características do sistema de controle cambial e do im- Eepública»
DrcESTO Ecosô^^co 102
j
portações, instituídos em outubro do ano próximo passado, ficaram supe radas muitas das falhas contidas documento primitivo.
Em ato de outubro de 1052, o Che fe do Executivo Nacional aprovou recomendações da Subc missão de Ji pes, Tratores, Caminhões e Automó veis, discutidas,e aprovadas tambóm pela GDI, que consubstanciavam idéias básicas para a instituição da indústria de material automobilísti co no país.
Êsse documento aborda temas estão presentemente desatualizados, mas sua inspiração continua a mes ma, imutável, e revela a firme de minaçâo governamental em ap iar o incentivar a industrialização dos veículos-automóveis no país.
no as as que ero que
Assim é que fica ali reafirmado principio do embargo às importações de peças para manutenção, das existem ou possam existir similares da indústria local, o princípio do em bargo às importações de veículos montados, o da omissão progressiva e pré-anunciada de partes produzidas no país, nas importações de novas uni dades, etc.
O ato executivo mantém as gran des linhas concre as, através das quais se manifestaria o ponto de vis ta do governo em favor da industria lização local de veículos-au'omóveis: facilidades para importação de par tes semimanufaturas para comple mentar a produção local; priori dade no licenciamento de importações de equipamentos e matérias-primas assimiles das de abastecimento local, facilidades de crédito^ como princí pio, a isenção de direitos para equi pamento, e finalmentc, a instituição
de quotas de importação srb forma de prêmios, proporcionadas com as lizaçòes internas, mendações ao Ministério da Fazen da, para alteração da Lei de Impos to de Consumo sobre peças de produ ção local, presentemente sujeitas bitrihutaçã'', na fábrica de subcontratador e na saída da linha de tagem.
mesmo Ministério sobre a boa intorpre ação da nota R''0 da Tarifa das Alfândegas, visando a desonerar as importações de veículos com omis sões, de maiores encargos fiscais ad missíveis por tal nota.
reaAlém disso, rccoa monBem assim, sugestões ao e
Dentro da idéia básica nd tad.a co mo linha de ação governamental pre conizada pela GDI, visando à indus trialização dos veículos automóveis no país, foi publicado em julho de 1953 o Aviso 311 da GEXIM, qv.c ve dava a importação de veículos monta dos, obrigando ao mesmo tempo a omissão de algumas partes cuja pvo-

dução interna, destinada a unidades novas, já era acessível aos montado res. Eram omissões que por muitos já vinham sendo realizadas, e sua objetivação com caráter de obrigatorieda de, por ato administrativo, constituía um esforço para colocar as emprêsas que executavam essa prá‘ica, cm prol da industrialiyaçâo local, cm condi ções de igualdade com os importado res nitidamente comercialistas.
Face à cemplexidade do mo administrativo nacional, e às freqiientes mutações sofridas estrutura e pela orientação econômi ca do país,
organispor sua pareceu à Subcomissão que não se poderíam deixar às incer tezas e vacilações dos seus vários ór gãos, os destinos c us entendimentos
Oici:sro EcoNÓNnco 108
da nova indústria que se queria ins tituir no país. Envolvería ela uma demasiado grande de questões, soma problemas e decisões, para serem efi cientemente discutidas e assumidas por órgãos menos experientes no pro blema concreto em foco.
A solução no caso seria a institui ção preconizada pela mesma Subco missão de uma Comissão Executiva da Industria de Material Automobi lístico CEIMA — com poderes amplos de interferência, em tedos níveis da decisão administrativa, seu caráter de órgão de consulta e ação, subordinado diretamente ao Mi nistro da Fazenda. Executiva teria como estrutura, Presidente Executivo, de nomeação do Governo, órgãos especiais de es tudo, secretaria
os em Essa Comissão um e um conselho com
posto de 7 membros, com representa ção de órgãos do Govêrno e das Or ganizações particulares interessadas na especialidade — importadores de material automobilístico, produtores de peças, fabricantes de veículos e produtores de matérias-primas.
O projeto de decreto criando essa Comissão Executiva já foi discutido e aprovado pela Comissão de Desen volvimento Industrial, e está sendo remetido à apreciação do Senhor Presidente da República para sua de cisão final.
vêrno brasileiro defino, de modo com pleto e harmonioso, sua atitude e sua decisão em face da indústria automo bilística. Nesse documento, que como aguarda o pronuncia mento final do Poder Executivo, a indústria automobilística é definida como de “relevante interesse para a economia nacional, cabendo-lhe em consequência o tratamento que, em outros atos governamentais, está re servado a tipos de atividades assim definidos ou caracterizados.”
O projeto de decreto, porém, busca consolidar as idéias e dispositivos . parsos em legislação singular e, ra tan‘^0, indica para a indústria de material automobilístico, os mesmos tratamentos prioritários atribuíveis às outras de relevante interesse ra a economia nacional — na

o anterior espapacon-
Ao mesmo tempo, tendo em vista as recentes mutações da poIí'ica eco nômica do país, do problema cambial, dalidades de ordem executiva que pre sidem à solução do mesmo, fri tam bém estudado pela Subcomissão e aprovado posteriormente pela GDI um projeto de decreto era que o Go-
os angustiamentos e as novas mo-
paas imcan em nas
r ■ .1 Dicesto EcoNÓNnro 04
cessâo de créditos e financiamentos por entidades governamentais ou ra-estatais; na concessão ou utiliza ção do meios de transpor^^e para matérias-primas e para produt-^s fi, nais; na concessão de licenças de i portação de equipamento, inclusive nos casos de importações sem cober tura cambial para constituição de pitai es'rangeiro; na imigração de técnicos e mão-de obra especializada estrangeiros; na fixação da política de importação das partes complemen tares dos produtos fabricados in ternamento, iclusive semi-acabados imprescindíveis para assegurar execução dos programas industriais aprovados pelo Govêrno; na preconização de uma orientação matéria aduaneira para pro‘^eçào á produção nacional; na preferência compras pelos órgãos do govêrno fe deral; finalmente, como medida do J
con-
cúpol^, coroando o pensamento da administração, é ali instituído o ceito segrundo o qual, ante a igual dade ou equivalência de realizações internas manter-sc-á inteira cqüidade na concessão de favores ou me didas de estímulo relativamente indústria automobilística.
Antecipando-se ã constituição da CEIMA e de seu Conselho, a Subco missão tem já em pauta estudos laíivos à mobilização de recursos hu manos e de matérias-primas e à nor malização de materiais necessários à indústria automobilística poderem ser tomadas a tempo, e em pleno conhecimento de causa, as me didas que se fizerem necessárias pa ra permitir o pleno desenvolvimento da produção respectiva.
O bom desenvolvimento das reali-
a tôda uma série de decisões a tomar.
O poder público e a iniciativa pri vada sentem perfeitamente que montagem de veículos, constituídos por peças nacionais, estará o elemen to de polarização de esforços para a consolidação dos seus planos e de-
na sígnios.
rea fim de zações do setor industrial que aqui nos ocupa, porém, na movimentação desse poderoso sistema de engrena gens que se vem associando, uma a uma, para constituir o grande parque fabril automobilístico brasileiro, exi ge necessàrianien‘e um plano de bade denominador comum se, que sirva Dentro de tais idéias gerais, já es tão adiantados os estudos relaMvamente à medida de competência do Congresso Nacional, refentes a um projeto de lei conferindo por dois anos isenção de direi',os para im portação de equipamentos para indús trias cujos programas tenham sido aprovados pelo Governo, ouvida a CEIMA, e bem assim, à projetada reforma da pauta aduaneira vigente, com a instituição de taxas alfande gárias protecionistas para a produ ção local.
No setor da economia da indús-
tria, acaba a Subcomissão de ter apro vada pela GDI uma sugestão sua, pela qual fica conferido o ágio de custo para as importações de equipaindústria autemobi- mentos pai’a a lística
do Ministério da Fazenda, para ser submetido à apreciação de S. Excia. Presidente da República. 0
Conta-se desde já com o interesse manifestado por algumas grandes en tidades estrangeiras em declarações de propósitos de realizações internas, realmente magníficas. E espera-se que algumas outras empresas igualmen‘^e importantes possam materiali zar suas promessas, principalmente uma que, após se ter adiantado bas tante, supendeu por algum tempo os estudos que havia iniciado.
A coordenação das medidas a ado tar, e muito especialmente, a apre ciação dos planos concretos de en tidades que se proponham a reali-

I Dicesto Eco^'ó^^co ) 106
A fim po.ém de exatamente medir e ponderar a extensão dos benefícios concedíveis u, tais indústrias, é des de logo estabelecida ccmo condição para exame de cada caso obje‘^ivo, a revelação da estrutura de cada pro grama industrial, do ponto de vista técnico, econômico e financeiro, prin cipalmente para que se possa real mente ter a sensação das realizações expressas nos projetos nas etapas sucessivas. u
pendente ainda de parecer
zar o voVulo no país. exigiría assim estabolecimcnto de um pl.'.no indus trial gcr:il, E.'te porém deveria fu gir a uma generalização excessiva e se ocupa)' co)u alguns de'alhes. Por ■ isso, não p d‘*ria ser instituído para tóda a vaiic'!ade de tipos de veiculos, ante as peculiaridade de cada um.
Levando em consideração as dificuldatles de urdem técnica a superar, o mercado coni suas exigências de de manda, e 0 interêsse econômico dos váiios tipos automobilísticos Cf.nsumido- no i)aís, decidiu a Subcomissão, desde logu, estabelecer o plano industiial paia os caminhões médios e le ves — anunciando desde já porém que outros planes de contexto seme} lliunte serão lançados paia as demais vaiiejades. no seu devido te.mpo.
O plano em causa prevê" a indus trialização dos caminhões médios e ● leves — os de pêso pióprio, comple tos. entre 1.300 e 3.200 kg — em etapas anuais sucessivas, de modo que já em 4 anos se possam fabricar no país 92% de seu pêso lotai, correspon dendo a cêrea de 8G% de seu valor.
Embora interessados numa rápida progressão das realizações nacionais e — julgamos, porém, qup, com a for' ma de exigência dada ao plano in dustrial, não se deveríam fixar de ' inicio metas anuais do tais realiza ções muito avançadas, que poderíam
tivas importações, estabelecendo-se, como meio de promovê-las, a exi gência de importação do caminhão completo na '-ategoria cambial a mais desfavorecida, e a faculdade do uso de uma caU‘g~ria cambial menos one rosa. ()uamlo se realizem as impor tações com essas omissões mínimas impos'as.
Para 1954 é plenamente exeqüível chegar aos 20% indicados, e mesmo muito mais. Apenas, nesse caso, por carência de tempo para aprovação final do plano pela superior instân cia administrativa do país, não foi possível levar a têrmo os entendimen tos com órgãos do governo que encarregarão da parte executiva das importações — a CACEX mesmo anunciarão a inclusão das uni dades incompletas importadas
se e ao nas
listas cambiais, conforme o que foi planejado. Foram feitas, para 1951, nas CACEX, exigências mais amplas que as fixadas, e mais ainda, consubstan ciadas ali através de citação cífica de dadas peças e partes doa veículos — o que contraria o espi rito do plano. Êsses percalços rão corrigidos futuramente, ao que

por isso, recentes listas da espeseesperamos.
I vir a encontiar empecilhos fortes pa ra serem atingidas. Assim, fixou-se que em 1954 deveríam ser realizados no país 20% em pêso do conjunto do caminhão, subindo essa mota para 35% em 1955, indo depois a 50%, atingir 65% em 1957. Tais vajj». lores errrespondem a mínimos de r’ omissões a serem feitas nas respec-
para
Há motivos relevantes para rem usadas as porcentagens ponde rais, e para se não fazerern indica ções específicas, nas omissões exigi das para a importação dos caminhões. Com o uso de metas quantitativas pêso se tem um elemento de contrôle imediato e fácil, na conferência das importações e mesmo nas emis sões de licenças de impor'ação. Isso não se daria se se adotassem como metas a atingir aa porcentagens do
seem
DiGESTü EcoNôNnco 106
o . r :
valor do caminhão. Essas últimas riam sòmente calculáveis através de elementos fixados pelos próprios in teressados, importadores, e ussiin se tornaria precária e mesmo contra producente a fiscalização que sõbre esses últimos se quisesse realizar.
0 fato de se não imporem omissões específicas permite a plena utiliza ção da capacidade da produção na cional e evita o desencorajamento das indústrias em produção incipien e, cujos produtos não pessam ainda atender à totalidade do mercado, por quanto assim se beneficiarão do ato de proteção que institua ônus eleva dos para a importação.
Com a crientaçào adotada no pla no, as omissões ponderais podem ser atingidas com quaisquer coleções de peças e partes, variáveis em cada lote importado, segundo as disponi bilidades da produção interna substitu iva.

Há ainda outras vantagens na téc nica seguida: os montadores terão ne la uma certa defesa contra o eventual relaxamento tecnológico e a ganân cia de produtores locais, pois que es tes saberíam ser possível aos primei ros alterar seus programas de omis sões em embarques sucessivos, para excluir as peças de má qualidade cu de preço elevado sem motivo razoá vel, dos seus programas de compras locais. Essas seriam então realiza das sõbre outras peças, na manobra de defesa do utilizador-montador.
semo
0 pi-ogressq muito rápido ao ritde nacionalização, porém não dei xará o produtor nacional à mercê dos montadores — porquanto, para cum prir 0 desenvolvimento crescente das t omissões impostas pelo plano indus-
trial, serão forçados ao uso de tôdas as partes estruturais do veículo dentro de 3 anos no isso corresponde a porcentagem pon derai de 65% dos caminiiões médios e leves.
maximo, pois a motor,
Do ponto de vista da mobilização de recursos técnicos e financeiros pa ra execução do programa indicado, distinguem-se duas fases nítidas a que levaria à produção nacional de todes os elementos es ruturais do veículo — ou a 65% de seu pèso; e a que já iria alcançar seus órgãos mecânicos de movimento eixos, câmbio e transmissão.
A primeira fase se caracteriza por ^ uma execução, nos EF..UU., com ferte contribuição de subcontratadoi es, o mesmo sendo já previsto e proví- ●. A segunda fase
1 denciado no Brasil, seria de bom maior responsabilidade, mentado- e realizável pelos próprios finais do veículo, como res norma
geral.
Então, aos importadores de veículos primeira fase, tomenores incompletos. na menores encargos, responsabilidades financeiras e tócnicas, e como conseqücncia, não lhes A poderíam caber maiores estímuK s pelo J omitir em suas listas
cariam que viessem a de embarque, es ímulo seria efetivamente do natureza financeira e criado por difc- ^ a importação ^i-
Em verdade, o único renciação de ágios: sem as omissões programadas ficalia onerada pela classificação em ca- -'3 tegoria desfavorável nas listas cam- ^ biais. <v
Na segunda fase, porém, necessi- j'. tar-se-ia do uma mobilização de recursos de maior monta, e maior aplica ção tecnciógica, a par de realizações
Digesto EcoNÓNnco 107
k *1
de maior interêsse econômico e téc nico para o país. Aos que se lan çassem à mesma, por isso, caberiam prioridades e preferências, para im portação das partes necessárias à integração do veículo produzido no país, anunciadas desde já no plano industrial em termos gerais, pcrém não fixadas quantitativa ou especificamente, para serem ponderadas e negociadas, an‘e os programas con cretos apresentados, e ante as pos sibilidades cambiais do país, à épo ca de sua apresentação. Com êstes estímulos, visa-se sobretudo a asse gurar ao empresário a regularidade de suprimento da sua linha de mon tagem quanto aos produtos ainda não fabricados no país.
no ano em o que inclui o motor. emamcomo como chapas. o os estímulos para os progra-
cumprirá aos respectivos empresánorma de omissões mí- rics seguir a
nimas do plano.
A plena exeqüibilidade do plano in dustrial pode ser apreciada pelos que estejam a par das realizações brasi leiras no domínio da indústria, e das oluções técnicas encon radas para problemas industriais, superados nos últimos anos pelo Brasil. Os be nefícios cambiais inerentes ao plano e sua significação econômica interna podem ser avaliados, igualmente, pela simples contemplação da natureza das peças e partes de produção doméstiacumulando uma a
s os Uma, ca que se terminarão por constituir o caminhão brasileiro.
Exibimos aqui (fig. 8 e 9) diagi*a- ' mas que encerram as indicações cessárias para um juízo sôbre todas essas questões. Cumpre porém indidados aí contidos são
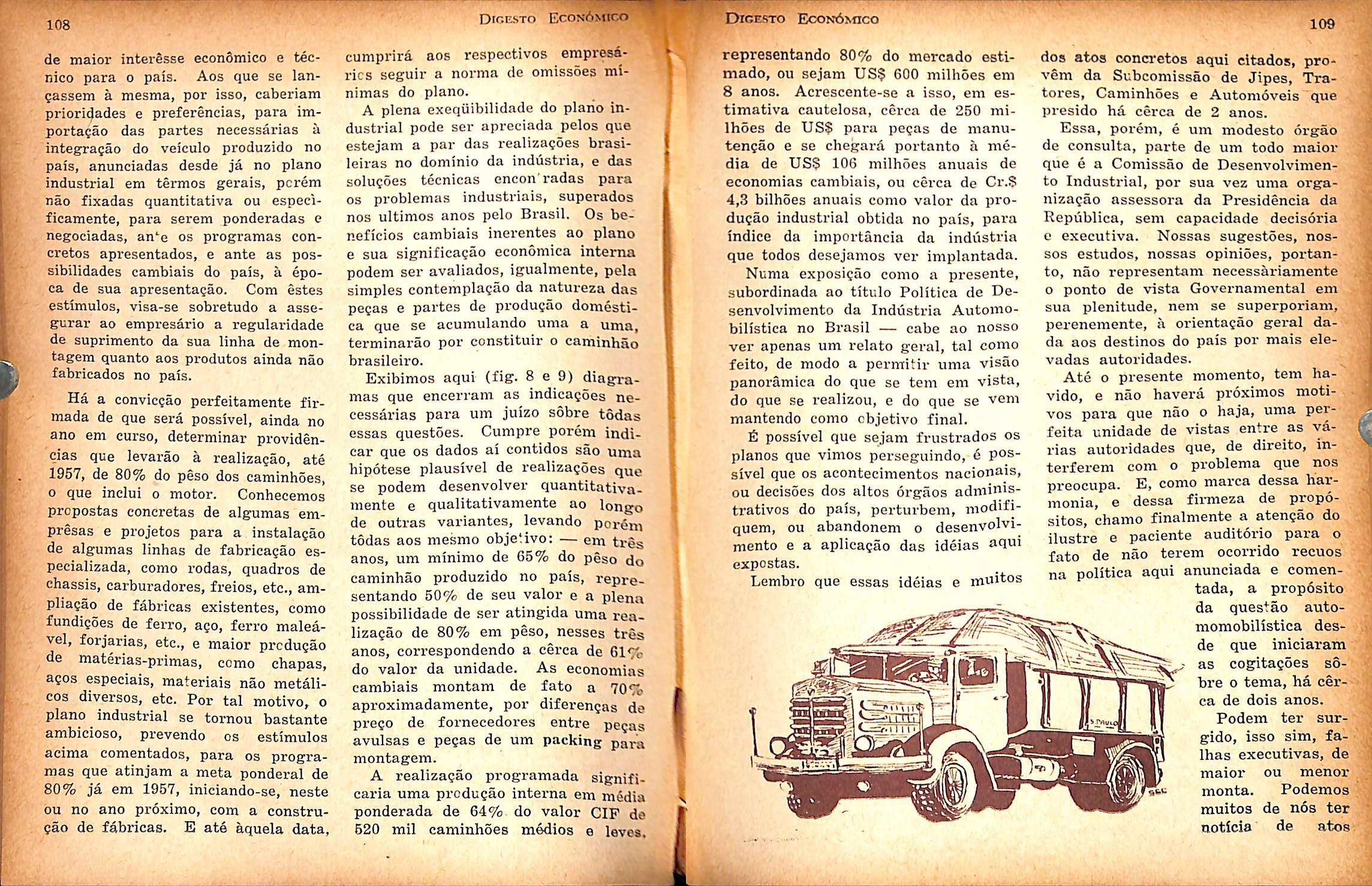
necar que os hipótese plausível de realizações se podem desenvolver quantitativ mente e qualitativamente ao longo de outras variantes, levando porém tôdas aos mesmo objetivo: — em três anos, um mínimo de 65% do pêso do caminhão produzido no país, sentando 50% de seu valor e a plena possibilidade de ser atingida uma rea lização de 80% em pêso, nesses três anos, correspondendo a cêrca de 61% do valor da unidade. As economias cambiais montam de fato a 70% aproximadamente, por diferenças de preço de foxmecedores entre
uma que aveprepeças avulsas e peças de um packing para montagem.
A realização programada signifi caria uma prcdução interna em média ponderada de 64% do valor GIF de 520 mil caminhões médios e levos.
T Dir-ESTO EconíSmico 108
Há a convicção perfeitamente fir mada de que será possível, ainda curso, determinar providên cias que levarão à realização, até 1957, de 80% do pêso dos caminhões, Conhecemos propostas concretas de algumas presas e projetos para a instalação de algumas linhas de fabricação es pecializada, como rodas, quadros de chassis, carburadores, freios, etc., pliação de fábricas existentes, fundições de ferro, aço, ferro maleá vel, forjarias, etc., e maior prcdução de matérias-primas, aços especiais, materiais não metáli cos diversos, etc. Por tal motivo, plano industrial se tornou bastante ambicioso, prevendo acima comentados, mas que atinjam a meta ponderai de 80% já em 1957, iniciando-se, neste ou no ano próximo, com a constru ção de fábricas. E até àquela data, t
representando 807o do mercado esti mado, ou sejam US$ 600 milhões em 8 anos. Acrescente-se a isso, em es timativa cautelosa, cerca de 250 mi lhões de XJS$ para peças de manu tenção e se chegará portanto à mé dia de US$ 106 milhões anuais de economias cambiais, ou cerca de Cr.S 4,3 bilhões anuais como valor da pro dução industrial obtida no país, para índice da importância da indústria que todos desejamos ver implantada.
Numa exposição como a presente, subordinada ao título Política de De senvolvimento da Indústria Automo bilística no Brasil — cabe ao nosso ver apenas um relato geral, tal como feito, de modo a permitir uma visão panorâmica do que se tem em vista, do que se realizou, e do que se vem mantendo como cbjetivo final.
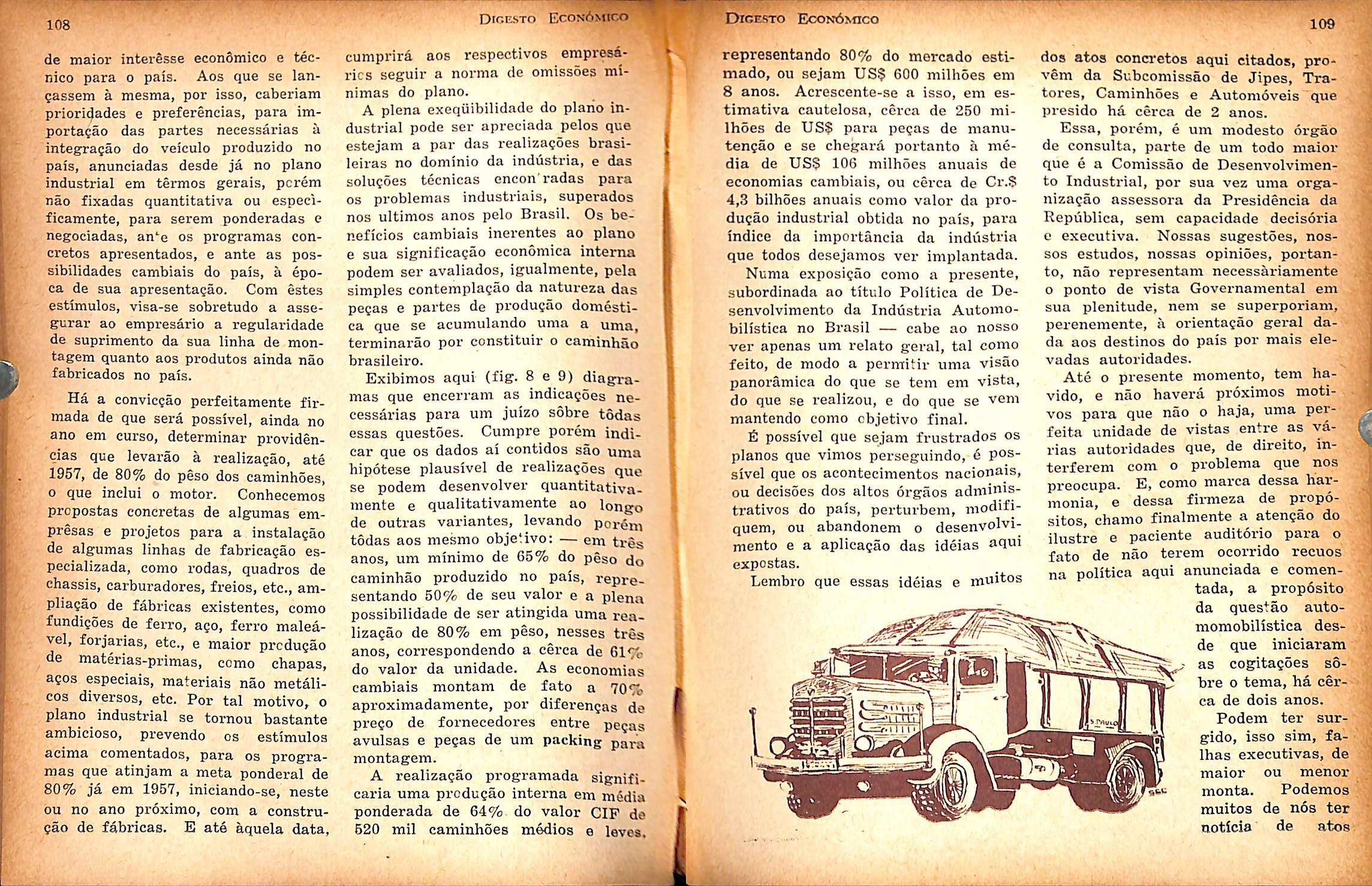
dos atos concretos aqui citados, pro vêm da Subcomissão de Jipes, Tra tores, Caminhões e Automóveis que presido há cêrca de 2 Essa, porém, é um modesto órgão de consulta, parte de um todo maior que é a Comissão de Desenvolvimen to Industrial, por sua vez uma orga nização assessora da Presidência da República, sem capacidade decisória e executiva. Nossas sugestões, nos sos estudos, nossas opiniões, portan to, não representam necessariamente o ponto de vista Governamental em sua plenitude, nem se superporiam, perenemente, à orientação geral da da aos destinos do país por mais ele vadas autoridades.
desenvolvi¬
É possível que sejam frustrados os planos que vimos perseguindo, c pos sível que os acontecimentos nacionais, ou decisões dos altos órgãos admii^^strativos do país, perturbem, modifi quem, ou abandonem o mento e a aplicação das idéias aqui expostas.
Lembro que essas idéias e mai^os
anos. vos para nas terferem com o problema que E, como marca dessa har- preocupa. monia, e dessa firmeza de propó sitos, chamo finalmente a atenção do ilustre e paciente auditório para o fato de não terem ocorrido recuos na política aqui anunciada e comen tada, a propósito da questão automomobilística des de que iniciaram as cogitações so bre o tema, há cêr ca de dois anos. Podem ter sur gido, isso sim, fa lhas executivas, de maior ou menor monta. Podemos muitos de nós ter notícia de atos
Até o presente momento, tem ha vido, e não haverá próximos niotique não o haja, uma per feita unidade de vistas entre as váautoridades que, de direito, innos
DrGE‘;TO Econômico 109
concretos, contrariando os dispositi vos e o pensamento do Governo so bre o problema automobilístico. São incidências lamentáveis, embora por vêzes justificáveis, e no mais das ve zes menos significativas que o pri meiro impacto de sua notícia deixa supor no desagrado de seu anúncio.
com e a se vem
dicados e através dos mesmos cami nhos, buscando os mesmos objetivos; — a implantação da indústria au tomobilística nacional, dentro do complexo de atividades econômicas pi*odutivas da Nação, como uma de suas partes importantes e das mais significativas, tico, compreendido e aplaudido todos os que em nosso solo vivem, da libertação social do Brasil, da defi nição da Pá*^ria como unidade econô mica expressiva e sensível no certo universal.
no esforço patriópor con-

Digesto EcoNÓNnco 110
De um modo geral, porém, a orien tação geral vem sendo mantida, apieciável e constante firmeza, administração pública nacional conservando fiel aos rumos aqui inJ
“OPERAÇAO-MUNICÍPIO’’ E AGIOS
l''nANClSCO Buhkinskj
pon ocasião do III Congi-esso Nacicnal de Municípios, levado efeito em maio findo, em São Lourenço, Minas Gerais, foi aprovada, por unanimidade das delegações presen tes, uma recomendação especial que esboçou as linhas gerais do Plano Nacional de Obras e Serviços Muni cipais (Operação Município).
Plano, criterirsamente elaborado pe los srs. Araújo Cavalcanti c Luciano Mesquita, respectivamente Secretário-Geral da Associação Brasi leira de Município e Assessor Téc nico da Comissão do Finanças do Se nado, destina-se a promover o reei*guimento econômico-social dos muni cípios da hintcrlândia, de molde a transformá-los em unidade.s vivas de sustentação do progresso do Brasil, sobretudo no seu setor rui*al.
a Êsse Daí
A recomendação especial mencio nada foi incorporada deíinitivamente ú nova Carta dos Municípios, como mais uma reivindicação das comu nas brasileiras. Cabe, pois, aos municipalistas, de um lado, proclamá-la, esclarecê-la o patrcciná-la perante a opinião pública e, de outro lado, es tarem vigilantes ante tôdas as me didas govemamentais e providências legislativas crientadas no sen’ido de recuperação e desenvolvimento do in terior do país, uma vez que servem de prolongamento das finalidades bá sicas da Operação Município, competir aos municipalistas a aná lise do decreto que criou o Conse lho Nacional de Administração dos Empréstimos Rurais, ati-avés do qual

serão aplicados em financiamentos * agropastoris os ágios do leilão de \ divisas.
Constitui objetivo primordial do CNAER a modernização e recuperação da lavcura nacional, para isto sendo prevista a formação de um fun do específico, em cuja conta se cre-ditará mensalmenle o produto dos ágios.
Segundo informações prestadas pe lo Sr. Osvaldo Aranha, Ministro da Fazenda, faz parte da política finan- ^ ceiva do atual governo o investimen to maciço dos ágios na lavoura e na criação, com o fim de impedir o acelerado desenvolvimento das indús- . trias, devendo ter, pois, efeitos antiinflacionários.
Se as áreas cultivadas e de pasta- ^ gens, bem assim tôdas as pessoas li- ^ gadas às atividades agrepastoris, m fossem realmcnte beneficiadas com a . aplicação dos ágios em financiamentos, tal medida contribuiría, sem dú- \ valorização efetiva do j| do interior e, conseqücnte- I vida, para a homem -
mente, estaria dentro das tendências ‘ comandam a Operação Municí- ^ que pio.
Todavia, um exame ligeiro da si tuação de nessas áreas cultivadas g \ da distribuição das classes agrárias do País, permite deduzir que os em- ■ préstimos previstos no decreto pre sidencial somente beneficiarão cer tos setores da lavoura e determina das classes de nossa sociedade rural, principalmente os grandes proprietá- i rios territoriais, ao passo que nom
● -
■ppw f
sequer atingirão a maioria da popu lação rural ativa, composta de tra balhadores sem terra, arrendatários, pequenos agricultores e talvez parte dos médios agricultores.
Essa e outras lacunas, porém, po derão ser sanadas pelo Plano Nacio nal de Obras e Serviços Municipais, a ser elaborado pela Comissão Orga nizadora a que alude o pi‘ojeto de lei apresentado pelo deputado Jarbas Mai*anhão a 25 de junho findo, atra vés do setor referente ao fomento das atividades agi^opastoris.
Nos têrmcs em que se acha zado o decreto presidencial, mos, como vaviapenas os grandes proprietá rios rurais, em número aproximado de 150.000, os quais detêm 70% de terra cultivada talvez
mais de no Brasil e, uma pequena parcela de agri cultores médios, proprietários de área acima de 50 hectares, é que usufruirão dos empréstimos. Enquanto isso milhões de trabalhadores sem terpequenos e médios agricultores ra,
excluídos de quaisquer financiamentos governamentais, continuarão amar rados a onzenários, já que nem para os estabelecimentos do crédito pri
vados poderão rcccrrer, tendo em vis ta não contarem com garantias pignoratícias ou hipotecárias.
Um exame rápido das áreas culti¬ vadas que comportam a mecanização da lavoura ou a adubação científica, irá patentear que o Fundo de Mo dernização G Recuperação da Lavou ra se destinará às áreas dos grandes proprietários rurais. Em verdade, arados e outros bens mecânicos de produção, como é conhecido, só podem ser racionalmente utilizados em áreas superiores a 50 hectares, não sendo empregados pois, em mais de 70%, das áreas cultivadas do País, consti tuídas de terras com áreas abaixo de 50 hectares.

os Relativamente à uti
lização de tratores, processos de adu bação, métodos científicos e motornecanização, apenas atingem áreas acima de 200 hectares, pertencentes pouco mais de 148.000 prietários, detentores
a prode Essas breves consider çôes indicam que a aplica ção do produto dos ágios criação vai acelerar ainda mais a ruína -J
ana lavoura e na dos arrendatários, pequenos e médios agiúcultores, dada a concentração cada vez maior da proprie dade fundiária em todas as unidades da Federação. Isso se deve à circunstância de o grande proprietário rural dispensar a aplicação da técnica agrícola, desde
. Digesto Econômico il2
70% de tôda terra possuil da no Brasil.
que conta com u’n massa considerável de milhões de Iho. operários sem ti’aba-
De mais a mais, cumpre salientar que as grandes propriedades rurais, beneficiárias des financiamentos, pro duzem quase que exclusivamente dutos destinados à proexportação, ao pas so que as áreas com menrs de 50 hectares, onde se situam 46% do lor total da produção agrícola do país, supre os mercados internos, constituir agricultura de subsistên cia, merecedora portanto dos favo res da crédito oficial, a fim de
dos e de presença da ação dos órgraos locais, sob o jugo de cordas retesas que não llies devem capar do mando e do domínio Cidade do Rio de Janei há um plano, um sistema de sei'viço, uma organização de execução de obras públicas lem
esna ro. Não que nao reveessas preocupações e êsse
vapor que*
propósito.
a possa desenvolver-se normalmente.

Todas essas e outras falhas de sa organização rural decorrem, de modo geral, da inexistência, até há bem pouco tempo, de um plano do lar ga envergadura que permitisse Municípios, como mui bem acentuou o deputado Nestor Duaríe, entrar sistema de participação e de integra ção do País.
Em seguida, falando sobre a refor ma agrária e os Municípios brasilei ros, afirma peremptòriamente ilustre deputado baiano:
nosum aos no o
“A União parece que não quer, porque não se prestam seu desgraçado regime de só dis tribuir para centralizar, que do mina tôda a ação executora da ad ministração federal. A União per siste em manter todos os serviços federais, realizados pelo territó rio nacional, cuja execução quase sempre depende das peculiarida-
os a
Como se vê, muito poderá fazer Operação Município, não só no sen tido de suprir as lacunas sensíveis apresentadas no decreto que instituiu o CNAER, como também e, sobre tudo, corrigir graves falhas de nos sa administração federal, estimulando a incorporação de contingente consi derável da população agrícola aos ní veis de bem-estar e conforto que a ci vilização moderna nos proporciona. Para tanto, a equipe de técnicos que elaborou a Operação Município, desde já está procedendo a um levantamen'^0 das necessidades dos Municí pios, uma vez que o investimento de capitais no fomento das atividades agropecuárias, tendente a evitar o êxodo rural, mediante a fixação efe tiva do homem do- campo, constitui um departamento a que o Plano Na cional de Obras e Serviços Munici pais vai emprestar suma importân cia. Assim vem procedendo essa equi pe, porquanto está firmemente con vencida de que a revalorização da vida municipal somente constituirá uma realidade no dia em que se cria rem condições reais ao progresso ma terial e desenvolvimento cultural das comunidades rurais.
ÜiGKSTü Econômico 118
SITOACAO ECONÔMICA DO BRASIL
* Lins Mentx)Nça de tmnTAí.
f
U- o í em
Na “Exposição” de 1953 o Conse lho focalizou prindpalmente o pro blema da produtividade e o da infla ção.
R. No relatório de 1952 os problemas w nacionais foram analisados tendo em , vista as alternativas de solução que [ ;50 oferecem às autoridades respon¬ sáveis pela política econômica da na^ ção:
l.°) O Governo cuida diretamente da exploração das indústrias básicas e descura a execução de outros ser viços:
2.°) O Governo instaura o Socia. lismo de Estado.
3.°) O Governo procura atender a todos os setores, sem dar a nenhum uma solução econômica.
O trabalho de 1951, sendo o primei ro da série, procurou destacar, no ^ complexo econômico nacional, as di ficuldades de orde n mais geral, que comprometem o nosso fu‘uro ecenômico tais como: produção e os obs táculos com que se defronta, o de senvolvimento econômico e os seus problemas, a agricultura e o abasteciPercebe-se na “Exposição”

mento.
de 1951 a intenção de apresentar uma panorâmica de nossa realidade visao
posteriores.
econômica, da qual pontos especififoram abordados nos trabalhrs COS Em dois artigcs anteriores publica dos nesta revista, tivemos opor■ tunidade de apresentar, em resumo, conteúdo dos relatórios elaborados pelo Conselho Nacional de Economia sobre a situação econômica do país 1952 e 1953.
O quadro esboçado naquela época espelha ainda a realidade nacional, conforme se pode verificar polo que segue:
O desenvolvimento econômico d país deve basear-se nos seguintes pon tos de política econômica,
u
a) melhoria dos transportes e da energia,
b) desenvolvimento indus‘rrial devo ser orientado por di trizes bem flexíveis para mitir estímulo permanente h iniciativa privada.
» que reper-
re-
c) redução da aplicação dos cursos do Estado aos grandes empreendimentos básicos, não são atraentes ao capital particular,
d) impulso à produção do petró leo precipuamente por empre sas particulares. (Não se cogi tava ainda da criação da Petrobrás).
e) aumento da produtividade in dividual, procurando harmo nizar a política social com objetivos do progresso econô mico.
f) disciplinamento da emissão de títulos de empréstimo interno
●Í.M > i ■ X , /í
I i.
r
Oí* [>
ecoe so¬ prono país, mer-
gr) considerar as atividades de acordo agro pecuárias como fundamentais para a integral compreensão do problema brasileiro, e ele mento básico do progresso nómico cm sua generalidade. Nesse sentido, promover o au mento da produtividade do tra balho rural, não apenas visando a seus efeitos econômicos ciais diretos, mas considerando quo a população compesina, representando a maior perção demogiáfica é a natural propulsora do cado nacional”.
com os recursos próprios, para o desenvolvimento das diversas regiões do país.
^ Os acontecimentos internacionais têm favorecido a transição estrutu ral de nossa economia. “Num mun do estável, que resistisse ao despon tar de movimentos progressistas na periferia, teríamos que nos contentar em fornecer os produtos primários do nesso solo que permitissem àque le mundo estável produzir bara‘o, dentro do uma ostratificação genera lizada de regiões, países e classes sociais”.

Dopois da II Guerra Mundial o país se encontrou na seguinte situação:
CAPÍTULO
SITUAÇÃO DO BRASIL NA ECONOMIA MUiNUlAL
— inflação
— indústria acrescida desordena damente
— agricultura cm estagnação
— transportes ineficientes
— orçamentos desequilibrados
— hipertrofia dos investimentos imobiliários.
problemas
A dispersão da população brasi leira cria fenômenos de mercado limitado, ocasionando .de escoamento e abastecimento.
As migrações internas repre sentam um dos fenômenos característicos de nossa eco nomia.
Além disso, os recursos natu rais estão dcsigualmcnte dis tribuídos no território nacional.
Observa-se nos últimos decênios um aumento da produção industrial, não acompanhado por um desenvolvimen to simultâneo da produção agrope cuária e da rêde de transportes.
Não se pode evitar a dispersão da população abandonando certas re giões. O que seria razoável é que se seguisse uma ordem dc prioridade,
A economia do Brasil, nos últimos trinta anos, tem se caracterizado pe la rapidez e variedade de suas mutações.
O objetivo da política econô mica brasileira deveria ser o aumento da renda e da pro dução nacional.
Para isto precisamos desen volver a nossa produção mineral, pois importamos mais matérias-primas mi nerais do que exportamos.
Nenhum país pode ser auto-sufi ciente quanto a matérias-primas. Por isso os países são tanto mais depen dentes uns dos outras quanto mais industrializados. Para o funciona mento das indústrias brasileiras de-
EcoNÓ.vnco 115
'i
— I
ií\
9 \u
CAPÍTULO
pendemos do fornecimento de mais de uma centena de produtos america-
nos.
A nossa dependência do exte rior pode ser avaliada pelos dados a seguir:
75% das nossas exportações em valor provêm de três produtos, :
86% do valor das mercadorias im portadas são consideradas es senciais.
Para os EE. UU. mandamos 55% da nossa exportação e de lá recebe mos 34% de nossa importação.
A longo têrmo a solução do pro blema está em reduzir essa rígida de pendência, seja ampliando a produ ção interna seja diversificando a ga ma de nossos produtos de exporta ção.
Econômica Situação
1) Consumo
Chamamos mercadoiias de consu mo genérico as que são adquiridas pela população em geral, e de con sumo restrito as acessíveis sòmente a pessoas que dispõem de maiores re cursos.
co. ra-
Os paícuja
Para aumentar a produção interna o Brasil encontra as seguintes difi culdades: falta de capitais, falta de técnica, falta de patentes, ses que os quiserem conseguir, terão 0 caminho aberto desde que entrem para a grande sociedade de coopera ção internacional!, onde se trocam esses recursos mediante a aceitação de alguns princípios reguladores, eco nômicos uns, políticos outros, formulação inicial está na Carta das Nações Unidas e em outros documen tos mais recentes”.
“Fora da órbita dessa cooperação os países menos desenvolvidos difícilmente romperíam o círculo de li mitações, que seriam agravadas pe la concorrência dos que estariam den tro do sistema”.
As estatísticas revelam que o rit mo de aumento das compi*as de mer cadorias de consumo restrito é maior do que o do aumento das compras de mercadorias de consumo genériAlém disso, o consumo des tas não se aproxima de quantidades que possam ser julgadas suficientes, em termos de uma alimentação cional.
2) Produção
A) Inflexibilidade da prodtçâo do artigos de consumo genérico

Os dados disponíveis indicam ta correlação entre o decréscimo porcional da produção agrícola e o maior acréscimo da população urba na relativamente ao aumento da pulação rural.
cerpropo-
Deseja-se x-essaltar a indicação dos dados estatísticos que acusam pansão agrícola onde a população ral cresceu em proporções relativ mente mais acentuadas. Êsse fato contraria, em princípio, a afirmação, que se está tcrnando corrente, de que o deslocamento de contingentes hu-
exrua-
DiGESTO ECONÓNTICO Í16
— II
manos dos setores rurais tros urbanos não afeta agrícola
para os cena produção
O distanciamento ent de produção e as de consumo cria gi-aves prcblemas de transportes zenamento.
re as zonas e armapaaiicon-
Outros fatores têm contribuído ra agravar a inflexibilida'ae do mento da produção de artigos de sumo genérico:
a) deficiência de organização
b) distorção de investimentos
c) ausência de coordenação dos investimentos.
b) Distorção de Investimentos
Os investimentos residenciais
comem-
U se em construções . caracterizam por uma íoite distribuição de poder de pra, na fase de realização do preendimento, e pela falta de gene ralização da prestação de sei'\nços, em harmonia com essa distribuição, depois de terminado o invesümento’*.
A média mensal da área das cons truções licenciadas em São Panulo e no Distrito Federal passou de .... 281.000 ni2 om 1950. m2 em 1944 para 3S0.0Ü0
c) Ausência de coordenação de ' investimentos a) Deficiência de Organização
A deficiência assinalada é manifes ta sobretudo nos transportes, indús.ria há a assinalar os prejuízos decorrentes da ausência de padroni zação de equipamentos (com merca dos muito restritos e variados indústria nacional.)
para a
Investimentos da União excluídos os das autarquias
Calculando um valor aproximado para as construções em São Paulo e no Distrito Federal, podemos compará-lo com o valor dos investimentos da União e o das importações de equi pamentos.
Êstes valores são os seguintes:
Valor das im portações de bens de produção em geral
Valores hipotéti cos das constru ções em S. Paulo e no Distrito Fe deral
Cr.Ç 1.000.000
Êstes valores, ainda que incomple tos, sei’vem para indicar a importân cia da aplicação de capitais em cons truções em São Paulo e no D. Fede-
ral.
Se verificarmos os investimentos
das companhias de seguros e capi talização nos períodos de 1940/42 e 1947/49 constataremos gi’ande au mento de aplicação em imóveis neste último período.
O mesmo se pode dizer das Caí-

DiGtxsTo EcoNó^^co 117
Na
1.000.000 ANOS Cr.§ 1.000.000 1946 3.143 2.945 3.163 4.655 6.723 6.900 6.200 6.300 6.400 7.300 3.878 7.482 6.971 6.921 7.032 1947 1948 1949 1950
Cr.$
xas Econômicas Federais e dos Ina(De iy-16 a tituios ue rreviaencia.
lyòo oí; institutos aplicaram 5 bi lhões em iiiiuveis, senuu a xuetade no D. i?'eui:ral.)

predileção pela descontinul-
COS, uma dade e inovação, que nos mantêm atrasados em relação a outros pal"
ses . Êstes planos são entendidos no sentido de organização e não no do rigida plaiiificação socialista. uma
se aplicaua eiu tituios, o governo nao teria necesamaüe ue emuir tanto c, Esta organização, por outro lado, não deve ser exclusivamente estatal.
por outro lauo, sendo menor a con corrência para a aquisiçao de mate riais üe construção, o preço aesics , nao se elevana lan.o.
Vemi-s o quanto se impõe a necessiuaui- da couraenaçao uos inves timentos.
Daao que há um grande campo pa ra apiici.çóes de capitais nao deve ser despi ezada a colaboração doâ investmieuiüs estrangeiros.
CAPÍTULO f
“Se em outros tempos o Brasil evoluiu sem planos econômicos, hoje pode aceitar a possibilidade de possa, pelo caminno do desperdíde iôrças, evitar a anarquia e a desmoralização, se cont.nuàr a con ceder favores legais c iniciar obras que estejam prêsas a estudos de ccnjunto, nos quais sc atenda ordem de prioridade, ao escalonamen to dos recursos e à proporcionalidade entre os meios a empregar e os fins
Os projetos legislativos ■.
Desenvolvimento Econômico
“0 geniiralizado anseio de melho rar as condições de vida das popula ções é uma das fortes característi cas dos tempos atuais”.
I f.
que importem em investimentos de veríam sempre estar enquadrados em esquemas gerais pròviamente apro. vados.”
A política do desenvolvimentonómico nacional deve ser articulada com base no planejamento industrial 0 fato decisivo é que a renda nacio nal, entre nós, não poderá atingir a um nível que permita a elevaçào do padrão de consumo, sem o subs tancial crescimento da produção in dustrial. ■
“0 caso, porém, é que se torna di fícil, senão impossível cuidar ao mes mo tempo, com tôdas as forças, do desenvolvimento econômico e do le vantamento do padrão de vida fc erá necessário dividir os recursos eni dois quinhões.
no momen o . produtives.
Compete ao poder central a arti culação dos setores Acresce ainda que o descnvoiviniento econômico, em todo o globo, é ob jeto de programas nacionais e inter nacionais.
No Brasil existe uma “certa pre venção contra os planos sistemáti-
0 que mais poderá beneficiar a in dústria será o desenvolvimento dos transportes e da energia.
Mas, industrializar o país não sig nifica mergulhá-lo num planejamenimaginado
to concen rado, sem que
olhar meios cu graduar o preço poderá custar”.
“Dar programa ã industrialização
●fTf DIGESTO Econó>uco t 118 i-
l P
► »
be Uiua parte dêste dinheiro fôsi
nao se que cio sem a visados,
— III
rescimento ou que possam contribuir para solapar sua expansão”.
Muito ao
não é afastar a iniciativa privada nem diminuir a força propulsora de seus omprcendimontos. contrário, é 'ninis‘.rar-lhc maiores re cursos de fatores, e rmnovor os obs táculos que pcssam impedir seu flo¬
Em 1020 impor‘ávamos
Em 1039 impi rtávamos
Em 1950 importavamos
A importação de petróleo absorve 11% do total dos pagamentos terinr e 17% na área das moedas ao excon-
vor.sívcis. Se não os importássemos poderiamos comprar mais 280 Ihões de cruzeiros por mês de quinas e equipamentos (1950).

mimá-
O que tem afugentado o capital particular da exploração do petróleo é a incerteza da política econômica governamental.
Outro ponto importante é que tran.«portos não poderá haver dustrialização acelerada”.
sem «:in-
“A deficiência dos transportes é hoje a grande responsável pelo es trangulamento do fluxo abastecedor dos mercados de maior consume, pe lo desestimulo às atividades agríco las, pela redução e encarecimento da produção rural, pela irregularidade c insegurança de renumeração das iniciativas da agricultura e conseqüente dificuldade de fixação do tra balhador na zona rural”.
Depois dos transportes e da ener gia ou'ro ponto importante para o desenvolvimento industrial é o do au mento da produtividade individual, o que não se conseguirá sem uma per feita articulação entre a política so cial e 0 aperfeiçoamento da qualida de da mào-de-obra.
Nos setoros assinalados, transpor-
mos
Quanto ao petróleo, para avaliara importância de sua solução, bastante atentarmos para cs seguin tes dados:
280.000 toneladas
1.051.COO toneladas
3.900.000 toneladas
tes energia, a ação não deve per tencer com exclusividade ao Estado.
É preciso que nos lembremos que: o ritmo da expsnsâo da indiistria nacional não poderá deixar de obede cer às condições estruturais da eco nomia do país e, por consecruinte, não será possível acele)'á-la além de cer to limi‘e”,
A proteção pelas tarifas de im portação é um dos process''s clássi cos de defesa que, mal orientados, poderão também produzir efeitos ne gativos, e trancar o desenvolvimen to cm lugar de facilitá-lo.
Mesmo considerada cm seu senti do prrtecionísta, a arma tarifária nor si só é ineficiente. Refletida sobre econômico interno, ela não o campo
estimularia bastan*^e a crescente pro dutividade, qualidade, a busca de tipos peculia res ao consumo nacional, e a prefe-
aperfeicoamento da o rência para os que se jam capazes de evenlualmente competir no mercado exterior.
Para se conseguir nm desenvol vimento harmônico das atividades econômicas será necessário introdu zir mudanças nos prccessos de tra balhos rurais.
"Temos seguido a rotina traçada pelos primeiros exploradores do so lo, e continuamos a devastá-lo e a
LílOiísTu Econômico U9
empobrecê-lo, queimas, culturas exaustivas, aban dono das terras cansadas, provoca-j ção de erosões, e ou‘ros meios de di-( lapidação, talidade primitiva é o desaparecimen to da fertilidade e a formação de fu-
com as O resultado dessa menturos desertos”.
derrubadas,' ' dar que sòmonte se poderá chegar a resultados reais com o emprego con junto dos meios de que dispõe o Go' vêrno, não só no próprio setor agrí cola mas também nos demais setores econômicos, conforme indicado nos diversos capítulos desta exposição”. íi “Entre os tópicos que estão sendo j objeto de sugestões, para o progresda agricultura, acreditamos que merecem mais especial atenção: so
“Chegou, pois, o momento de rea- ^ lizarmos uma campanha nacional pa-| j: ra pôr fim a essa fase depredató-> 'j r na.
“Sem entrarmos nos detalhes do problema que estamos caracterizando, diremcs apenas que a atual crise da) falta de abastecimentos dos centro.s\ populosos está profundamente ligada; a essa desorganização da produção' agropecuária, que começa no irracio nal uso da terra e termina na de feituosa distribuição ao consumidor.”
j; a) — o desenvolvimento da assis\ ● tência técnica para melhorar a cultu"'ra da terra e a defesa dos rebanhos:

b) — a produção e a distribuição de fertilizantes de várias composições, químicos e orgânicos;
c) — a segurança de preços míniquando se fizer necessária;
“O afastamento cada vez maior en tre as zonas produtoras de cereais e os pontos de consumo gera, no presente, gi-andes entraves ao abastceimento das cidades próximas ao litoral. O transporte ferroviário, já de si ineficiente, suporta o ônus de grandes distâncias sem produção. E, enquanto assim se complica a chega da dos gêneros às capitais populo sas, estas crescem em número de habi*^antes e em capacidade indivi dual de consumo”.
“Em face dessa situação, o pro blema nacional da organização das atividades rurais está exigindo as
mais urgentes medidas, e não se po de deixar de dar-lhe uma alta prio ridade na política econômica a seSem detalhar os pontos vários incluídos nessa política, creentanto, que nos cabe recor-
guir. a serem mos, no
d) — as facilidades de escoamento, armazenamento e transportes efi cientes;
mos. o espeo
e) — a expansão de crédito cializado, atingindo diretamente produtor, por meio de um sistema gradativo de redescontos;
f) — por fim, a organização das associações rurais, dando aos pro¬ dutores consciência de sua maior sistência quando unidos e em ração”. coo re-
pe“ Somente por meio de providên
cias dêsse tipo poderá ser consegui da a grande transformação agrária no Brasil, que depende mais de real mudança de processos em bases técnicas, do que de reformas sociais de efeitos duvidosos”.
DicESTo Eco^●ó^^co 120
& )
uma
urgência ser enpartes que a naff
“A mecanização das atividades agrícolas, sendo medida de para corrigir a baixa produtividade do trabalhador rural, deve frentada em todas as constituem, inclusive a fabricação cional dos implementos e máquinas apropriadas.
■dos preços em vez de contribuir pa ra a sua baixa”.
A seleção de crédito, na esfera ban cária, só pode atingir a um nível de eficiência se houver um programa, bem definido, de pclítica de investi mentos.
Política de Investimentos e Política Monetária
“Costuma-se dizer que, quando aumento da produção de mercado rias e serviços corresponde ao acrés cimo de meios de pagamento, não há tendência à inflação”.
o
Não atingiremos a uma coordena ção satisfatória dos investimentos se deixarmos de integrar a política ex terior no conjunto das medidas que o Governo venha a adotar em seu pro grama de desenvolvimento económiQuanto mais pudermos ampliar a utilização dos fatores de produção, por meio da cooperação estrangei ra, tanto menor será a premência de seleção dos investimentos, e menor a complexidade da hierarquização do emprego dos fatores de produção dis poníveis”.
Dêste modo a
Isto só seria verdade se o novo di nheiro permitisse o aparecimento quase imediato de mercadorias de consumo genérico, renda distribuída sob a forma de sa lários, ordenados, lucros e rendas se ria desde logo contrabalançada com o adicionamento de gêneros alimen tícios, vestuário ou artigos análogos. Quando uma emissão de dinheiro c aplicada na construção de uma estra da ou de um prédio, "durante o lon go prazo de realização do empreen dimento haverá acréscimo de dis^^ribuiçâo de renda, sem o correspon dente aumento de bens de consumo, que só afluirão ao mercado no fu turo”.
“Se facilitarmos o acréscimo de meios de pagamento em favor do au mento geral da produção, abrangen do indiscriminadamente todo e qual quer investimento, forçaremos a alta
Temos reconhecido a necessidade de assegurar-se a transferência de lucros e o retorno de capitais es‘rangeiros aplicados no território nacio nal, sendo prejudicado pela impossibili dade de efetivarem-se prontamente as remessas pleiteadas pelas empresas. Não nos devemos iludir sobre o ca ráter transitório de tais obstáculos, pois éi6s serão permanentes enquanto não procurarmos acelerar os investi mentos destinados à produção daque les ar‘igos que pesam de maneira crescente e cada vez mais inflexível na sema de nossas importações”.

Mas êsse reconhecimento vem
No entanto, o mercado livre de câmbio não deve ser adotado sem mui ta precaução e constante vigilância.
Apesar de não ter ainda todos os elementos, o Conselho acha que o Govêrno deveria estudar a possibili-
Dir.ESTO EooNó^^co 121
U
il
co.
CAPÍTULO — IV
%
1 'r■ rr
dade de ir dando mai-.i importância de tarifas em lugar do do comércio exterior.
ao regime licença prévia no de ordem psicológica:

regime ocasiona dúvidas quanto à manutenção da taxa oficial.
vastidão do teiTÍtório nacional apre- ^ senta-se, às vezes, a concomitância de surtos inflacionários em determina dos pontos, a par da visivei queda de atividades em outros. A polí ica orçamentária não deve guiar-se tão somente pelas flutuações cíclicas nos grandes centros, mas atender também falta do paralelismo na evolução econômica das regiões em determina do tempo”.
b)
os ágios não sendo receita tri butária, não poderão ser uti lizados pelo Tesouro.
a) o Três anos depois da elaboração do documento em análise, nos encontraainda diante dos problemas que E à luz da mo3 foram objeto de estudo,
experiência fornceida pelas tenta'ivas de solução iniciadas posterior mente à sua publicação nos achamos habilitados a indagar do acêrto ou desacerto de suas conclusões.
DIGESTO ECONÔ^Í1CO 122
a
A adoção de um regime de taxas múltiplas tem os seguintes inconvenien.es j
O Govêmo deve procurar conse guir o equilíbrio orçamentirio. Que remos “salientar a necessidade de o Governo examinar a regiêo onde se realizam as despesas púb.icas. Na
o Financiamento dos Investimento» pelo
1, — Insuficiência dos recursos da poupança coletiva.
0 sr. Eduardo Escarra, Presiden te do Crédito Lionôs, em uma exce lente exposição feita na quarta são do “International Banking Summer School”, que foi celebrada Paris de 8 a 22 de setembro de 1951, sin etizou em um breve, porém lu minoso relàtorio, os acontecimentos que tiveram uma importante reper cussão econômica na primeira meta de do século vinte. Esta exposição foi publicada sob o título de “Papel da poupança na França do financia mento dos investimentos” (1).
tativa, passando a ser formada pelo trabalho e economia de um mímero maior de possoas. Enquanto que os montantes totais das poupanças na cionais se reduziam em valores abso lutos, 0 fenômeno era acompanhado de uma mudança qualitativa, que re sultou da democratização do pr-^ces- ●
sesem so no, sentido em que a poupança se torna menos função das grandes fortunas individuais, hoje a caminho de uma diminuição lenta, devide aos impostos “nv'rtis causa P‘'stos progressivos, continuanco a formar-se das economias atômicas ^ \ economizado- 'j
e aos imdos pequenos e médios res.
Os oito grandes acontecimen^-os, citados por E. Escarra, os quais pro vocaram profundas transformações econômicas na vida geral das nações durante as últimas dezenas de anos, contribuíram separadamente e tam bém ao mesmo tempo, em mudar as modalidades pelas quais se realizam 03 processos da poupança atual. Evidentemente, o número de fatos im portantes mencionados é só indicati vo c uma lista mais curta ou mais ampla é possível de ser redigida.
0 fato incon'estável e de uma ma nifestação generalizada é que a pou pança sofreu uma ação de estreita mento, tendo, portanto, sido reduzi da em quantidade, sofrendo ao mes mo tempo uma transformação quali-
Já fizemos a análise deste proces- ^ so noutra parte (2), e aqui vamos sòrecordar oste aspecto da pou- mente pança contemporânea.
A mudança quan itativa e quahtotiva da poupança dui"ante a prini'iiva metade do século vinte, nos parece ter sido provocada principalmente pe¬ las seguintes causas:
a) _ Depois de 1914, duas guev- ' ras extremamente sangrentas e de caráter mundial, contribuíram criielmente para a destruição de uma qu in- ■ tidade incalculável de bens materiais, de um número substancial de vi»las humanas, desviaram o sentido normal ^ da produção para fins improdutivos e espalharam o sofrimento e senti mento de insegurança econômica no ;

\
1
(i) Financiamento dos Investimentos, publicado pela Associação Profissional dos Bancos, Paris, 1952, pág. 20-48.
(2) Introdução à Política Fiscal. Edições Financeiras S.A., Rio de Janeiro, 1953 pág. 211-241.
A .imagem trágica mundo inteiro, da devastação de uma grande' par te dos investimentos destruídos, du-
x*ante as duas guerras, não mais re presentava atrativo para encorajar a virtude de economizar com vis'a a novas inversões. Na verdade, uma parte da fonte de muitas rendas, que alimentavam anterÍormen'e a pou pança nacional, estava esgotada. 0 efeito das duas guerras se fêz sentir portanto sobre o processo da forma ção da poupança, trmando-se menos substancial que outrora, e ao mesmo tempo afetara e enfraquecera o de sejo de realizar a economia e de in vesti-la.
0- Estado tos setores econômicos, está presente na produção, circuladistribuição dos bens e servicontr'’la uma çao e ços; êle planifica e
mesmo no nosso
grande par e da vida economica e fi nanceira da nação, regulando niesproblemas que devem permanecer reservados à economia individual: êle emite o papel-moeda em função do permanente
mo orçamentário
quase todes os países do mun do, subvenciona e empresta, como desòmente fazer os bancos parti-
deficit em vem culares, e intervém também no prodo investimento privado. Êle instrumento bom “à teut cesso possui o faire”, que é o imposto progressivo de nossos dias, e a agravação genera lizada da fiscalização pesa como uma 03 processos da espada sôbre
pança, pronta a golpear, em favor deste Moloch moderno, todas as dis ponibilidades da economia privada. Evidentemente, seu volume total reduz a uma cadência, deve dar muito que pensar, e os projetos dos investimen tos privados nao mais encon tram a substância necessá ria pai*a sua realização.

0 domínio, que ainda há muito pouco tempo era ação execlusivo da economia priva da, fôra invadido pelas organizações, que representam e agem em nome da coletividade. A vida nacional tornouse mais social, e a poupança indivi dual, como também o investimento privado, perderam seu aspecto atomístico em favor de uma mecânica econômica de caráter mais coleti-
pouse que o campo de vista.
As diferentes fórmulas políticas que assinalam a evolução democráti
u
DlGliSTO ECONÓMIC-O 124
— O novo papel econômico, re servado ao Estado centemporâneo, nao influenciou menos as condições presentes da poupança e do investi mento. Sem falar do Estado socialis ta, que submete a economia priva da da nação a uma pressão sempre crescente em favor de seu se tor público, mundo econômico capitalista e individualista, os efeitos desta mudança têm contri buído para a insuficiente for mação da poupança e de seu reduzido papel nes investimentos. A nacionalização, que representou anti gamente a condição de exceção na mecânica geral da economia pública, tornou-se o instrumen‘'o corrente do Estado contemprrâneo. Muitos par tidos políticos se apegaram às nacio nalizações como a uma panacéia uni versal, capaz de solucionar todas as deficiências sociais, econômicas e fi nanceiras das nações. 0 novo papel transformou o Estado contemporâneo em único e principal patrão de mui)
ca ou social de nos so mundo, passam zação monetária, destrói, valor das economias
mo capitalista o U new deal deal” inclusive —, chegando a pulve rizar as grandes fortunas individuais e tendendo a igualar as rendas. Uma melhor repartição
assim, o em dinheiro. do mar.xismo-eoletivista ao keynesianisrocura de scendente, enquanto que a oferta diminui necessidades de capi ais imensos são lessentidos tanto pelo setor privado das economias
Finalmente, capitais segue uma d) p a curva a
As nacionais (os
U fair ou das rendas e progressos científic-s e técnicos que implicam investimentos considerá veis), como também pelos tes, que são obrigados armamento,
novos governana gastar no reequipamento, na re
mesmo das for!unas, terna-se o “slo gan” social de nossos dias e o pro cesso da poupança individual recebe sua verdadeira função. ünicamente construção dos países, que sofreram durante a guerra e nas realizações sociais, aumentando cada dia em nú-
considerada em seus quadros regio nais ou nacionais; a poupança e o investimento individual são contades mais como ato ou fato econômico, forem considei^ados também do ponto de vista coletivo.
se O pequeno ou o
mero e volume.
e recaem-
m.édio economizador de hoje dev meter suas economias para as insti tuições especializadas para coletar estas disponibilidades; o investimen to pelos próprios meios constitui so de exceção, e a poupança coletiva, os recursos públicos, e mesmo a me cânica do credito são indispensáveis para a realização das grandes prêsas modernas.
c) — As transformações sofridas pelos processos da poupança e do investimento contemporâneo, são de vidas também ao fato da desvalori zação da moeda. A inflação tornouse a modalidade generalizada e cor rente para cobrir uma parte das des pesas públicas. O dificit orçamentá rio crônico é mesmo pregado cemo niêcanica fiscal indispensável por ra zões de equidade e de equilíbrio so’ ciai. A alta impressionante dos pre ços, que é 0 corolário da dosvalori-
Considerando a poupança em seu conjunto, constata-se, visto as cau sas mencionadas mais acima, que seu volume diminuiu e que mesmo uma modificação se produziu em sua es trutura. A formação da poupança re presenta em nossos dias um proces so extremamente c^inplexo; os ca nais, por intermédio dos quais se rea liza sua formação são mais numero sos; ela não mais é uma função ex clusiva da livre vontade de seu economizador; seu caráter social é in discutível.
2. — Poupança obrigatória
O novo papel econômico do Estado moderno tinha amputado uma par te da poupança, absorvendo-a pelo imposto: o imposto do Estado, o im posto das coletividades, pela fiscalidade ou pela parafiscalidade. Como o dizia Eâuardo Escarra no estudo já citado (3):
Porém, há aí qualquer coisa de (3) Eduardo Escarra, op. clt., pág. 38.

ÜKJtiSTü Econômico 125
íasG, pode restituir a êste setor uma ^ destes meios para servir aos ’
porção
investimentos produtivos, não justi fica o têrmo da poupança forçada, no sentido dado por Eduardo Escarra a O autor ci- esta parte da poupança,
tado confunde a poupança forçada, que é uma modalidade servindo como base a uma nova forma de crédito pú blico, com o aumento de imposto, que amputa pura e simplesmente uma parte suplementar das rendas ou do capital privado.
O sacrifício definitivo, que se rea liza pelo ato da imposição, não tem direito de esperar nenhuma contraprestação, não deve ser assimilado com a subscrição forçada n um em préstimo público, em troca do qunl se recebem títulos correspondentes n ii 1

po-
Em relação com êste aumento da fiscalidade e da parafiscalidade, de-se assistir a uma transformação no capítulo das despesas públicas de quase todos os países. 0 processo do K' investimento privado logrou a obten” ção de uma participação substancial ^ nos recursos públicos. Uma parte Inglaterra, como
seu pagamento, guerra mundial, a '!■ do encaixe público é devolvida à eco- Funk na ^ nomia privada, para que esta realU aplicaram modalidades muito j
última do em préstimo forçado tovnou-so uma for ma corrente do financiamento dns despesas de guerra. Lord ICeynes na também dr o . ram e semoque se tornaram clássicas no domínio das finanças públicas.
Duran^c a m odalidade
Alemanha, projeta p ze investimentes, considerados de in- lhantes ao crédito forçado, J terêsse especial ou cole ivo. O impôsto não mais sendo considerado como ^ instrumento, que serve quase exclu( ● ● sivamente para cobrir as despesas ‘ administrativas do Estado
Na situação examinada por Eduar do Escarra, não se trata de uma fóre sua mula de crédito público, mas, comfunção social tornando-se regra — é pletamente ao contrário, de uma ação lógico que uma parte das entradas venha cr brir a porcentagem das des pesas de investimentos produtivos do setor privado. Todavia, a nova mecâ nica fiscal contemporânea, serve do imposto para tirar antecipadamen''e uma parte mais importan te das rendas ou do capital da econo mia privada, e que, era uma segunda V. 5^
suplemen‘ar de imprsição. Evidentemente, os dois instrumentos fiscais sâo aplicados sobre a mesma baso da economia privada, seus rendimen tos e seu capital. Mas, enquanto quo na hipótese da imposição temos um ato definitivo de transmissão exclui uma vantagem direta e pes soal em favor do cidadão que paga a iêêÁ
DlGESTO Econônu
126
é que uma parte des*a poupan- novo: ça, muito mais considerável que outrora, é absorvida pelo imposto, im posto do Estado e das coletividades anexas, pela fiscalidade e parafiscalidade. Entretanto, tal fato não é I-
exatamente a p-upança, mas sim, a justo título, o que se chama poupan ça forçada. Ela implica, como a poupança livre, um esforço da eco nomia do economizador, uma restri ção de despesas de luxo, e alfjumas vezes, para cs menos ricos, em suas despesas correntes; a única diferença com a poupança livre é que ela não devolve nada ao economizador, e não custa nada ao Es'ado, que tira sua parte adiantadamente.”
que se que
t
o imposto, na mecanica do crédito forçado a i indispensável. compensação é condição
A poupança pode ser realizac’-i vista de uma operação de crédito li vre e mesmo forçado, poupança implica, mos, a idéia de permanência, de cris talização da fortuna privada, noção e o ato economizador têm sentido, se Iho e do capital podem garantir possuider no futuro.
em A noç-ão d Esa um renumeração do traba seu A noção de
com recursos rios. públicos extraordiná-
3.
— A posição clássica dos bancos comerciais e dos bancos do investimentos. e conforme aclia-
poupança desligada de tôda
ça futura perde totalmente sua jus tificação eccnómica e psicológica. O crédito, mesmo forçado, pode se apli car sôbre a base de uma
Se a poupança coletiva não possui ineios suficientes para oferecer aos investimentos privados o dinheiro de que êstes necessitam, so o financia mento dos investimentos no meio dosrecursos públicos não mais pode tisfazer completamente tal procura. 6 necessário que a técnica financeira contemporânea encontre outras fór mulas para contribuir para a reali zação do equilíbrio social e econô mico, do que nosso mundo econômico precisa, e para o qual o processo do investimento dirigido parece ser um dos mais importantes instrumentos.
seguranpoupança forçada, porque a remessa de um títu lo de* empréstimo satisfaz a condi ção de uma futura compensação; imposição não faz outra coisa que afe tar rendimentos cu o capital do, e não determina uma forçada.
pnvapoupança
A condição da poupança é a liber dade, e a única ação possível que esta instituição individualista poderá ceder em favor da economia pública será o empréstimo. O empréstimo forçado c praticado também pelo sis tema coletivista da Rússia soviética, f nde representa um instrumento çamentário comum; se o empréstimo forçado pôde ser substituído por não importa que gênero de imposto, inumana prática coletivista não teria negligenciado de o fazer, em sua ação de expropriar todos os frutos do tra balho individual.

conora
0 crédito forçado representa uma
* mecânica suplementar para facilitar o financiamento dos investimentos
O financiamento do investimento devia também fazer apêlo ao crédito em uma nova mecânica, que repouse sobre a intei'vençâo do conjunto dos bancos, técnica bancária mente depois da primeira guerra mundial. Eis em que termos analisa o sr. Pierre Herrenschmidt, Diretoi do Crédilo Nacional da França, esta evolução da técnica bancária (4):
Sem contestação possível, a eveluíra enorme-
“É verdade que a evolução da téC' nica bancária dèstas três ou quatro década é um fato geralmento constatado. Sem que se modifiquem os dados fundamentais, sôbre os quais repousa a distribuição do credito, tal fato fêz o banqueiro adaptar seu?
Dicesto Econóníico 127
sa*
uma
(1) Pierre Herrenschmidt, "O financia mento dos Investimentos pelo crôdito', no "O financiamento dos Investimentos’ , Editoras’Universitárias da França. Paris , l9o2 — pág. 49-50,
necessidades nascidas de continuamente métodos às condições econômicas mutáveis e finalmente muito diverdas do início do século.
sas se
medida os procedimentos influenciados pela evolução das econômicas fiando-se simdados constitutivos
foram estruturas plesmente
vadoB para o setor do financiamento comercial ou da produção das merUma operação comercial cadorias.
destas últimas: industriais, duração acrescida de
nos maiores concentra¬ ções ciclos de fabricações, importância au mentada dos mercados administratiem relação às transações comer- vos ciais privadas — e até que ponto elas foram tributárias de vicissitudes, que têm atingido e algumas vêzes arrui nado estas mesmas estruturas — ar mamentos intensivos e destruições maciças de riquezas, desvalorizações monetárias seguidas de um enfraque cimento da poupança. Em todo caso é certo que além da permanência dos princípios que impõem ao “métier” de banqueiro a natureza mes ma do comércio do dinheiro, a ante-
i cipaçâo pelo crédito da formação de estendeu-se a objetos mais riqueza complexos e aplicou-se a mais lon gos espaços de tempo.”
Porém, antes de apresentar a no va mecânica dos créditos a médio ou curto têrmo, mecânica esta que co meçou também a ser usada no qua dro do processo mais complicado e ao mesmo tempo mais longo do investi mento, é preciso lembrar o sistema anteriormente praticado. É preciso notar que somente os créditos a lon go têrmo servem para o financiamen to de investimentos de equipamento industrial, e que os créditos a mé dio ou curto vencimento estão reser-
cbtém um acesso fácil ao redesconto porque tem um desenlace muito pró ximo, comporta menos risccs, e pode considerada independente da si tuação geral dos negócios do cedente e do sacador. Para a fabricação dos 7)rodutos em relação com o prazo do ciclo da fabricação das empresas, o crédito a meio termo arrisca que os banqueiros se antecipem, com ba se em seus depósitos; esta operação implica um pouco mais de risco do que o crédito comercial propriamente dito. O investimento necessita de um financiamento situado acima des tas categerias de opei-ações finan ceiras menciondas, porque no caso do investimento trata-se de financiar constituição do próprio aparêlho da produção.

Eis, em linhas bem gerais, cepção clássica da matéria:
O financiamento dos investimentos realizados pelos estabelecimentos que outorgam empréstimos a longo têr- I mo, foi dirigido nas últimas cadas e sobretudo após a segunda guerra mundial, também recursos públicos. Pelo contrário, bances comerciais permaneceram domínio da economia privada o a no va técnica do financiamento dos in vestimentos pelo crédito viu-se obri gada a encontrar novos meios receber as disponibilidades, que eram ! confiadas a estes bancos de depó- ' sitos. O depósito de outrora serviam transitoriamente somente operações a curto ou meio têrmo, sei-vem também para financiar os inves- ! timentos a longo têrmo; eis o proble- J
Digesto Econômic*^ 128
Sem dúvida é difícil» e será quainútil tentar determinar, em que bancários I ●
ser a a condépara os os no para para as
ma que a nova mecânica bancária de ve solucionar.
Para responder a uma tíil tarefa, 03 princípios da ort-doxia bancária devem cui-var-se diante de lidade, que não mais admite ção Iradicional, de que se orgulha vam tanto os estabelecimentos peitáveis. As tendências de cada eco nomia nacional têm, evidentemente, influenciado a marcha desta evolu ção, que apresenta aspectos carac terísticos em cada país. Esta evolu ção, também, esteve relacionada o sistema bancário praticado em da um destes países, porém sua linha mes ra pode ser encontrada em tôda parte.
uma reaa posirescom capa-
Foram a implitude e a urgência destas necessidades que determina ram os bancos comerciais e de de pósitos a passar mais depressa ra esta nova técnica bancária de fi nanciamento dos investimentos, e, visto 0 volume das destruições da guerra que se produziu na França, é explicável porque a experiência francesa é uma das mais interessan tes.
Eis as considerações do sr. Pierre Herrenschmidt, que apresenta es ta evolução na França em um exce lente es'udo, do qual já falamos (6):

“Na França, uma evolução recen te da técnica oferece no domínio do financiamento dos investimentos, um exemplo notável desta adaptação a novas necessidades.”
“0 problema fundamental, que se colocou após a guerra, era o do le vantamento dos meios de produção do país. A amplitude das destruições
e espoliações era tal tituiçâo do material industrial podia ser estreitamente subordinada à f rmação de capitais de Foi
que a reconsnâo poupança, necessário nestas condições fa zer inovações em relação com as tra dições observadas até sistema bancário francês tindo assim aos bancos ccntribuírem
o momento no permipara o financiamento de certos inves timentos com as disponibilidades, que lhes foram confiadas em depósito”.
“É verdade que as au'^oridades ban cárias francesas não inauguraram no assun‘o vias totalmente inexplora das. A solução escolhida por elas nâa foi mencs original e particularment« adaptada à organização do mercado monetário francês, tomadas para manter, em limites ra zoáveis, a aplicação do mecanismo do crédito usada já em 1944, não trouxeram prejuízo à sua flexibili dade, não eficácia.
As precauções fazendo obstáculo à sua concordaram fàcilmente em O setor
O financiamento dos investimen tos por intermédio do crédito resu me-se em uma concepção mais ousa da e realista sobre as condições eco nômicas do país. O instrumento ban cário não está completamente isola do nos setores das operações de mé dio e curto têrmo. Os bancos comer ciais americanos e também as autori dades dos U.S.A., compreenderam ● valor econômico de uma tal ccncepção e desde 1934 os “Federal Resei^va Banks dar empréstimos para os investimen tos com um vencimento até cinco anos, assimilando estas operações com seus negócios correntes, industrial, que se achava obrig’ado em outros países a dirigir-se exclusiva-
Diciusto Econômico 129
(5) Pierre Herrenschmidt, op. cit., pág 50.
financiador do pro- mercados de capitais, nios nao como duto, mas dos bens de produção, fi nanciador do capital fixo das empre sas, financiador dos negócios a longo prazo, supridor do capital permanen te. Para se poder compreender perfeitamente a atividade do banqueiro do investimento, deveriamos começar mostrando as diferenças existentes entre as atividades dos banqueiros
mente aos quando se tratava de um investimen to em U.S.A. podia à sua escolha também usar o crédito. Chegou-se mesmo a prever, na legislação de 1937, que nenhuma categoria de tí tulos seria excluída do desconto. Evi dentemente, tal sistema bancá rio implica uma independência des tas instituições, não importando quálquer intervenção políLica ou adminis trativa, de modo a prevalecev-se dos descontos exclusivamente nos crité-
rios objetivos, econômicos e finan ceiros, das operações examinadas. Até a ortodoxa Inglaterra utiliza des de vários anos um sistema preferen cial em favor de cinco gi*andes ban cos, que lhe dão assim a possibili dade de conceder créditos a longo ter mo.
O Banco da Inglaterra aceita
há muito tempo o desconto solicita do pelos “Big Five zos bastante afastados, sem obsei’var legras estritas quanto ao uso do fi nanciamento a tais créditos. A con cepção mais restrita, que representa a antiga posição, que colocava em pa ralelo a atividade dos bancos
comerciais, do banqueiro que trabalha com depósitos, e do banqueiro de in vestimentos.”
“O banqueiro de depósitos, como to dos sabem, é o homem que coleta de pósitos, que coleta as economias po pulares e as disponibilidades comer ciais em contas correntes, sujeitas em sua maioria, ao movimento de cheÊle reúne somas elevadas, su- ques.
bordinadas, entretanto, ao movimento diário dos saques, sujeitas ao ciclo normal das retiradas.”
mesmo em pracomerpassagem seguinte
ciais e a dos bancos de investimentos, reflete-se na
que escolhemos para esque
(6) Dr. Orozímbo O. Roxo Loureiro, “O Banqueiro de investimentos como finan ciador da produção e distribuidor da ri queza”. Conferência pronunciada no Cen tro de Debates Cásper Libero — São PauJO. 1950, pág. 6-7.

“ Nessas condições, êle não pode facilitar, destinando as quantias que recebe neste movimento, de giro rá pido, para aplicações a longo prazo. Êle não pode, sem fugir às boas gras da técnica bancária, aplicar capitais que lhe são confiados a pra zos excessivamente longos. Êle pre cisa trabalhar dentro de limites treitos. Êle não é, portanto, finan ciador a longo prazo. Presta, eviden temente, um trabalho de inestimá vel valor à coletividade, porque su pre os capitais de operação de quase todas as empresas. Supre as nossas necessidades temporárias de capital, atende às nossas conveniências do momento e atende também ao giro das mercadorias, que êle financia.”
reos es, ex traída de uma conferência do sr. Orozimbo Roxo Loureiro (6): "O tema ta conversa refere-se às atividades do banqueiro de investimentos, denominamos o financiador da produ, ção e do distribuidor da riqueza. Fi nanciador da produção, nós o entende-
Mesmo no quadro hoje ultrapas sado da concepção clássica, da qual o
DlGESTO EcONÓNUCO 130
►
J
autor mais acima lembrado parece eer constante adepto, o financiamento de investimentos não implica a função de suprir o capital permanente de uma empresa privada. A colocação entre o público de tal capital constitui atividade de corretagem e não um financiamento de investi mento. O financiamento deste in vestimento é feito pela aplicação do economizador, que compra títulos. Nesta operação, o corretor é um sim ples intermediário da venda dos títu los e não um financiador. A compa nhia de investimentos, que compra uma emissão com seus próprios fun¬
dos, mesmo se revender ulteriormente êstes títulos, realiza realmente uma atividade de financiamento. Êste não é o priamente dita de tais títulos.

caso da colocação prò-
Com a reserva enunciada, conside ramos, que a citação já mencionada resume em suas grnndes linhas a posição clássica dos bancos comer ciais, de uma parte, e dos bancos de investimentos, de outra. A análise da nova mecânica do financiamento dos investimentos pelo crédito, que modificaria extremamente o antigo estado de coisas, será feita em um próximo estudo.
Dicesto Econômico 131 I
I
A OLIVICULTURA NO BRASIL
PiMENTEL Gomes
Generalidades
O Brasil, já se tem dito e repeti do muitas vezes e com muiia razao, tem couos os cumas, menos os excesl^ara isco concvrrem sua ex- SiVOS.
I primento — sua situaçao geográr íica, sua altimecria e o lato uo ne’■ misxeno menuionai ser mais írio que ‘ o setentrional.
de sobretudos se torna Acre, e o uso obriíjucorio uieoiuo uurc^iue o aiu. iJes— ce a yrtius iic^tAtivos ciii oau ooa— quiin, üLrt. uu.uiiUti. rsas pruxiiuiüa-
aes ua L-iuaue ao iviO ue OMiieiro, iiã urua ue chma ceinperaUo uma vasia tensão — mais ae giaus ue com- auaVtíS. A leillpcratura com veroos baixa, uuivnce o inverno, are ute a. £> graus liegauvos. AS cusas COmor-' taveis tem jaicu^s e as UbitiZuiu.
Ur O clima é muito mais suave do que K Be pensa aluures e ate mesmo Brasil. Os dados comumente W cidos pelo Serviço ae Meteorologia < do Ministério da Agricultura ^ e usados no livro “Brasü", eaitado, a tí tulo de propaganda, pelo Ministério do Extenor, também não indicam o ^ ■ que o nosso país de fato é, pois são ' muito mal escolhidos.

no lorneReferem-se,
em regra, a estações litorâneas, qua se ao nível do mar. Ora, o Brasil é { principaimente um planalto, e se sa' be que a altitude corrige a latitude.
K gieuas ue eiiiiia niuito suavizada peia aitituue iiao sao excepcionaisHa, em noaso p.*is, y.a4ó quiiuiuetros quaurauos acuna aos looi meirosbttDenau-se que a temperatura meuia.
anual desce ue cerca ae um grau centígrado por lôü metros ae eleva ção, poae-se veníicar o que isto sig nifica. Há 2o4.ootí quilômetros quadraaos entre boi e ioOü metros de altitude; 9/9.5Ó2 quilômetros quadra dos en.re 6üi e 9uo metros; 2.ddl.36l quilômetros quadrados entre 3ul ^ 600 metros; 1.463.475 quilômetro» quadrados entre 201 e 3ü0 metros* 1.547.475 entre 101 e 200; 1.902.735 até 100 metros de elevação.
seja
^ É por isto que o Rio de Janeiro, Nova ; Friburgo e Alto do Itatiaia, embora se encontrem pràticamente sob a mesma latitude, gozam, respectivameníe, de 22, 17 e 11 graus centíw grados de temperatura média. O mesmo fenômeno permite que o cli^ ma dos planaltos nordestinos muito mais suave que os do norte da Argentina, por exemplo. Já foi ob- servada uma nevasca em Goiás, na chapada dos Veadeiros, à altura do f. paralelo 14. Durante o inverno, há geadas em Goiás, a temperatura cai , B graus positivos em Sena Madureira,
As correntes marítimas e a ação do vento têm muita imluência sobre o clima, modificando, às vêzes sen sivelmente, o efeito da latitude. As mínimas absolu.as muitas baixas que se verificam na Amazônia ocidental
são, ao que parece, provocadas pe los ventos frios da Antártida. Atra
vessam as planícies argentinas, in sinuam-se entre os Andes e o pla nalto brasileiro, e atingem as mar gens do Amazonas, provocando que das bruscas de temperatura, que po-
0
L
r
dem ultrapassar os 20 graus centí grados. São as célebres íriagens do Guaporé, do Acrc, do Amazonas oci dental. Cada onda de frio, em regra, é acompanhada de garoa e dura vá rios dias. Os cobertores saem das malas e todo mundo usa agasalhos de lã. Isto em plena selva amazô nica.
Ora, há necessidade de aproveitar, ao máximo, os climas temperados, que permitem ao Brasil produzir, em boas condições econômicas e do mo do prà icamente ilimitado, todos os produtos que fazem a riqueza agrí cola da Eurojja e da Argentina cen tral e meridional, desde o trigo, a aveia, o centeio e a cevada, até a azeitona, a uva, a maçã, a pêra, o pêssego, a ameixa, o marmelo, a framboesa o caqui. É um verdadei ro absurdo gastar, anualmente, cerca de um bilhão de cruzeiros importímdo frutas de clima temperado, azei tonas e óleo de oliva, qre c mo está provado na prática e em escala gi gantesca, podemos produzir no Brasil, E há casos até inesperados para mui‘a gente. Os melões produzidos no Ceará, em pequena altitude a 200 metros — são maiores, mais bonitos, mais sab rosos e muito mais perfumados que os importa dos a pêso de ouro, da Argentina, Portugal e Espanha. O Ceará po dería abastecer os mercados brasi leiros com melões melhores que os estrangeiros, crlhidos principalmen te, entre junho e janeiro. Infelizmente, as Secretarias da Agri cultura das províncias nordesMnas não sabem t'mar rumos que se afastem dos ro tineiros. Acontece que dificil mente um agrônomo chega

ft secretário da Agricultura, cargos entregues a quem faz polí tica e dispõe de votos e não aos que têm a indispensável cultura especia lizada. Daí, em grande parte, o sub desenvolvimento das províncias nor destinas.
A OLIVICULTURA
Entre as espécies próprias de cli ma temperado, a oliveira é uma das que encontram, em nosso país, con dições de desenvolvimento mais fa voráveis em extensões amplíssimas.
Acreditam os ecologistas que a tem peratura média anual mais favorá vel à oliveira oscila entre os 17 e oa 22 graus centígi'ados. olivais em boas condições onde temperatura média gira dos 17 graus, bem como onde a tem peratura média anual se aproxima dos 23 graus. Teme mínimas de 7 e 8 graus negativos, mas resiste valente mente às máximas absolutas de 44,46 e 50 graus positivos observadas nas de olivais de Portugal, Espanha, l ália, Síria, Tunísia, Ar gentina e outr~s países, onde os ve rões são quentíssimos. Quanto à tem peratura, há, portanto, em nosso país, milhões de quilômetros quadrados em que a oHvicultura é possível.
Há, porém, a em tôrno maiores zonas
Há bons olivais onde a pluviosida de média anual ating. ou ultrapas sa os 1.300 milímetros anuais. Exis tem também em zonas sub-úmidas e até semi-áridas, com pluv’osidades médias anuais de 7*^0. 6nn, 500, 400 e até 300 m^ímetros e um pouco me nos. No último cas'', há oli vais não irrigados na Líbia,
Digesto Econômico 133
100
São
i
na Túnísia e no norte do Egito. Isto significa que os olivais, quanto à plu viosidade, encontram ambiente favo rável em quase todos os Estados brasileiros.
A oliveira necessita de um descanÊste descanso, so vegetativo anual, como no caso da videira, pode ser dado pelo frio ou pela sêca. Há olivais no litoral peruano, à altura
do paralelo 7. São olivais antigos, bastante produtivos. A cultura da oliveira no litoral de Lambayeque, norte do Peru, informa o agrônomo Juan Manuel Zumaran em “La Fru ticultura en la Costa Norte dei Pe-
ru”, vem dos tempos coloniais, que sucede no Peru pode suceder, por tanto, pelo menos nos planaltos baianos, acima dos 900 metros.
pelos resultados ou economia são ti da estaca erbácea e o da estaca le nhosa.”
po
A rusticíssima oliveira se adapta como é na- a quase todos os solos; tural, prefere os protundos, permeá veis e férteis. Cresce bem nos pro fundos e permeáveis, embora pobres. Plantam-na com bons resultados encostas. Devem ser evitados nas os so los muito ácidos e necessitados de drenagem. Em alguns solos ácidos faz-se mister uma aplicação de calcário ou cal extinta antes da plan tação.
A multiplicação se faz sexuada e sexuada.
por via asAs sementes da
oliveira podem atingir a 90 e mais por cento em poder germinativo e nem sempre reproduzem fielmente as qualidades das plantas que lhe deram origem. Por via assexual es ta planta se reproduz por estaca er bácea, por estaca lenhosa comum, por estaca semi-erbácea, por meio de ramos grossos, por rebentos radicais, por óvulos e pelo enxerto. Dos mé todos citados os mais aconselháveis
Os fazendeiros e sitiantes que de sejarem plantar oliveira — e todos que têm teri-as cuja ecologia seja fa vorável à olivicultura precisam fazêlo — devem solicitar as rníidas e en xertos de oliveiras ao Ministério da Agi-icultura ou à Secretaria da Agri cultura do Estado em que residem. É preferível. O agrônomo diretor da Su bestação Experimental de Maria da Pé, município de Maria da Fé, Minas Gerais, poderá fornecer mudas e en xertos, bem como instruções para plantio. Também podem recorrer engenheiro-agi*ônomo Pimentel Go mes, enviando a coiTespondência ra a redação do CORREIO I)A M \NHÃ, nida Gomes Freire, ou para a Ma triz da Agrinco do Brasil S/A., à Av. Presidente Vargas 463, 13.° andar. As oliveiras, desde que encontrem ambiente que lhes seja favorável crescem rapidamente e grandes safras. Em nosso país têmse colhido, com relativa, freqüência 35 quilos de azeitonas em oliveiras de cinco anos. É comum colher 50 a 60 quilos de azei“^onas em oliveiras dez anos, mais de 100 quilos em oli veiras de 12 anos e mais de 200 qui los em oliveiras de 15 anos. Há ca sos de 400 quilos de azeitonas em oli veiras um pouco mais velhas. Ci tam-se como fatos raros, colheitas de mais de 800 quilos de azei*-cnas árvores muito velhas.
RIO DE JANEIRO, Ave- no
Como num hectare podem ser plantadas lí^O oliveiras é fácil fa7or os cálculos de prodrção. Ex^mm^m o cálculo abaixo. miiHo con-rt-r-— que a Agrinco adota ncs seus olivais:

■‘i Dicesto Económ*c:o- 134
o ao
pa-
produzem em
►
I r I
O
^
CÁLCULOS DE LUCROS QUE SE OBTÊM DE UM SÍTIO OLIVEIRAS
(10.00 X 10,00)
rendimento das 10 PRIMEIRAS COLHEITAS A PARTIR DO 5.o ANO DE PLANTAÇAO
COLHEITA DE AZEITONA A
Cr.S 5,00 o quilo
0 QUE ESTAMOS FAZENDO
Infelizmente, o Ministério da Agri cultura não se tem destacado no fo mento à olivicultura. O Sr. Daniel Carvalho pràticamente nada fez quanto à olivicultura. O Sr. João Cleofas, que tanto se preocupou com a triticultura e a mecanização da lavoura, esqueceu a olivicultura. verdade que pensou em plantar oito milhões de oliveiras nos planaltos da Bahia, Pernambuco, Paraíba e Cea rá. Chegou a encomendar as mudas a uma firma lusitana. Esta inicia tiva malogrou-se pouco depois do México ter plantado vinte milhões de mudas provenientes de Portugal.
Ê
olivicultura técnica há vários anos. Ainda fazem trabalhos experimen tais e estes nunca deixai’ão de ser necessários. Já se sabe porém, que a oliveira pi*oduz muito bem em terras gaúchas, para fortemente os olivicultores. Em conseqüência, já existem gi*andes olivais no Rio Grande do Sul, alguns Já existe quem possua 45 mil a 60 mil olivei ras num único talhão.

A Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul tem trabalhado mais pela olivicultura que qualquer outra. Pode-se dizer que lançou as bases da
A Secretaria aminício de produção. em Em que pese a
Plantam, anualmente, centenas de milhares de mudas. Já há quem afir me que a oliveira dará ao Rio Gran de do Sul a riqueza que o cafeeiro deu e dá a São Paulo e a outras províncias.
A Secretaria da Agricultura de Santa Catarina tem cochilado quan to à olivicultura. ecologia catarinense ser muito favo-
Dioi-sro Ecoxómico '135
DE
PLANTADO
5.000 m2
COM 60
TRATOS
RAIS, COLHEITA E EVENTUAIS. ANO DE RENDIMENTO PLANTiO LÍQUIDO N.o do quilos Cr.S 750,00 1.000,00 1.500,00 2.000,00 2.500,00 3.000,00 3.500,00 4.000,00 4.500,00 5.000,00 500,00 1.500,00 3.500,00 5.500.00 7.500.00 9.500,00 1 1.500.00 13.500,00 15.500,00 20.000,00 5.0 250 1.250,00 2.500,00 5.000,00 7.500.00 10.000,00 12.500,00 15.000,00 17.500,00 20.000,00 25.000.00 500 ó.o 1000 ó.o 1500 8.0 2000 2500 3000 3500 4000 5000 9.0 lO.o 11.0 12.0 13.0 14.0
DESPESAS DO ANO
CULTU
’■
rável à olivicultura, os poderes pú blicos estaduais nada de apreciável têm feito. É por esta e outras que, em 1952, a renda nacional do cata rinense era apenas de Gr.S 4.36S, enquanto o gaúcho tinha Cr.$ 5.890 e o paranaense, Cr.$ 6.572.

A Secretaria da Agricultura do Paraná também nada tem feito pela olivicultura, embora existam olivei ras em vários municípios, produzin do bem. Felizmente, a Fundação Pa ranaense de Terras e Colonização fêz um contra'0 com a Companhia Agrinco, que está modificand'' inteiramento a conjuntura. A Agrinco plan tará, a partir dêste ano, um milhão de oliveiras e cederá aos fazendeir cinco milhões de mudas de ol-veiras.
os sen
do feitas no fertilíssimo vale do rio Pequiri, entre rs rios Bandeira e Tourinho, afluentes daquele.
A Secretaria da Agricultura paulis ta está fomentando ; queza agrícola, ’ Rio Grande do Sul.
a nova grande r’Começou depois do Graças ao seu
♦«■forco, estão plan ando centems de rilhares de oliveiras em terras de f> Piratininga.
A Secretaria da Agricultura flu minense nada realizou neste set r, embora grande parte da província se preste à olivicultura. das nem mesmo
Nâo tem mupara atender à consinteressados.
tante sorcitação dos Felizmente, a Agrinco vai plantar 20 mil a 50 mil oliveiras em Nova Pr.burgo e fazer grandes vive'ros que atenderão à iniciativa par icular.
A Secretar‘a da Agriciltura minei ra também nada tem feito em tã' im portante setor, embora haja olivais produzindo maravilhosamente em al-
titudes superiores a 990 metros, e Mi nas Gerais tem mais de 100 mil qui lômetros quadrados (Portugal, 89.000 km2) nestas condições, ültimamente, o agrônomo diretor da Subestação Experimental de Maria da Fé con seguiu apoio do secretário para fo mentar a olivicultura. Mas ainda é coisa reduzidíssima. É profunda mente lastimável e incompreensível 0 que sucede em Minas Gerais.
A Secretaria da Agricultura capixaba também nada tem feito, embo ra o Espírito Santo tenha grandes possibilidades. Rotina e inércia.
A Secretaria da Agrieul ura baia na também nada realizou.
Carlos Albuquerque, presidente do Instituto Geral do Fomento, andou dando umas entrevistas sôbre olivi cultura. Planejou o plantio de dois milhões de oliveiras, n‘s planaltos baianos. A Bahia tem 40 mil km2 acima dos 990 metros. Infelizmento dificuldades burocráticas, que o Carlos Albuquerque não soube ven cer. impediram a realização do pia, nejamento. Ati almente, o Insti‘uto Central d'' Fomento Econômico
tá preparando 259 mil enxert s de oli veiras em Feira de Santana, ecologia não se presta à olivicultura. Seria aconselhável que os viveiros nào fcassem a menos de 600 metros de altitude, e as plantações defin-tivas fossem real'z''das acima dos 9''n
Em resumo, o Brasil áreas imensas, ecologia vorável à olivieul ura.
0 Sr. sr. esouja me-
em
possui, mirto faPode tornar¬
se um grande naís olivicnltor se houvpr fomento adeonado. Pres°ntpm«nte, apenas as Secretarias da Agri-
136 DioESTO ECONÓ^Í1CO
r As plantações da Agrinco estão 1 r
A Agrmeo está org-^-n-zando trns. um nl'’no de pl''nt‘'câo de olivoiçj ^ vinhed-s consorciados para a Bahia.
cultura do Rio Grande do Sul Santo Paulo e a Fundação Paranaen se de Colonização e Imigração de ram à oliveira a atenção que ela me rece, mineria dá

e de A Secretaria da Agricultura os primeiros e tímidos
passos. As outras nada têm realiza do e concorrem para travar a criação de uma grande riqueza pcctivos Estados. em seus resOs fazendeiros e
sitiantes procuram ansiosamente mu das e enxertos de oliveiras. Raramente os encontram.
●.l» “ Dicesto Econ-ómico 137
O Ministério da Agricultura, que pouco tem realizado em prol da olivicultura, que se tem deixado ultra passar por algumas Secretarias da Agricultura, precisa voltar-se para a oliveira e dar ao Brasil maia uma grande riqueza agrícola. I k
ir melhor qualidade ir maior durabilidade ir completa visibilidade adaptáveis a qualquer arquivo
Peça folheto detalhado
SÃO PAULO
Escritório, vendas e secção de peças
RUA CAPITÃO FAUSTINO UMA, 105
●ifiimzficAo S.I. Telefones;
Sflo Paulei Rua do Consolação, 41 Tel. 36 8196 9Q18
Escritório e vendas .. .. 32-8738

Secçõo de peças 32-4564
OF ICINAS;
RUA CLAUDINO PINTO, 55
Telefone: 32-8740
CAIXA POSTAL, 2840
SÃO PAULO
l CONCESSIONÁRIOS
e Caminhões /tRÇU/t/0 em fierfe/to ore/em eom
;''i 1
-Xl' ^ ^^H^l^PEHSas
Automóveis
CIA. DE AUTOMÓVEIS
ALEXANDRE HORNSTEIN
VfTÈCfc^
>
* : «
Banco Financial Novo Mundo S. A.
Ncvo Mundo Administração de Bens S. A.

Comercial e Construtora Novo Mundo
Novo Mundo Investimentos Ltda.
Parque Novo Mundo Comercial Ltda.
Predial Novo Mundo S. A.
Nevo Mundo
Imobiliária e Cia. de Seguros Terres-
tres e Marítimos
Miramar
* : : * Gerais
Cia. de Seguros Gerais
Itamaraty -
- Cia, Nacional de Seguros
* * Departamento de Des-
Novo Mundo pachos Ltda.
Organizações Novo Mundo
R. JOÃO BRÍCOLA, 37-39 - S. PAULO
o
RG A jN I Z A Ç Õ E S EMPENHADAS EM BEM SERVIR
« * « S. A. «
BANCO NOROESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A
FUNDADO EM 1923

RUA ALVARES PENTEADO ,216 — CAIXA POSTAL, 8119
Endereço Telegráfico “ORBE n
Capital e Reserva
— SÃO PAULO
CrS 160.000.000,00
DIRETORIA
Wallace C. Simonscn — Presidente
Mario W. Simons.n — Vice-Presidente
Jorge VV. Simonsen — Superintendente
Léo W. Cochrane, Antonio Rocha Mattos Filho — Diretores-Gcrentes
FILIAIS:
Agudos — Andirá — Andradina — Apucarana — Araçatuha — Arapon
gas — Assai — Astorga — Bandeirantes — Baurú — Bela Vista do Paraíso
Cambé — Campinas — Catanduca — Cedral
Cornélio Procópio — CURITIBA — Garça — Cettilina — Guararapes
— Ibiporã — Jaguapitã — Jandaia do Sul — Jundiat — Lins
drina — Mandaguari — Marialva — Marília — Maringá — Mirandópolis — Mirassol — Monte Aprazível — Neves Pauluta ■— Oswaldo
Blrigut Lonlis
Cruz ■— Paranaguá — Paranavaí — Paula Souza (Urbana) — PenápoPiraiuí — Promissõo — RIO DE JANEIRO (1.'^ de Março, 37-A)
— Rolandia — Rudge Ramos — Snnfo André — Sfltito Antonio da Platina — Santos — S. Bernardo do Campo — S. Caetano do Sul
— S. José do Rio Prêto — SertanópoVs — Sete dc Abril (Urbana)
Sorocaba ●— Tupã — Valparaíso — Urupês.
<
S
'(
>>■
ff k* r
Em todos os produtos, qualquer que seja 0 seu formato ou estrutura, pode-se im primir uma marca com Decalcomanias Fontana. Resistentes ao tempo, fáceis de aplicar e de uso econômico, as De calcomanias Fontana solucionam perfeitamente o problema de imprimir bem a sua marca de qualidade.
Representantes; RIO ●Ineatnsx Imp. Exp. Ltda. - PrâÇ4 Mauá, 7 s/909; SAO PAULO: M. Laert DIas-R. Barão de Paranaplacaba, 52, s/55; B. HORIZONTE - E. Arau|s Leisa«R. Tiradentes, 125; P. ALEGRE - O. Zimmermann A Cia. Ltda. - R, Pinto Bandeira, 456. Representantes também nos demais Estados.
FABRICnS S.il

I 1 -i < i N » i ●i *_% i
S' 'i FONTnwnj
i ● _V \ Caixa
237 — Curitiba —
■I
Postal,
Brasil
MALA REAL INGLEZA
ROYAL MAIL UNES
SERVIÇOS DE PASSAGEIROS
ENTRE BRASIL, EUROPA
SERVIÇO DE CARGA
E RIO DA PRATA
NAVIOS GRANDES, LUXUOSOS E RÁPIDOS. EM
ENTRE BRASIL E INGLATERRA EM
CARGUEIROS MODERNOS E RÁPIDOS
AGENTES EM TODAS AS PRINCIPAIS CIDADES
E PORTOS DO BRASIL
Em São Paulo
Miller & Cia. Ltda.
Praça da República, 76 (Ed. Maria Cristina) — TeL; 32-5171

i
í
J
^n/^àoaó
A Exposição - Dom José apresenta sempre cm primeira mão e com absoluta exclusividade, as mais atraentes novidades de pro cedência estrangeira em vestuário para senhoras c cavalheiros. Visite essa nova e imponente loja c escolha entre o que há de mais fmo em São Paulo para sua elegância e bom gôsto acuai estação. na

t ● I / .
,A I \
1 > I V \ . \ ■1 l
h I 1 'i 1 L: Xatíaf 136
R. Dom José Barros, Esq. 24 de Maio

1'^ I I [ f} ●V ! l k i u .● ●- ●
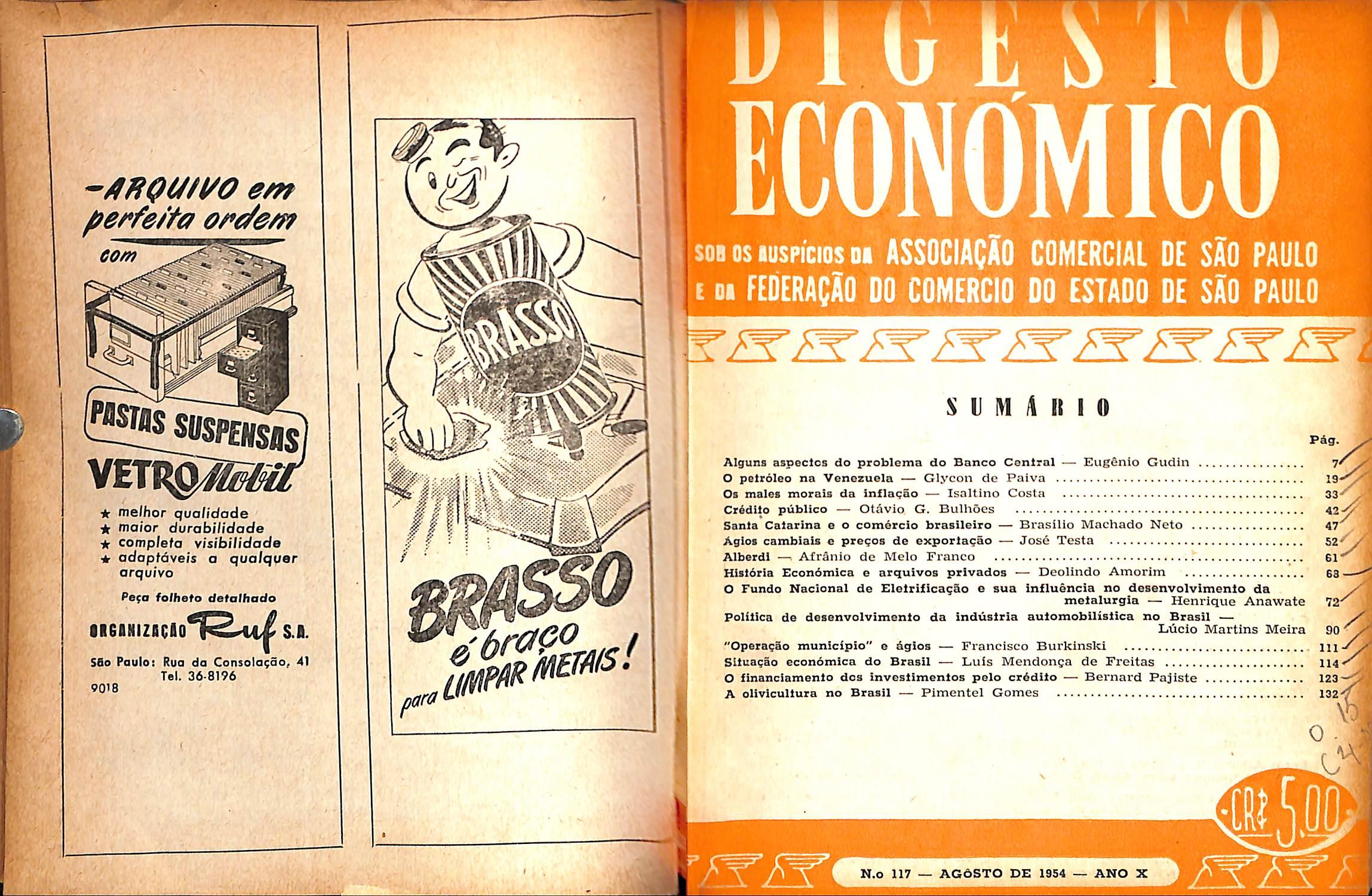




















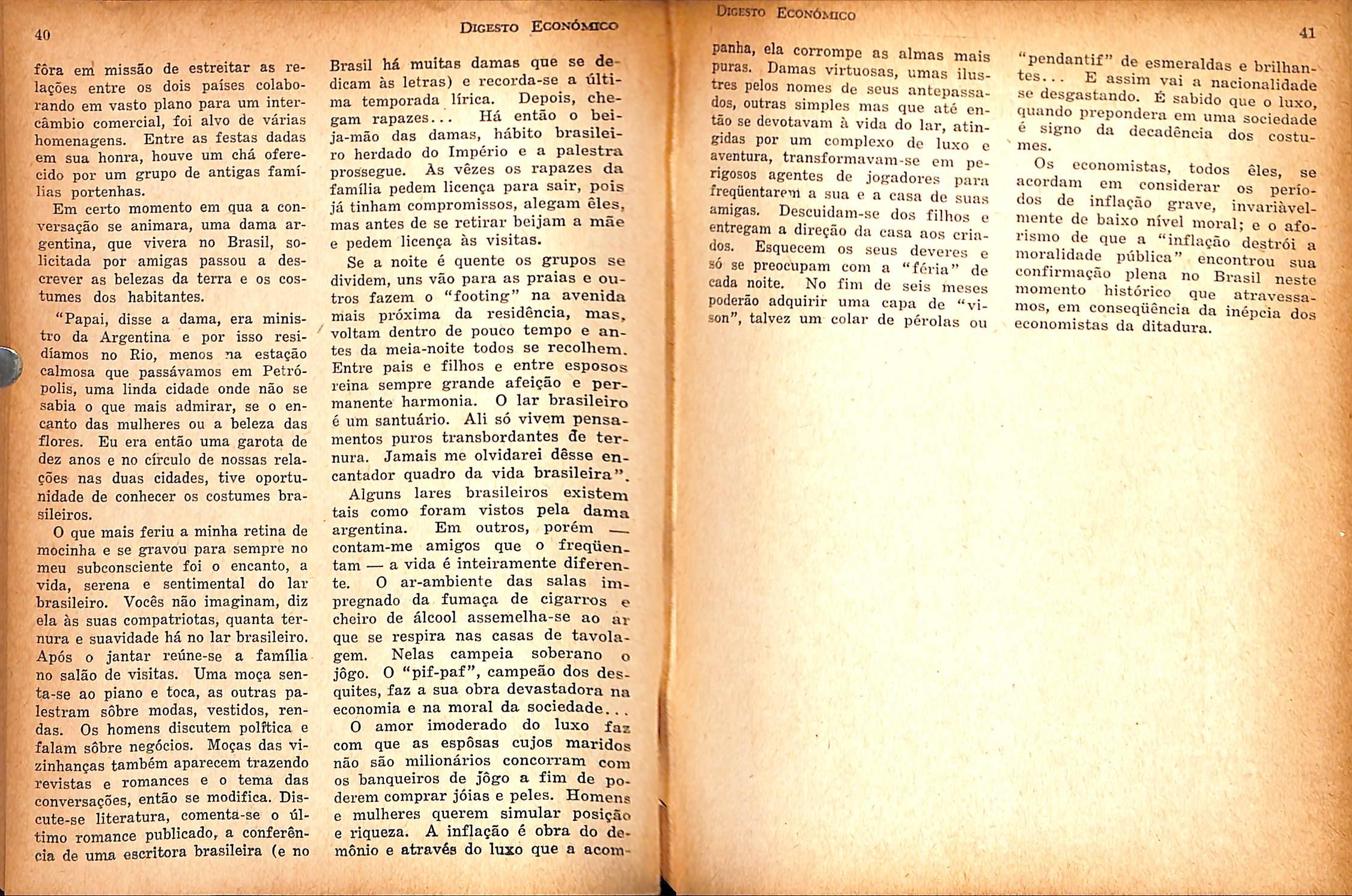













 Deolindo Amouim
Deolindo Amouim

 Hekiuque Anawatk
U’rofessür cia Escola Politécnica clc Porto Alegre)
Hekiuque Anawatk
U’rofessür cia Escola Politécnica clc Porto Alegre)