D I U E ü I U ECON0MICO
SOB OS auspícios00 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO FEDERAÇÃO DO COMERCIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VloIlQ no Pnrá — Drnsilio Mnehado Neto
Dlsparldndo no valor do cru7.oiro — Jo.só Maria Whilakor
A qucslõo cambial — José cia Silva Gordo
O doclinlo das soclodados dc Economia Misla o o ndvonto das modernas omprêsas
#Os grandes problemas urbanísticos do SSo Paulo — Francisco Prestes lilaia públicas
Bllac Pinto
Pelrobrás ou Elolrobrás? — Roberto Pinto de Souza
O problema do cAmblo — Luls Morais Barros
Formação municipnlista do Brasil — J. P. Galvão do Sousa
Crônico da inflação crônica — Aldo M. Azevedo
A clvllizoçõo do Peru — Afonso Arinos dc Melo Franco
Elogio do Nilo Poçanha — Rnvil Fernandes
Jorge Tibiriçá — Rodrigo Soares Júnior
O oquilibrio estalislico do café — José Tosta
Toses o nnliicscs — Djacir Menezes
A reforma agrária o o município — Nestor Duarte
As flutuações econômicas o a política fiscal — Bcrnard Pajiste

O intervencionismo o o Conselho Intcramcricano de Comércio e Produção
O nervo da sociedade shakespeareana — Cândido Mola Filho
São Paulo na Constituinte do 1891 — Otto Prazeres
E 00 /X FW N II M A II I 0 PAg. S'f 11 V
Dorival Teixeira Vieira 15^ 31 y> 46 V . 62-' 6B«-" . 75 7984 93 114 117 120' 128*^" U7‘<'
o DIGESTO ECONÔMICO

ESTA. X VENDA
nof principiia pontos de jomaia no Brasil, ao preço de Cr^ 5,00. Oa nossos agentes da relação abaixo estão aptos a suprir qualquer encomenda, bem como a receber pedidos de assinaturas, ao preço de Cr$ 60,00 anuais.
Agente geral paxa o BrasU FERNANDO CHINAGLIA
ATenlda Presidente Vargas, 502, 19.o andar Rio de Janeiro
Alagoas: Manoel Espíndola, Praça Pe dro n, 49, Maceió.
Amazonas: Agência Freitas, Rua Joa quim Sarmento. 29. Manaus.
Bahia:
Alfredo J. de Souza & Cia., R. Saldanha da Gama. 6. Salvador.
Ceará: J. Alaor de Albuquerque & Cia. Praça do Ferreira, 621, Fortaleza.
Espirilo Sanlo: Viuva CopoUlo & Fi lhos, Rua Jerônimo Monteiro. 301. Vitória.
Goiás: João Manarino, Rua Setenta A, Goiânia.
Maranhão: Livraria Universal, Rua João Lisboa. 114, São Luiz.
Mato Grosso: Carvalho, Pinheiro & Cia., Pça. da República. 20, Cuiabá.
Minas Gerais: Joaquim Moss Velloso, Avenida dos Andradas, 330, Belo Horizonte.
Pará: Albano H. Martins & Cia., Tra vessa Campos Sales. 85/89, Belém.
Paraiba: Loja das Revistas, Rua Ba rão do Triunfo, 510-A, João Pessoa.
Paraná: J. Ghlagnonc, Rua 15 de No vembro. 423, Curitiba.
Pernambuco: Fernando Clilnoglla, Rua do Imperador, 221, 3.o andar, Recife.
Piauí: Cláudio M. Toto, Tcreslna.
Rio do Janeiro: Fernando ChJnaglla, Av. Presidente Vargas. 502, 10.o andar.
Rio Grando do Norlo: Luls Româo, Avenida Tavares Lira, 40, Natal.
Rio Grando do Sul: Sòmente para Por to Alegre: Octavio Sagebln, Rua 7 de Setembro, 709, Porto Alegre. Para locais fora de Pôrto Alegre: Fernando Chlnaglla, R. de Janeiro.
Sanla Calarlna: Pedro Xavier & Cia., Rua Felipe Schmidt, 8. Florlanóp.
Sâo Paulo: A Intelectual, Ltda., Via duto Santa Efigênia, 281, S. Paulo.
Sergipe: Livraria Regina Ltda., Rua João Pessoa, 137, Aracaju.
Terrilórío do Acre: Diógenes de Oli veira, Rio Branco.
t_^
■

■iÍMii! \ \ \ !Í! !!●::; ;:íI' :iií JjS(iSS5|S :j;:;: 2"'sS3 ! - ■ -::22S ●:í: fi jt* ll s .1 ■I BIn lai t« I* »■■ ● m >● ●●●* BB li ● ■ !!S IIII II if iia IIII I *■ ● ■ I Hl ■■ Dli »■ ;fi >iís ■ >nl !■> ,: ' liii ■N Bin t ■ IBI mitt BIBt ll« ■ KB saB ■■ ■ B 11 II II III BI ■■ I BB II IB I IB ■IIB I BB El El I ra ■Ml BIB ■●ri sn Bfll ■ íci a IMI ■■ ■I ao I iH II BB I BB BB BM I BB ^^MCO DO ESTADO Oí SAQ PAULO I, \ '-1 ●'?>
R a II e o SIII í\ III o r Ê 4* :i II o d o R I* SI s i I S. A.
CAPITAL RESERVAS

... CrS 50 000 000.00
... CrS 25 933-842.60
SÀO PAULO SÉDE
Rua Alvares Penleodo, n® 65 — Caixa Postal, 8222
Endereço Telegráfico: SULBANCO
FAZ TODA E QUALQUER OPERAÇÃO BANCÁRIA
Alvares Machado
FILIAIS
Capivari — José Bonifácio — Mercado íSontos)
— Neves Paulista — Pinhal — Pirocicoba
te Prudente — Rio de Janeiro — Santos
Pirapozinho — ProsidenSõo José do Rio Preto
Tatuí — Urbanos: N.° 1 - Ipiranga — N.® 2 - Vila Prudonto — N.® 3N.® 4 - Avenida São João Belenzinho
MATERIAIS ELÉTRICOS EM GERAL — INSTALAÇÕES DE LUZ E FORÇA — RADIOTELEFONIA — LUSTRES E ARANDELAS DE ESTILO — ARTIGOS ELÉTRICOS
PARA USO DOMÉSTICO — MATERIAL TELEFÔNICO
Rua Benjamin Constant. 187 End. Tel.: ELECTRO
f
i r
1
\
Casa E.lanVAnna tíe Electricidade Ltda. IMPORTADORES
Tel.í
Caixa Postal. 1020
32-2963 — 32-2779
i SAO PAULO 4 .-i
DE PAULO DO NASCIMENTO
Imporiador o dislribuidor, de somcnlos de orialiças c ílôres dos melhores cultivadores.

SEMEINTES
MARCA registrada
Alpisio e alimentação para avos e passaros cm geral.
VENDAS POR ATACADO E VAREJO
Remessas pelo reembolso postal.
LARGO GENERAL OSORIO, 25
End. Telegr.: "SEMENTEIRA"
TELEFONE: 34-52
SÂO PAUL 71 O
Dianda, Lopez & Cia. Ltda.
-PRODUTOS
L E T I Z I A IVi A R I L Ú
FARINHA DE TRIGO e OLEOS COMESTÍVEIS de ALGODÀO e AMENDOIM
SAO PAULO CAMPINAS ARARAQUARA SANTOS
RIO DE JANEIRO
ESCRITÓRIO CENTRAL:
Rua Libero Badaró, 462 - 3.® andar
Telefones: 33-1594 32-5720
SAO PAULO
r c«\EH7V>
c
\ SBIK^TIIRl
DlfiESTO ECOJÜHltO
I luni ifis ucOciBS Ml riniiii imai
*tib<ico<^o sob of mvipSei»! do ISSQCIACiOCnMERCIlLDLSlQPIUia
● da FEBERAClO DD COMERCIB BO ESIADQ DE SlO PlUlO
li;<*oiiónil«>o
pii!)licará no próximo número: D!r*'!or BUp(?r!ntenflenlo: Francisco Garcia Baslos
Diretor:
Anlonlo Gontijo do Carvalho
VISITA AO AMAZONAS sílio Machado Neto.
üra-
A INDÚSTRIA EXTRATIVA DA AGRICULTURA — José Testa. o DIgcsto Econômico, órg.lo de informaç6eí5 econômicas e financelmensalmente pela Editôra Comercial Ltda. liberalismo Aldo M. AzeA VOLTA DO ECONÔMICO ● vedo.
IA direção nao se responsabiliza pelos dados cujas fontes estej devidamente citadas, nem pelos conceitos emitidos em artigos assi nados.
am A EDUCAÇÃO E A PAZFernandes.

Raul
9
A OUTRA ALTERNATIVA: RE¬ DUÇÃO DA NATALIDADE José Setzor.
Na transcrição de artigos pedocltar o nome do Econômico. D 1 g Q s t «e o 1
AGRICULTURA E INDÚSTRIA
Ignàcio M. Rangel.
Aceita-se intercâmbio com publi cações congêneres nacionais trangelras. e es-
ASSINATURAS:
Digeslo
MONOPÓLEO E sofrimento DOS POVOS — Alonso f)u TllUnay.
RedaçSo e Administração: Rua Doa Vista, 51 Telefone: 33-1112 Caixa Postal. 8240
9.0 an
r’ ■
O
1
Econômico Ano (simples) íreglslrado) Numero do mês Atrasado" Crí 50.1.0 CrS 50,00 Cr» 5.00 Cr$ 0,00 IÇ-,
São Paulo
i-
r. ● L*
dar Ramal 19
VISITA AO PARA
líuAsíi.\«i Machapo Nimo (lonfrihT.ivÂo N.kíoiuI do Comóroio) <1.
<lo sul, ainda não afeitos à orMja de lux c córes da paisagem amazóniea. Vez se detiverrm pela primeira no recorte distante dos telhado.s e dos campanários de vossa ciíhule, não senti, na visão vertical que ‘dtitude me proporcionava, a obra buniana a me.sq ninhada pela opu^vueia da natureza.
QUANDO nu'us olhos do homem sa: está a torra firme, conquistada ao pantano. Os velhos oanlTÕes do forte, sondando o cspac^o através das órbitas de bronze, recordam as pug nas dc anlanho. Nas casas solarengas. nas ruas estreitas do burgo an tigo, nas amplas avenidas da urbe moderna, em toda parle o espírito do passado acorda cm nós a lem brança de fastos gloriosos. Nestas paragens a natureza atraiu o homem para destrui-lo. E o homem acei tou-lhe a sedução para dominá-la.
lóm com arrojo a vale amazônico marco comemorando o domí-
cl Muití ao contrário. Ao ver Beemergir da selva a impressão ^ue colhi foi a de que vossos antePuysadüs plantaram ^'ntrada do v^plêndido, nio das forças desordenadas da liiloia.
campugheróica com a natureza sublevaSituada no pórtico da bacia amazônica, dir-se-ia perpétuo deiiafio à formidável torrente que des ce dos contrafortes andinos
Quem se dispõe a decifrar a flo resta. para disseminar ao longo de seus mistérios as conquistas da ci vilização, encontra aqui a'esplêndi da demonstração de que é possível vencer o colosso. E de tal forma 13elóm é a juimeira batalha

P^l ganha pelo homem na sua que, em dias vindouros, não cons tituirá surpresa a transformação do “inferno verde”, do velho batismo proposto por Alberto Rangel, no “vasto paraíso”, entrevisto nestes horizontes pela mirada prospectiva do padre Cristóbal de Acunha.
da. o invacomo se pretendesse de o oceano desalojá-lo.
Nos seus três séculos de dieiUu, a eicladu guarda os vosUgios de refregas QUe vibram
Não sou o primeiro de meu san gue a extasiar os olhos no cenário ncolhedor eleita íSanta Mnvin dc Be lém do Grão-Pará. Há mais de um
a ci-
crescimemorávois. Os sinos nas tüiTos dü vossas igrejas nos conduzem, recuando o tempo, às frágeis canoas em que os missionários, com suas batinas surladas, venciam o labirinto das águas para impor ao gentio as graças do Senhor. No cais que perlonga dade, não há apenas o paredão de j.^edro quG esfarela a onda inxpetuo-
século meu bisavô, Brigadeiro M chado d’01iveira, Província em momento difícil, quan do, como se não bastasse a luta con tra a selva, acendestes a fogueira da revolta dos Cabanos.
apresidiu vossa
Inicio pelo vosso Estado, a que me ligo por êsse motivo de ordem sen timental, u peregrinação quo ü’á
● V
constituir meu mais grato dever
como presidente da entidade máxima do comércio nacional.
Nesta visita do bisneto de Ma chado d’01iveira, há, porém, dis¬ tinção essencial, que me apresso em acentuar: se éle veio para vos diri¬ gir, eu aqui me encontro para re¬ ceber vossas ordens e prazerosa¬ mente cumpri-las. na medida de meus recursos.
í»; *
Quando o desânimo parecia do minar o desbravador audaz, logo se lhe reavivavam as energias aos »acenos de novos reclamos dos merca dos europeus, O Oriente não bas tava a suprir as naus portuguesas: ao vale amazônico cumpria abarro tá-las, não sòmente dc especiarias extraídos da floresta, mas ainda das primeiras manufaturas exóticas com que o nativo destas regiões impres-
sionara o Velho Mundo!
Curvo-me diante da obr ficastes no decorrer de p a que ediouco mais de três centúrias e rejubilo-me proclamar que o devassamento conquista gradual da Amazônia fo ram determinados, em grande parte, pelos homens da livre Os sertanistas
em c a emprêsa.
, . Se aventura¬ ria hmterlandia, buscavam €?5pecianas nos
No século XVIII, La Condamine, após sua viagem à Amazônia, dava notícia a seus confrades da Acade mia de Ciências de Paris da exis tência da borracha, então trabalha da pelos índios -Cambebas em ter-
ras do Solimõcs.
Com aquela breve comunicação, vosso “ouro negro” inicia no mun do civilizado sua biografia de pro dígios. Dos Cambebas passaria a goma elástica à mão dos colonos. E em pouco estava deslocado para os seringais o eixo da vossa economia.
Em 1874, um de vossos governa dores, Pedro Vicente de Azevedo, no Esta- ante a escassez dc gêneros

As as cacruzavam
ram as recessos da mata virgem. A despeito de adverTda des e perigos, uversiaaa ambição de lucro empurrava levas humanas para den tro da selva, em busca do sassafr da salsaparrilha, da 'az, canafístula, do carajuru, da canela, do algodão drogas do sertão” atulhavam ' favelas que amiudamente
o oceano de volta a Lisboa
. do, afirmava que Agricultrira suiníluência fascinadora do fabrico da borracha”. Os braços, outrora empregados nas lavouras de
a cumbia sob a
Dicf^o EcoNÓNnco
r
cana, arroz, algodão, cacau, mandio ca c cafó. era monopolizados pelos Seringais, gerando o que se podoria charnrr. enfaticamente, de fome na fartura!
Vossa riípíeza rc deslocava do subsolo e vinha aflorar na resina da “hevea brasi!ii'nsis’‘. Por muito tempo, o “ouro negro" vos desluml^rou. revivendo, nas terras da Ama zônia. os nabrbos perdulários das niinas do ouro dos tempos coloniais.
Para cpie se ajuize da grandeza atingida, basta mencionar que. en tre 1890 c 1900, a produção da Ama zônia SC elevou a quatro milhões c hieio de contos, correspondendo a cerca do duzentos milhões de libras esterlinas! Seis anos depois, cm 1912, cinquenta por cento do Orçahiento da República provinham da Vossa contribuição.

Nos séculos XVII c XVIII desa fiastes o Oriento com a riqueza dc
No século XX, vossas especiarias,
o Oriente vos privou do monopólio da borracha. Dc relencc, como se ^ rnontanha aluísse por abalo sís mico, passastes do esplendor ao in fortúnio, mas não se quebrantou Vosso ânimo combativo, plasmado pelo meio em que viveis. Sucessi vas gerações de desbravadores vos haviam afeito às alternativas do triunfo e da derrota.
João Daudt d'01iveira, falandovos em 1948, definiu com justeza a história amazônica como uma “epo péia de sangue, de lágrimas, de so nhos tornados realidade, de rique zas desperdiçada?, de vitórias e de derrotas”.
Quatro décadas após a catástrofe provocada pela concorrência do Oriente, devolvestes o golpe rece-
bido com a transplantação da serin gueira: adoptfstes a juta ao vosso solo úmido, tornando-a ponderável fonte do riqueza!
Grndualmcnte as forças econômi cas do Pará vêm-se avolumando cm
ritmo que denota o vigor do vosso traballio. Em 1951. exportastes cen to c sessenta mil toneladas, num totrl dc um bilião o cem milhões de cruzeiros. Esta cifra representa as censão continua, no confronto com exportações anteriores.
Não vos detivGstes ante os êxi tos alcançados. Dentro em pouco, com a colaboração que ides receber, vosso espírito de iniciativa rasgará horizontes ainda mais promissores.
A Constituição de 1946, determinrndo o emprego mínimo anual de três por cento da renda tributária da União, no desenvolvimento nómico da Amazônia, contro de justa aspiração nacional. IMas não será inoportuno lembrarvos que é principalmente em espirito de iniciativa cisão inflexível
ecoveio ao envosso em vossa dee cm vossa secular
experiência que o Brasil confia ra a 1 . w 1^^" obra ciclopica do desbravamento racional da floresta e adequada exploração das riquezas escondidas no fundo dos igapós.
O que a Carta Mrgna vos assegu ra não constitui benesse ou mercê mas restituição parcial do muito que ja contribuístes para a prosperida-de comum.
Viveis, assim, hora decisiva
vossos destinos. Como expoentes das classes produtoras, têm os homens do comércio do Pará o dever de contribuir com sua experiência e seus conhecimentos no instante em que se abre resolutamente à frente
7 DicC5TO ECONÓNnCO
do futuro da Amazônia, a larga es trada das soluções definitivas.
A palavra dos homens do comer cio so faz mais necessária do que nunca, pois estamos correndo o ris co de ver o destino da Nação alte rado em sua rota.
Dentro de nossa apnmoramena cumprir com a verdade,
estrutura neocapitalista, cabe-nos papel decisivo em seu to. Não nos furtamos nosso dever, embora esse esforço se ja de tal modo justificado, nos dias que correm. Obreiros de boa par te da ordem social e política, somos acoimados de subvertê-la, com o labéu de reacionarismo e cupidez, ao estamos dispostos ao silêncio o haveremos de afirmar com tal tenacidade e veemência, que um dia ela há de triunfar sóbre a cn a demagógica que ameaça submergir-nos.
cento no correr dê.sle ano. Os atrasrdos comerciais continuam t-m ni* vej c*lc*v*ado. náo dovondu .● lar t-m menos de íiiloccnto- imlhiH-.s <Ulares. A.'' c.\'po! - aproM-ntamvalíir onlr»- l‘M7 <● r>2
.●-●e fracas; .'■(●u subiu de aiM.n.as í1< z p >v r> nt<* o <iur. moeda. ponderada reprc.scm;i acentuado rec-uo. O.s pro !ut«».s í;iaalcanç.-ram nestes tlez nu-.se.s ciiKlucnta pf>r ccnlo <‘Xi)oi lado em
a igual
vo.sos de 1952 meiv) do valor total período üôes fio an de cruzei três bi- o pa.ssadf) ros contia .-^eis biliões seiscentos niillioes lado. rie cruzeiros. importação vinte por cento em O rcsul-
nossa de 1951.
Pm- outro quase cresceu confronto com a lado negativo de nossa balança comanlém na casa dos do- mercial sc biliões dc cruzeiros. A produção
industrial, dc 1947 para cá, cros20 pnr cento no seu vo-
zo ccu apenas lume íísico.
(jc vida no Distrito Fe- O custo .ir.nl é de dezessete por cento sudc outubro de 1951. Os dc pagamento passaram do índice duzentos para o Índico du zentos c vinte nestes dez meses. No mesmo período n arrecadaçao cio sobre vendas mercantis

Com os desajustamentos económico-financeiros decorrentes dos últirnos conflitos internacionais, o Bra sil ainda se debate sivas, em enses sucesegravadas m grande parte pela imprevidência e - c pela política economica inadequada na qual insistimos. Enquanto vários países Capital da Republica cresceu sete cento, contra vinte cm apenas americanos já se apresentam mais menos refeitos dos abalos sofri dos e comecam ou a respirar clima de e oito por oento no ano anterior, colhendo os íruto.s amarpolítica econômica -cal¬
prosperidade, ainda não consegui mos atingir posição de equilíbrio. Os últimos dados econômicos di vulgados não são de molde a tran quilizar. O valor total dos negócios baixou cerca de dez por cento entre setembro e outubro último. Os pre ços mantiveram-se em ascensão, ten do subido em média dezessete por
perior ao meios na imposto
vez no o
Estemos de uma gos adequada a pais supercapitalizado, superei escnvolvido, superindustrialixado, mas incompreensível - Brasil, que ainda não conseguiu atingir aquêlcs níveis de expansão econômica a que lhe davam direito esforço de seus filhos e seus re cursos naturais.
●Vr 8 Dicr^í>
tadas têm
Várias medidas úllinmmcnte adosrm dúviila comproensiMas. divorafastan-
vH ct»nU‘údn huniano. ciandi)-sr da rcaliclailc ou tlo-.se de prim ipios acimsolhados polermmam por acenprelcndcm de- luar ’la experiência, as crist‘s epU' Falhando ein seus objetivtis. belar.
I problemas pi‘i‘n'.aneccm nao so o.s conuí surgem outros provocados po las prt)VKÍéncÍas ailotadas. honums públiinfelizmentc
Alguns tle nossos assi-melham COS
.^e
àquela Cobsin zac, tiuc* ou\ ia dava de opinião, do conduta.
●k do lomanee de Bal-
os pregadores, mas não mumudava Icvancontra os cia vem
Voze.s autorizadas têm-se tadü alertando a Naçao perigos do caminho que percorrendo. A elas têm as classes sugestões, produtoras juntado suas quo nunca são aproveitadas, aflitos candidatos dc camatravés de pro-
a nao sor por panhas eleitorais, rnossas logo esquecidas. reconhecem estar- Raros os que mos lutando no interôsse comum da grandeza nacional o não nos caber
públicos de boo té: o progresso do pais. cni clima do ordem o segu rança.
Nada mais almejamos senão um Hrasil livre, forte e rico. tendo por base a estabilidade de seu regime iiemoerático. o desenvolvimento da sua economia, através do primado da livre empròsa, o fortalecimento da consciência coletiva, libertada de complexos e preconceitos que a en torpecem.

Conforta-nos neste instante a es perança dc que. convencidos afinal da ineficácia de medidas do emer gência. marchemos para as soluções de base. A ampla reforma na ad ministração pública, cuja caducida de foi corajosa c honestamente pro clamada, é promissor sinal de no vos tempos e de métodos modernos.
Dc boa prudência nos parece o alvitre de que, sem adequada planificação, a reforma administrativa poderá se converter cm instrumen to inoperante para o domínio da raiz das equações nacionais.
crises que
problemas dentro de ângulos objeti vos. que permitam atacá-los com re sultados positivos. *
Não scrã com a simples multipli cação dos órgãos que as crises desaPrccisamos encarar os parecerão, a responsabilidade das angustiam o povo, muitas das quais são por nós previstas. Também so fremos não só porque elas nos atin gem cm seus movimentos iniciais corno porque nos encontram na in grata posição de elo final no pro cesso econômico que liga a produ ção ao consumidor.
O que constitui uma Nação — já disse grande filósofo do século 19 — c ter realizado em conjunto gran des coisas no passado e querer rea lizá-las no futuro. O fanal que nos guia em nossas entidades de classe é o mesmo que orienta os homens
Em nenhum exemplo mais belo poderiamos inspirar-nos do que no vosso, meus patrícios da Amazônia. Constituís lição viva de que a ad versidade não é sentença destinada a aniquilar, mas experiência que põe à prova o verdadeiro valor.
Pertenceis nesta Federação do Comércio à nobre estirpe dos ho mens que sabem cumprir a pala vra empenhada e contra a qual não
9 DUih.slCl ECONÔMICO
t
prevalecem nem promessas, nem in^mídações. Como Presidente Confederação Nacional do CIO, tudo hei de fazer no sentido de prestigiar vosso labor na defesa de
da Comére colaborar vossas justas aspira
bnas vindas com ns liçôcs do passado c as afirmcçúcs do presente.
vosso vo.sso ao vosso u
I I i ções e dos superiores interesses da nobre terra de que tão naturalmen te vos orgulhais.
Muito vos agradeço, amigos do a oportunidade que me pro porcionastes para aqui vos falar de alma aberta e com os olhos volta
dos na direção de melhores dias pa ra nossa Pátria.
A entrada da Amazônia, dais-nos
Nada melhor se ajusta futuro esplêndido do <jue as pala vras proféticas com que Tavares Bastos anleviu a obra ciclopica ser realizada nesta planície pelos homens de nossa raça: “Colocado

entre dois oceanos e entre a Asia e a Europa, o vale do Amezonas ; 0 centro do comércio do mundo, mo nas visões de Colombo a Amé rica aparecia-lhc entre duas des massas de água equilibrand terra”.
será cograno u
1 10 ÜICOTO Eco.vómico
1 t-
,y 4 -.●iírr.A' I j ■> t ●Vr ■f / c 4 I
Disparidade no valor do cruzeiro
José Maria Whitaktr (Prcsitlcnli* do I3;mco Coinm ial do Estado dc São Paulo)
do cruzeiro, por enunciedo errôneo, ou
Apresenta como
1.0 — Questões mal propostas são questões mal resolvidas. Desvalorização exemplo, é talvez capeioso, dc uma tese de íinalidade inversa, possibilidade, o que já ó uma reali dade; como c\’ilávcl, o que já acon teceu.
Desvalorizado está o cruzeiro, demasiadamento o sentimos nas afli ções do uma carestia que nada con segue .deter. Desvalorizado em to das as partes c para todos os fins: com exceção, sòmcntc, dc um úni co lugar, o Banco do Brasil; o para um único efeito, a conversão em moeda estrangeira.
Seria absurdo que se quisesse des. valorizá-lo einda mais; mas é na tural c irreprimível que se perquiram as razões e os efeitos daquela situação contraditória e que se pro cure saber se, não tendo forças para impedir que o cruzeiro seja fraco e deliquescente, aqui dentro, deve mos, ainda assim, torná-lo forte e estável, lá fora.
Á rcfonna comhial é sem dúvida o ossunto que mais empolga as classes produ- , toras do pais. O "'Digesto Econômico*^ I fiel ao seu programa dc debater as ma- í ítViUs "siíU’ ira et studio*\ como já acon- , selhava Montaigiw. insere cm suas co- “ Umas. para fonte dc estudo dos nossos legisladores, âsses valiosos trabalhos, que propugnam soluções diferentes para a >, projetada reforma. Banqueiros de reno me, antigos presidentes do Bíinco do Brasil c ex-secretários de govârno, José Maria Whitaker c José da Silva Cordo são técnicos dc reconhecida cotnpetên- < cia c homens dc cmprôsa dc larga cxpcriância.
bela oficial. Esta tabela foi fixada pelo Banco do Brasil em 1939, e correspondia à realidade do merca- ? do, cujo regime era, naquela época, o de livre concorrência.

a in- s;moe-'^ con- ^ e seis e éste acréscimo tremendo, sem correspon-dente aumento de produção, reduziu cerca de setenta valor do cruzeiro. por cento o; ●r .u f i V
Velorização externa, desvaloriza ção interna, eis os fatos que cum pre analisar. Dualidade ou parida de do valor do cruzeiro, eis a ques tão que cumpre resolver.
2.0
í
Todos sabem que não temo.s câmbio livre. As moedas esti'angeiras que recebemos pela ex portação e aquelas de que precisa mos para pagar a importação tro cam-se em moeda nacional pela ta-
A desvalorização era fatal. Fatal e incoercível. Apesar das tabelações ^ e expedientes correlatos, os preços das utilidades subiram e infeliz--! mente continuam a subir. Desta i. ' 1, .\> lA
/
í
3.0 — Tinha o cruzeiro, então, um só valor, tanto interna como externamente. Sobreveio, porém, . fiação. A circulação do papelda, que era de cinco milhões de tos, passou a trinta p;
'
situaçao, porem, não tomou conhe- ^
/ t !?●
I
que con-
O cruzeiro tinha vaaquisição consideràvelmcntc
cimento o Banco do Brasil, muou a manter, para as moedas estrangeiras,, os mesmos preços que fixara quando lor de maior.
4.0
assim, o cruzeiro a um, para as tranpara converum, inpara solução de obrigações, compra ou locação do utilidades c serviços, outro externo, para venda do que exportamos, ou compra cio que importamos.
— Passou, ter dois valores, sações comuns, outro, são em moeda estrangeira; terno,
eco-
O primeiro, geral e espontâneo, resultado do livre jògo das leis nómicas; o segundo, restrito o for çado, constante de taxas oficiais, mantidas e observadas clusiva do Banco do Brasil.
^ ° — Gradativamente foi se alar gando a diferença entre os dois va lores, de modo que, atualmente, o dólar vale dezoito cruzeiros no Ban co do Brasil e t’’inta e quatro no mercado livre. Uma diferença de dezesseis cruzeiros em números re-
dondos, para sim plificar a expo sição.
6.0 e com
Com prando com esta diferença, a me nos, 0 dólar da exportação, vendendo essa diferença, a menos, o dólar da importação (des prezadas as margens habituais do negócio), o Banco do Brasil, é cla ro, não sofre prejuízo algum. Ven de barato, porque compra barato; vende barato ao importador, porque compra barato ao exportador; bene-
ficia portanto, aquôU* com o quo tini deste, têm. saem. rcnçíi: quando custo <-m m(*nos cincocnla por pectivo Valor, coin esta diferença, tafla contra
A.s morcadoMí s, poi.*;. vil tualmenti*. n.acíonais quando de^ta diíeao <‘ontrârio. re luzuio

o cu.'-to aeicscido as eslrangí-ira.’^. entram, têm o propf)içáo Igual. <ento <io mai.s ou res>cmpn- volno.s. (jiii- iftno
.-; (l(.
Cincoenta por cento cpio benvj.s dacjuilo cjue é nrissí»; ta por cento cjue damo.s de bonifie* çào àquilo que nãr) é nosso.
1^0 i <'ine«i(»n nao n-ce-
7.° — Não é pois dc estranha r
es4 ● aumentar; e que aqui dentro só pos samos vender o que produzimos ini pedindo a entrada de similares polbarreira não muito prestigiosa d', licença previa.que, para fora. pràticamentc*. .só pos samos vender erfé — enquanto os preços atuai.s se mantiverem valorização interna do cruzeiro C a d
8.0 — Neste regime de autofagia inconscicntenionte consumimos cada voz íPais
nossa própria sus tância. Quase to talmente foi ani quilada a soricicultura, ora, pelo que já menos
São Paulo, uma realidade deslumbrante; o algo dão, 0 milho, o arroz, os tecidos podem ser exportados senão pelo pediente ruinoso c contraditório das compensações; a importação de si milares (carne, manteiga, ovos) taxas do câmbio oficial, expele it I I J i
1 12 DicF?rm
'
por açao cxK'
r 4 iicniar a concorn-ncia d<js .''imilarcj tanto dentro s. como fora do s
em nao cxnas os
nacionais interno. produtores mercado além disso, com os inútil operosi<lade.
do próprio deprimindo-os. insucessos de sua
explicam razoes — Divcr.<as
● não se põe termo a esta qua- porciiu se incompreen.<ivel situa^ao.
mcnlc suportamos. Quando suspen dermos ôsse auxilio, voltará a ter, fora, o valor que tem aqui dentro, único verdadeiro. Com(cm moeda na¬ e que c o praremos mais cavo
remos mais caro
Km primeiro lu^jar. a nUina. Cone senq^rc mais facil que melliorar. Para corrit;ir as taxas cam biais e n-adaptá-las à situacuo ulterior. seria preciso um ítramle esfor ço de compreensão, de deci.-^ao. < o firmeza; e êsso esforço, aliás, nunca foi pedido (foi até íerozmcnte cominteressadas, inicial de
servar classes batido!)
adormecidas na euforia
toda inflação. O que paga a preten são dc moeda forte 6, cm maxima café dc conto
pelas parte, o café; c, com dc-réis, o fazendeiro nem mesmo se seiscentos lhe tiram apercebe que cruzeiros por saca, com o pretexto falacioso ele baratear, na totalidade, só cm minima uma importação que parte dirctamente lhe interessa.
so sao, ou lO.o — ilusão é que temos uma moeda forte; e é por isso que teichamar “desvalorização” o fim da sua artK mam em que seria
, apenas, o ficial valorização.
Valorizado sòmente está para uso e não por virtude própria, externo;
por crédito de que goze, por fianç.a que inspirem nossas rique zas ou nossos homens, mas, apenas,
por sacrifício nosso, por suprimen to que lhe damos e muito pesada-

cional) o que é alheio, mas vende(em moeda nacioNem perdereO cruzeiro
nal) o que é nosso, mos
, nem ganharemos, não ficará mais desvalorizado do Deixará, apenas, de ter que está.
duas caras, uma verdadeira (a carrancuda!) para nós: outra, fingida (a risonha)... “para inglês ver”.
11.0 — o equivoco é do que au mentará o custo de vida quando se unificar o valor do cruzeiro. Na realidade as mercadorias importa das náo nos são vendidas com qual quer abatimento. A redução de seu preço, náo a obtemos na importân cia da fatura, mas no custo das moe das com que pagamos. Quem no-las torna baratas, náo é o exportador, é o Banco do Brasil — e, natui'almente, à nossa própria custa.
Cessado ôsse artifício ingênuo, su birão em cruzeiros os preços das ra ras mercadorias que já não tiverem subido pelos encargos e abusos ine rentes ao regime de licença prévia, mas esta perda nominal será com pensada, como já vimos, pelo lucro da bonificação que pouparmos. Se não recebermos de um lado, tam bém não pagaremos de outro. Per derá o consumidor, mas ganhará o produtor. Para o país não haverá diferença alguma; ou, antes, haye» rá uma — ficará com ôs produtores o que agora damos de graça aos estrangeiros.
con12.° — Outro fantasma frequente mente agitado é a baixa de preços de café, em virtude de conversão
13 nu;isTO F.cosósnco
Além disso, dois argumentos imalvipressionavam, sempre que sc trava o reajuste, um evocando nospatriotismo, atemorizando, o outro, nossos interesses econômicos. Ambos, contudo, assentando cm iluresultando de equívoco. [)
nacionais interno. produtores mercado além disso, com os inútil operosi<lade.
do próprio deprimindo-os. insucessos de sua
explicam razoes — Divcr.<as
● não se põe termo a esta qua- porciiu se incompreen.<ivel situa^ao.
mcnlc suportamos. Quando suspen dermos ôsse auxilio, voltará a ter, fora, o valor que tem aqui dentro, único verdadeiro. Com(cm moeda na¬ e que c o praremos mais cavo
remos mais caro
Km primeiro lu^jar. a nUina. Cone senq^rc mais facil que melliorar. Para corrit;ir as taxas cam biais e n-adaptá-las à situacuo ulterior. seria preciso um ítramle esfor ço de compreensão, de deci.-^ao. < o firmeza; e êsso esforço, aliás, nunca foi pedido (foi até íerozmcnte cominteressadas, inicial de
servar classes batido!)
adormecidas na euforia
toda inflação. O que paga a preten são dc moeda forte 6, cm maxima café dc conto
pelas parte, o café; c, com dc-réis, o fazendeiro nem mesmo se seiscentos lhe tiram apercebe que cruzeiros por saca, com o pretexto falacioso ele baratear, na totalidade, só cm minima uma importação que parte dirctamente lhe interessa.
so sao, ou lO.o — ilusão é que temos uma moeda forte; e é por isso que teichamar “desvalorização” o fim da sua artK mam em que seria
, apenas, o ficial valorização.
Valorizado sòmente está para uso e não por virtude própria, externo;
por crédito de que goze, por fianç.a que inspirem nossas rique zas ou nossos homens, mas, apenas,
por sacrifício nosso, por suprimen to que lhe damos e muito pesada-

cional) o que é alheio, mas vende(em moeda nacioNem perdereO cruzeiro
nal) o que é nosso, mos
, nem ganharemos, não ficará mais desvalorizado do Deixará, apenas, de ter que está.
duas caras, uma verdadeira (a carrancuda!) para nós: outra, fingida (a risonha)... “para inglês ver”.
11.0 — o equivoco é do que au mentará o custo de vida quando se unificar o valor do cruzeiro. Na realidade as mercadorias importa das náo nos são vendidas com qual quer abatimento. A redução de seu preço, náo a obtemos na importân cia da fatura, mas no custo das moe das com que pagamos. Quem no-las torna baratas, náo é o exportador, é o Banco do Brasil — e, natui'almente, à nossa própria custa.
Cessado ôsse artifício ingênuo, su birão em cruzeiros os preços das ra ras mercadorias que já não tiverem subido pelos encargos e abusos ine rentes ao regime de licença prévia, mas esta perda nominal será com pensada, como já vimos, pelo lucro da bonificação que pouparmos. Se não recebermos de um lado, tam bém não pagaremos de outro. Per derá o consumidor, mas ganhará o produtor. Para o país não haverá diferença alguma; ou, antes, haye» rá uma — ficará com ôs produtores o que agora damos de graça aos estrangeiros.
con12.° — Outro fantasma frequente mente agitado é a baixa de preços de café, em virtude de conversão
13 nu;isTO F.cosósnco
Além disso, dois argumentos imalvipressionavam, sempre que sc trava o reajuste, um evocando nospatriotismo, atemorizando, o outro, nossos interesses econômicos. Ambos, contudo, assentando cm iluresultando de equívoco. [)
<3o dólar cruzeiros.
cm maior quan em cruzeiros
Embora o café se venda res, e não
çoes a têrmo. subiu e nao
cm dóla, é possível que, no primeiro momento, liquidaçoes precipitadas determi Bolse, baixa na . mem, nas cotações dc operaO café, porém, não “C mantém aos preços a em virtude de maquinações camb
iais, mas por fatores naturais, por aumento cie consumo e dimi nuição de produção. A posição cstatística é que regula normalmente o mercado; o naturrl, portanto, t, e que sem demora volte a prevale cer, qualquer que seja a perturbação inicial do reajuste.
E depois, supondo, mesmo, o pior, que mal havería cm perder o que y não se aproveita, aquilo que para outrem, exclusivamcnte, se desti nou?
sena ncccísnrio nu●>.s cmpeejlhos opomo.*», urn
tidade de internamente, o valor do cruzeiro, mas, para isso, mentar a protlução e jamais o con seguiremos na proporção íuiequada. enquanto pt-rsisiiren) que nós nie. ínos lhe dos quais é precisainenli* a Jispriidade cambial.
Nâo nos
re.sta, poi.s, c ul.-o
●o. a valorizaení'‘vguin-
.' «.●curso senão o cie admitir US Cüi.síi.s eomo 1 üo, SCMi pretender cpie não Não façamos para fora ção que naf) podemos fazer acjui . ! tro. Reajustemos o câmbio, do o nrlural c abandonando o arti ficial.
era, com encargo de dar vinte, serão mais que oitenta, recebidos sem encargo algum?

O caso é, portanto, bem 13.0 simples.
Com grande sacrifício mantemos, ' para o cruzeiro, nas relações exterí valor que, nas internas, ' tem, nem nós lhe podemos dar. j ' Disso não auferimos vantagem alguma; mas com isso, agravamos o custo de noFsa própria produção com um impôsto virtual que a põe fora de combate em qualquer competição, quer dentro, quer fora do y país. É urgente, pois, corrigir esta ‘ situação.
Como, porém, íazê-lo?
O ideal seria, certsmente, elevar
(Jma alteração brusca das lax oficiais podería, entretanto, as , í>cr ruinosa, sobretudo para os que do boa fc assumiram responsal>ili:líídes íun^ dadas no regime crmbtal exi^ tente Assim, a correção tem c]ue ser dual e deverá ser determinada poiCarteira Cambial, somente depois dc ouvidas as classes mais direta mente interessadas — Lavoura, 2^ dústria c Comércio.
Esperemos, todavia, que nào recorra como solução intermediária à pluralidade cambial. Seria sobre carregar sòmcnte o café, para bene ficiar outros produtos, os tais se desdenham com a denominação de “gravosos” e que, cm máxima perte, apenas o são pelo erro bial que nos obstinamos a perpetrar.
canios
O que é certo é que não há tem po a perder. A brecha ontre dois valores do cruzeiro está se alar gando. Já engoliu “os gravosos”; engolirá, também, o café?
14 Dicr.^o KcoNÓMirn
Cem
l'r;'—
A QUESTÃO CAMBIAL
|<ísr. PA Sii.vA Gonpo
(Pn à K>licitação cjue nos foi pelo cait.í
●silUnte t!o Uamo Comercio c Imlüitria elo São Paulo)
ATi.xm vno fi-ita jior Or. ÍIrnrii|m’ de Souza (Juciroz, <h‘ nos manif«-slarmos par.i a Sociedade Ibir.il llr.isileira sôlírc a questão caml)ial, a «‘neai.'iNainos <* eoino víamos os eoiiH) di\-crsos aspectos da (juestao. foi a scc em ri'snmo, a nossa opinião ãs pcrminlas fonnnladas:
nosso Ami"o a fim Cr$ 18,38 por
a) Conservar, nas atuais, t* eonsideraiído princip.dmenle a posição esl itislica do café o a li(piidaçao do.s atrasados comerciais, a taxa no' sos tjficial, lu)je fixada cm dólar, para a exportação;
o)
>ua<|uin;uia industrial, cujo aperfoi<,'oamonto aintrihua para redu zir a mão-de-obra c, por aí, a es cassez desta;
f) - 0 Irigo, com certas restrições, t») _ oxaniinar a possibilidade do ser ^ eoiKxnlido um rcajnstamento, na hipótese ^ da disparidade cambial para o café. Datlas a complexidade da matéria e ü . 1 circunstancias necessidade de esclarecer e justificar a ^ nossa opinião, cumprimos éste dever, conformo prometido, correspondendo ao ^'»i espírito público cpic ditou a consulta, .J sem dúvida muito honrosa para nós. ,
h) — não sacrificar a nossa rcccitaalonder a saída dos ouro do café pira
produtos gravosos; preferível exporta-los internacional e paridade de preço
na
/\ ioxa cambial perder a diferença em os fatos consumados;
A taxa cambial é o preço pelo qual, iic merendo internacional, nossa moeda. é cotada a É pela venda e compra
c) — aceitar o câmbio livre, desde que únicanienlc destinado ãs operações o.stnmlias d exportação;

d) — desviar para o câmbio livre toda u importação, salvo a de produtos vitais para o País, como:
cruzeiros para da míssa moeda, por outras moedas es trangeiras evidentemento, pram ou .se vendem os produtos que im- IS portamos ou que exportamos. Ê ainda á pela sua compra ou venda que entram J ou saem capitais no país. A taxa cam- i
n) ■— combustíveis;
h) — aparclhamento para energia elé trica;
c) — todo o material que diga respeito a transportes, forro c rodoviários, fluviais e marítimos, e para me lhoramentos portuários;
d) — tudo que necessário para o fomen to c barateamento da produção agrícola (tratores, adubos, irriga ção, inseticidas etc);
% que SC compois, efeito e não causa. Efeito o ..
e fatores múltiplos dentro da lei da oferta e da
bial é, de causas diversas procura.
Em linhas gerais, são fatôres para oferta da nossa moeda;
a 1
a) — a importação dos produtos de que carecemos;
t ou
% i
.] í L
I
1 j
.j
I L
1
b) — a saída de capitais nacionais ou estrangeiros, aqui aplicados aqui constituídos, por serviços j prestados (seguros, fretes, etc.). Ll
'I
OU pelo trabalho dos que para aqui miii»ram;
c) ~ as viagens de hrasilfriros ou cslrangeiros aqui residentes, no exterior;
d) — o aumento de* im*ios <Ic pagamen
leiii fini( lon.ido <!'● pr<K tir.i () r. «los. .1 í»s <l«- rf*rta r im-: 'l.|_ |l <'iimite
N.i í.i' tn.» íiii.itit <*jI ."iM lr*'s ( .1. prini' tr.1 »● fid t.. to (quando )iá libr rdade de ( ámbiü);
e para a procura da nossa moeda:
») — a e.xporlação dos nosso.s produtos;
b) — a entrada de capitais e.strangeiros; a título precário (especulativo quando Iiá liljcrdadc cambial e a tendência da moeda é para se va lorizar pelíà redução dos meios de pagamento; ou pela cobertura ace lerada dêstes por um surto maior de exportação); ou, a título defi nitivo quando se destina à compra de propriedade no país, ou na im plantação de indústrias;

II
A economia e a finança
Parece não haver dúvida que o prin cípio- de que a rolário da Economia está certo, sendo, o si.stcma cambial, que 6 uma decorrência do sistema financeiro ao (]ual está subordinado, tendo a refletir, como ôste, 0 estado econômico do mundo.
ro. «jtte {eve t otilO s« í!* ir»ara de í .i»nípens.i»,.'i«i nicitidi.d <lcinoed. era a libr. itit● r Ma i i« >11,d. I'.! I <l.iva (III (ot.iN.i l.iiitii-t diidietrus de Miii.i lihra pi-io nn<-vi iiul-r/is. p< ] pelo diil.ir el( . capitais para a inipí>ita<,âo «● de todos
a * p« su, Todo o mo\ iineiíto dt* ●xpoit.iç;io os países «● para outros fins
, pro(cssa\a j>or saques à vist.i on ílias de \isla sóbre liamos dc I.ondrrs. As comja-nsaç(’)e.s se fa/i.uu cm I.omlrcs í,)uaiido as balatiça.s tlc pagamento de um dcteiminado j>aís aprescijlasam ilcficit — (jiie* era gcr.dmciite o itiii fator, a
a 90 caso dos paiscs novos >ai\a cMc siva .sda taxa cambial, atenuava ê.ssc* di* íicil, brecando nai iiralmente a impor-
em lação; ou outro fator, os cxlonios ínaijiielc tempo concedid saijiic-s sôbro Lomlre.s e ([iie faziam do sistema financeiro
parte '■>g‘-nlc)>
desafopara melhor .sua pela coin
para o svu consumo ou para os eniprccntlíinonlo.s.
seus
Por essa forma, quanto mais brusca a evolução deste estado econômico quanto mais bruscas as suas causas, como as guerras, por exemplo — mais rápida tem sido a evolução econômica do mundo e mais difícil a adaptação do sistema financeiro na sua evolução, também indispensável e inevitável, pôsto, vejamos agora quais -mundiais de câmbio nestes últimos 50 anos e, dentro de cada um dêlcs, como
Inasileira, nem, tão
Os empréstimos externos faziam parte da organização financeira mundial e eram concedidos a todos os países que, pela sua administração ou pelo seu fu turo, merecessem crédito, Já os países i( 1 b'
I 10
SC
c) — 0 turismo. *'"'pré.\ti„ioü
gavam a balauçn de pagamentos ([oe o paí.s pndc.sst; ter, com a cotação, eniljora p.i.ssageira, da moeda, mcllior rcmimcração-ouro siia exportação e consüfjuenlcmcnte o maior poder a(]uisili\'o da sn:i mood i a possil)ilidadc mais fácil de compra de artigos estrangeiros de (|ue necessitasse
Finança deve .ser o coAssim Isto os métodos
O.s empréstimos externo.s, que ainda se realizaram atô 1928, não eram unia pouco, uma especialidade da política então doluinanle no IBrasil.
trouvaillü”
fiirctjVMts <pie tinham suas reservas pró prias a< nnmiadas — os .seus fumlos-imio tf.’u!a\aui tom êsles ftuulos. pelos st us haiieos eeiilrais. a sua h.ílaiiea ile pai^ainrntos ttnn l.omhes. rei t heiuK) d.di «Ml p.ira ali renieteiulti, ouro t‘in espéi‘ie ● piajulo fss.t ueee.ssitl.ule se fa/ia sentir prt» ou ft*ntra ès.ses paises.
No perioilo, j^ois fiiiaiieeira, <'neahi\;ula ipie era t»tima para a éj>oea e eorrespouilia a ttxlas as suas neee.ssiilacles — os iatòres ila olerln e cia procura da nossa moeda, l)c‘iu como a dos
tli* 1911-lDlS. V <'s>a ^lUTV.» toi a causa il.» ]>iimrira allcravão econômica mimlii.íl il«“ maior prolumliiladc. Nosso pró prio pais i* onluK se imluslriali7^írani. St m eontar o «»s KsLuIo.s rniilt»s ti\o. prla sna ' e prineipalnu jilf pela i‘ionali/,ula.

de maii^r importância ipie, |x»r èsse mocaj>aeid.ult' de produzir sua produção ra\ dominou a produ em sent
dessa priíueira fase por LondresKntre c'.sse domínio : c'ontraida.s. e o na gnor*
cai» munclial. perdãti tias dividas ra. pelos seus ah ele preferiu o adtvs. prinieirt). e com razão.
7 21
, da eravão profunda do s ipiadro econômico, a‘ nieira modalidade fim encabeçada Londri's, foi ruindo, lam surgindo lismo e IVf ir-'
.seguinlc para a defesa da sua mocxla, a instabilida de dos preços de todas as mercadorias seguia a
da moeda.
Nessa instaclcs, gavam
bi!iclaclc‘, sem dnvicla, pa muito caro sen
progresso, qnal cra econômica Mas, tuação mundo?
UI T T n 1 "1 a I
alt seu pnmeeira. por Foo micionac o protecionismo
( glalcrra.
indústria
si- a do A que permitia essa finança; quase monopolizada pela InPonco difundida nos outros
tôda a sua plenitude, e que só podiam subsistir ate então porque a divi são do nu.,ido entre uma minoria indus trial c uma maioria tributária e forne cedora dc inalc'rias-primas, tal mitia.
í .1 o perChegara a seu termo o período .1
scs novos.
cia industrial, portanto, nómico assim se dividia: industrial ante uma maior
Quasc nenhuma concorrenO mundo eco¬
países da Europa, ainda cconòmicamcntc atrasados, incipiente como nos paíou que as permutas de utilidades, por a.ssiin dizer c,spccializadas, sem atritos do conq^etição.
uma minoria ia tributária e fornecedora dc matérias-primas, senv olviincnto industrial da Alemanha e a sua concorrência na conquista de mercados determinou a primeira guerra
|
,-í ' i'
A modificação econômica dessa pri- . ,i nieira guerra troii.ve como resultado as niodificaçõcs financeiras que se foram operando com a interferência dos Esta dos Unidos, tornados então detentores do ouro acumulado ^
T "VTi I 17 I%r«)NÔMlCt> UK.I s-|(>
Dessa disseminavão da industria pelo mundo demais países do mundo, se l'a/-iatn sentir na mais anij>la liberdade, sem a menor reslri(,ão. Nos paí
ses novos como o no.s.so, sem reservas próprias pa ra o eipiilibrio da sua ba lança de contas, ]ior con-
como didVsa economia de cada procura cm, política da país, ^ mas vírus mortais para o livre cambio c o cambio livre, cpie repousavam na coneorróaicia, na lei da oferla c da
en se casavam
os maiores no mun-
O dc-
çóes.
● do. Podemos chamar esta set^nda fase " do sistema financeiro — a das es!a!)i!i>-aNãü foi, também, invem.ào brasiÍP leira a csta!>iIizaçáo. Foi um fenômrno mundial dv. ocasião, c o seu porquê miiilo claro: teritava-so com a estabil d.ulc das moedas: a) — poderem os Est.idos Unidos manter, no mesmo ^r.ni <1l* in tensidade, a sua produção, já nmito de senvolvida pela guerra; b) — poderem a Inglaterra c outros países industriais da Europa í querendo recuperar o tempo perdido c pagar as suas dívidas) vender f os seus produtos industriais, dando aos i países de moeda artificialmenle estabilizíida pelos empréstimos um poder aqui? ^ sitivo irreal, porque as b ilanças de pa,t; gamento, principalmente dc países novos, tém o seu equilíbrio muito precário. E o tinham mais precário, nessa época, porque 0 regime das estabilizações sc operava dentro da mais ampla liberdade da procura e oferta da moeda. Lança ram-se, pois, nos mercados, cm "dumping”, toda sorte de mercadorias, notadamente as dc consumo, Nossa indúsfoi scriamente ameaçada, não obs tante a nossa proteção aduaneira.
di* um síslema uma .‘ilu.ição rronúmic.a.finnncciro adequado a rm q'ie í iilmiim-i< .ulurias, UM (1 I jji irmu d", jMr.í tl.ir víiz.io ;i() surto iiMluaml .ihwuáo < tn
at.glo-:utHTi( aiio. íjii.incf-iro :uj nr)\o cst.itlo
Nessa segunda fase do sistema financuja duração não foi longa, os \ fatôres da oferta e da procura de nossa & moeda, bem como de outras moedas, estabilizadas pelo mesmo processo arli-
I
un
dima propicio ãs fht.idur.is <* a soguir, nova gmrr.t. até lOdõ. oxp.uisâo c( onóiníca. i* rnt.áo? sisteina fiuancriro. ou im-Dior, nova f.isc financeira di- (●slal)iliz;iç.ão, lioj»* conv<-ncionai. 'remos agora um sistern.» íujtIoamericaiKJ exjieriMH-iilaI. eni torno de um banco dr rcajust«‘S monetários, com um l*'nndo Monetário Int rnacional, mas cuja engrí-nagem, acj <jtic parece, eslá a denotar íallias j)réprins on falta dc Itibrificação. Aliás, <^s norle-amerienm>s, tão capazes cm outras esjxícialidades nessa — a financeira — ainda não for; capazes dc se revelar, tal\'cz porque as circunstáneias stqicrem o seu gênio, oii a iminência de uma guerra total não lhes aconselhe a lubrificação.
Estão a SC fazer, novainentc, os cmpiéslimos externos pc-lo “Export & port Bank”, que faz parle do novo aparelliamenlo financeiro, mas, protegen do ao mesmo tempo n economia aniericoncedidos em espécie, .v: i _ <●
ceiro, cana, porque isto é cm utilidades americanas para os paí.scs contraenlcs. Não pretendemos, com esta observação, criticar a forma.
W. ficial, de empVéstimos, se tornaram livr^o mas assim se aguentaram essas es tabilizações apenas até se verificar a crise de 1929 que, em resumo, foi o desequilíbrio entre a produção, acelera da pela guerra e oferecida em abundan- Estamos, pois, na atualidade, e de cia, e a incapacidade aquisitiva mundial acordo com a época, tentando um regi-
iiar.im as í otnp-ns.içó' s dm.tscar.id is d** ‘ buiu, sem
Assinalamo-la apenas para focalizar as modificações cconómico-financciras liojc em dia verificadas.
SÍ - da ocasião para absorvê-la — a crise de mc dc estabilização, convencional como consumo, a mais perigosa de tôdas as dissemos, porque os países que dêle recrises. De 1930 a 1939 seguiu-se a solvcram participar, convencionaramdepressão, para cuja agravação contri-^5,,depois de lhes ter sido dado prazo para ^ ’ dúvida, a falta de unidadeÇ^'J^eflexão - estabelecer pelos seus dele-
i A

^ 18 Dicr.sTO Econômico
%
5
No\o fr
C'oii( orrriK i.i < íiiii o ir)uiulo imiustri.il F.sSí- dr-s ijust.niuMito f'i (inoiiuco foi ti\ emos, No\'a 1 f;..
tria
gxclos ao fundo inonet.ário r ao Banco Internacional de Iteajustamcnto. as Suas na paridade dc uma de «>tini para com a no nossii caso. Alguns pai>es.
tax.i.s i!<- lãmbio ipiantal.ale sna t i\a niiMietai la. Uiudatl'para eom o » lu/iaro. povsiiuid.» fiimlo propties iin ouro, ou ilispoinbilulades eiii No'a \orls. e capazev. jHus. (Ir .ileiuler às i liauudas even tuais (lo himlo nu>n<l.\rio. mantém a ht rrs os falòres d.i oferla MM mceil.i. |.í ouniuitos. < omo o nosso.
çn dc conlas rompeu-se (os atrasados conu'rciais), e os nossos portos cxpcrinuntaram uma roi>ontim\ congestão, da <jual semente agora se sentem aliviados lio fluxo importador, baixando, ipuntemente, os fretes para o Brasil, rara so recuperar o equilíbrio reduzerase as licenças prévias, até a
ix^nsesua quase
supre.ssão, a ^ aguardam-se providencias ad.equadas, que talvez \enham , . a ser a peliçao das ja adotadas cm passado recente: contas graficas pelo Banco d(í Brasil dc gem diária das cambiais da
csl.d)ili/.n^.'i<) e ta e tl.i pjoiuia < lios, e sao
ilosá-los aos da Ibna dos: uictios rigorosa.
t-‘ tia .sua moi d i. para os. procura e «●tpiilu>ra-
n c uma retenção unia percenta■ exportação mantém a mm est.d>ili/asào. conserv.indo fatéires lU* ofer- 4ob (●(>uiri>!i‘ os principais , para a satisfaçao gradual, até a extinção, das contas gráficas. Desta vez é possíveí que não tenliamos o mesmo êxito rãpido ila última \ez. É que a rapidez, então 'rificada, foi devida ã liquidação dos estoques do DXC e ã conserjuenle alta do café, sòmentc então
igini toino SC constatou há inii orçamento baseado ihilid.ules cambiais lias noss.is de exportação, inaior. segundo se alega. p:*Ia necessida de dc o país SC abastecer ante a possibi lidade ila extensão da guerra da Coréia ilíbrio da nossa balan-

P‘»ieo, na ilislril»ui<,ào das licenças pre'ias, sian laKi’/
reai.s pos — inoti^achi essa dosagem e eis tpi<* o c(ju
\i reajustado
● eu preço-ouro o no interno. Nesse ter ceiro e atual período financeiro como funcionam
no vejamos os fatores de oferta e de procura d;i^ no.ssa moeda. Ou, como lazeinos que eles se comportem. * da moeda: Na oferto
- A importação do que carecemos:
— Está suje a) ita ã fila. Neutralizada, olcrta c da prévia. procura, sc funcionar pois, a lei da bem a licença
b) — A saída dc capitais:
“ Êste fator : Neutralizado, pois. está desviado para o câmbio ^egro.
c) — As viacens para o exterior:
— Id('in
d) — O aumento dc meios dc idem idem idem. pagamento:
~ Concorre nn ^lo, paia encarecer o custo da nossa prodnr^í por conseguinte, para tornar difícil a sua evnrf çao em concorrência com a similar estrangcFra^^^' Na procura da moeda:
a) — A exportação dos nossos produtos*
- É o único fator que ainda está sujeito à lr.i a oferta e da procura internacional, ^
» Dicr-sTO EcoNôNOcn 19
b) ~ Entrada de capitais estrangeiros;
c) — Turismo:
— Desviada, na sua maior parte, para o cAinbio nrgro
— Idcin jdern idcni id<-m.
Por esta análise verificamos que, não obstante os contrôles, o único il<-tn (pie está sujeito à concorrência c, portanto, à lei natiKal da oferta e da procura, co mo agente de procura da nossíi inocda, é evidentemente a nossa exportaí.ão;
«●
desta, pela sua percentagem no supri mento mundial, ainda suplantando a si milar estrangeira, e, pela sua cscasse/. já prolongada, é a do café.
<pie o càinbio da
Não nos e.síjueçamos, contiulo, esse agente de procura para nossa moeda pode sofrer restrições e se retrair: a) — sc a safra de café vier a ser muito abundante; b) — se, nesto
caso, o preço interno se tornar insupor tável para o produtor, mesmo com a compensação cia maior quantidade de produção; c) — se, mesmo escassa, como agora, a sua oferta for livre pela taxa de câmbio, como, por exemplo, num regime de taxas múltiplas ou de cambio livre, que se equivalem nos seus efeitos; d) — so, apesar de escassa, outras fontes de produção não s(-frerem a mesma cspuderem oferecer em barato o seu café, rjduzindo-nos ainda a nossa atual perprimento mundial; e) nosso principal
ouro mais cassez e o que seria grave centagem no su SC o poder aquisitivo do
consumidor decair.
Temos a considerar, por conseguinte, mais este fator importantíssimo para a manutenção da atual taxa cambial, isto é, para a nossa estabilização a essa taxa.
Que a estabilização seja natural (padrão-ouro, com as suas reservas dc ouro e o seu aparelliamenlo natural e ade quado) ou simplesmente convencional para os países que não têm as mes-
mas poss<-s ou reser\MS e r<-llui mento aclerp sacio, conso li/inente, e íjue prec is.mi f.itórcs de oíi-rta da su.i verdade ressalt.i positica:
á taxa «●scolliida ou eotiv<-iu
Uos < oníf.i/<;r lIMMxl.i, os nsu.i deinuns-
o nu-ssijo apamietaxa í[ue c ef<-íto, coiis«) Iroii, — sòim-nte pode snlssislir at< nd«-r, com natisralidade. a

se em juanlo um. pelo nós siieiios, — o mais vital par.s lo(lo.s os efeitos c-m jógo da K i i!a oU jia de !●: c da procura, nossa estabilização — a taxa atual — bem controlados os fatcircs da oferta d;
nos MIIIOS (piC‘ a a moe da _ pode ssibsislir entpianlo ssibsislirein os fatores alualim-nte fa\orá\-eis à nossa exportação de calc'r, já enuim-rado.s e (|uc, até agora, e cerlaniente por algmn Icnipo ainda, lião de subsistir.
recorde da Ninguém que ando da se nossa iuslabilidade, dc ser favorável á sua A qualquer taxa esqiU! seja
moeda, qu pode deixar labilização. estabilização — dcsd<fundamentos — <
»'ssa os seus lavoura
sua luc naturais é preferivcl, ainda que com algum sacrificio, que é compensado pelos prejuízos c:\ilados a todos os .setores da atividade nacional , indústria c comércio.
E êsse sacrifício pode ser melhor preendidü se atenuado, no setor brasi leiro, por uma organizaçao cambial mais adequada a atonua-lo, coino ainda vcrc’ros adiante.
nossa época já expostas, por dólar, ou, 05,40 pelo nosso
com-
20 I>icr-vro RcosóMUtr» r, 1
4 .
' .
<■ f, >
r 6
A
b'
4
Nestas circunstâncias — que são as da nacionais c internacionais a taxa atual de Cr$ 18,38 vicc-versa, US centavos cruzeiro, é aconselhável u ●
qtie snbsist.i. no nitcrcsse nacional, ponjnc:
a)
C'«)t.l<,.U> ll.l
Cl-Ilt.lV < 'N .miflu .UIO.S
líossi> t ni/i 111». m.ii''
ipi.mto tn.us .dta puilcr scr a im»cd.u qu.mlo m.íis pmlfimos t,iblcr {■■elo ou o;iro, m>ssus orodulos e I N.
prvHHtra so refleto nas oscilações da taxa; no regime da estabilização, é cm tòmo da fixide/. da taxa que giram e sc devem vipiilibrar os fatores diversos, c j;\ exanunadi^s. da t.ixa cambial.
t
tn.iiol .1 linss.l
rc iidi- .i \ I nd.i dos j Cl. cit .1 il»' dul.ucS; 111. lis ilol.iics obtiviT-
b) pi.llllo
UHis, nii iios ( lu/iuos piciis.iremos p.ir.i adqninr pruiluti tjiii- nos s.u) esseniMis;

qn.into ni
.us ^lol.iii-s lorcm obti■ iàcilmciitc os nossos M lão solv kIos c
ílos, 111.lis tlrpicss.l « ●itras.idus inincia i.iis nirllior o nosso credito, reiIctiudo-sc nos lomiuMs iuturas; preços 1.1.is noss.is
d) — qu.mlo lu.iis b.ii.ilos pudermos
1-àn outras palavras: no regime do vàmbio inleiramento livre, a taxa de .imbio sente-se txmio efeito, inu^liatanu nle. e. com facilidade, as oscilações o comprovam. Já na estabilizaíção, umu V c/ ili'tcrmin.Klo o efeito, èste efeito .1 l.íxa eamlnal — ainda cpio fundament.ulo e alicerç.ido cm algo de positivo, p.ucce agir como causa. Daí as confusõt s compreensiveis. a incompreensão b.istantc generalizada para todos quantos n.u' s.’io familiarÍ7.ados
ou n.tturalmcnie não
questão.
nljlcr os produtos csscnci.us. vitais mesluccssitanios, m.iis aliviado cr .upiisilivo d.i nossa
íiunda, iio seu aspecto iiilcino, atciuiauc.iii-slia ll.l vitl.i, cujo du os rigores ila
.'\ssim. t.unbém não falta
com o assunto aprofundaram a qiuan julgue
●no, dt; que [)od toriia-sc o Pana
iutlação de modo superficial, muitos, a inflação é somente o aumen to de meios de
‘
pagamento. No aspecto principal de inlccvâo não está na aumento dos meios
E é, porque a nossa íoco la.va cambial, inai' uo
dê pagamento, 'cz mais L a nossa capac 'nicainentc.
Inflação —
iulrruo. as.sim e.
cap.iciilade de produzir desproporção cada lapida para com ●idade de produzir ccouò-
em uad.i t:
produtos gracosos preços
c transportar menos rápida do que a de emitir, aspecto externo, é diferente, uipre, 0 cada vez
no que causas estra-
lios com nosso circulação do país os nossos meios de pagamento. i
acciil e ,S. iib.ts ou guerras aumentam a procura nossos produtos, além da do café, a moeda estrangeira, oferecida por tromaior intensidade, pelo cruzeiro, ativa mais a eobre Càibre,
l l 1 ^ o às vezes, supera. Desaparece, ]'>rovisòriamente, {■■ceto externo. a inflação, no seu as-
A incompreensão do problema cambial causa, eviclenleincntc, a sua Esta i'omplcxidade, torr('giines de estabili zação, torna por sua vez ainda maior a incompreensão. l’or ipie? Porque, ao pas.so ipic nu regime do cambio intüimmcntü livri* — hoje iucoinpalívcl com o c.siado econômico do mundo, como já vimos — a lei da oferta e da
tem como complexidade, nando-sc maior nos \o regime passado, de cambio inteiuuente liiTo, subia então a cotação cruzeiro daquela época — o mil-réis. gime atual da estabilização foram pagaeoin-
i'i do i\i) re mesmo aumentados os meios de nicnio, jJq
liqiiiJarcm as se
pras do nossa moeda para a compra mais ativa da nossa produção. As Le-
21 Digf.sto Econónctco
.1
tras do Tesouro, para congelar a curto prazo o aumento dos meios de paga mento, ainda aí estão, embora hoje obsoletas, recordando um período cin efeito externo, a nossa inque, para o
fiação desapareceu sòbrc os nossos pro- ● ]á hoje, volta-se a falar na in flação, porque passamos a scnti-la, tam bém no dutos, lioje encalhados,
mals, nem mesmo n 5 d. por mil-r^ds com a libra a \U. .J85fKK). K Iiojc. nós fossemos inodjficjr ;i taxa cambial ou a Iilícrãsseiiio.s, atendendo i\5 novas condi<,ócs íHtmómicas <lo do atnal, tf nat) corrigivseinos soes de p.ip*'l-infx:da, teriamos. por Cerlo os mesmos resultados negativos, senão piores.
os produtos “gravotérmo moderno. para o c.xtcrior sos”, para usarmos o E como, pela sua tão cambial dá lugar à incompreensão, bastante generalizada,
Seria pena para Oada a cojn ([iit; entre
se mimeiniso p.iís SC tal confusão tão nt)S .são resolvido
dutos. seu aspecto externo, nos prona sua saída assuntos mais sérios, há receios fundados fjne, para i)relemIermos .solucionar o venham ;
aconea» SC
tecesse. conunn s os
complexidade, a cpiescomo já vimos, .so (los produtos gravosos, cometer erros tpie, se fossem p(tr exemplo, em matéria riam simpiesmenle clamorosos. De faiQ (jue se pensaria de nin serviço sanitário cpie, constatando a exi.sténcia de al focos de epidemia num grande urbano, c-m vez de isolá-los
em rcmover a sa-se ern confundindo-a como causa, análise mais profunda do problema foco. Sem se analisar se ésse efeito
em vez dc se pensar sèriamcnte principal das cansas dos pro dutos gravosos — a inflação no seu as pecto permanente das emissões — penmodificar a taxa dc cambio.
conictidos, sanitária. SCJiuus ^'c‘mro ^ tratar os
sem uma cm doentes convímientcmeiile, co77ihatcrt(jQ (I causa, inoculassc o mal cm todos tos, pela sua resistência orgânica, tivessem .side; atingidos? em matéria econóuiica
a taxa atual do cambio — tem a sua ra zão de ser mantida nas possibilidades reais do nosso produto máximo dc ex portação, que ainda não é gravoso merce de Deus — o café\ Os produtos antieconômico na paridade in- a preço ternacional, hoje chamados gravosos, nao encontram a sua solução na modifica ção da taxa cambial, nem tampouco câmbio livre ou nas taxas múltiplas para dar no mes-
no a exportação
, o que vem a Basla-nos recordar, neste partitrês a quatro anos após mo. cular, que, término da guerra de 1914-1918, a — livre, então, de acordo com a época — caiu de 18

o nossa taxa de câmbio, a saíam,
5 d. de libra pelo nosso mil-reis hoje cruzeiro — isto é a libra passou de Rs. 13§330 a Rs, 48$000 e os nossos produtos a preço antieconômico, que pela necessidade mundial, a 18 d., Rs. 13$330 a libra, - não saíram
^juan‘hnda l^ois. nao absurdo. o seria ainda seu seu
Tomos um produto café; o seu consumo, pelo consumidor, é grande, e razoável dentro dos
o mesmo, sadio, o maior o
preço ou iii intervenção interna no aquisitivo
11 ni poder nossa
preços dc tros gêneros alimentícios dc consumo desse mesmo consumidor. A sua escas sez, um fato. Tanto assim que sustenta aturalmente, nas condições vigcntcs,sem café, relativamcntc altq da
moeda. Com isso nós nos beneficiamos de produtos essenciais, a menor preço em cruzeiros, diminuindo a intensidade custo dc vida c, do nosso beneficiamos mais dc alguns dêlcs, é por; nossos produtos imporPois bem: darmos saída aos produtos “gravo-
se não nos a seleção dos que tados tem deixado a desejar. para
Dir.rjrro Eí^osósirco 22
Dicesto Econômico
sos”, \ ale-ri.i a j> -na prcpidirarmos o café rom rir as \.u>tagrns e.uubiais quc <1« Ir atlírrtmos;
a)
r ijiistaiulo .1 no-.s.i (.(Ta cambial ar piissnrl j)rr*,o injro ilr .sairía (.laijuclcs de protinlosr'
lilu ramlr» «> c.imbio?

r ri.itulo as t.»\as múltiplas de camhiíí j),u.i o V r)S tlem.ús prinlut‘>s <lr r\p»iiLiç.’to?
r\p«)itamlr) cafr- prlo câmbio r ri.mdo o t\‘unbio li\rr.
h) e) <1)nficia! atua! r-. produtos gra\OM)S por esse ‘●vp<)rtar tàinbio? os
ridadc do preço internacional c respel- ^ lada a taxa oficial do nos o càinbio, quo . tfin motivos jHmderosos para ser respei»* tada. Kora dai. mnn pais como o no so, ^ eseasse7 rio ínão-de-obra — cscassex ^ na quantidade e sobretudo na qualidade, ^ o'mo pnnam as improvisações do tra- ^ ballu) — produzir para nâo vender, aumontando a inflação, ou prtíduzir para il Nt'udor cm dotrimenlo do principal ar- ^ tigo de e\pi>rtação. reduzindo a reccita-ouro que com èlo se pode obter, equi- ,Nale a um desperdicio, que é preferível nao se ipialificar. ainda mais se con- \
Crrlaim iitr qu«' Iodas evsas “soluções <-‘orttaminariam o i'afc c, ]>or aí. enenreceriain os uossos produtos \ltais ile im portação. solução para
ft Rfiuosos iião sr-rá rucontrada nos c.\pediente-s iiidicailos. Scrú encontrada, sim.
siilcrarmos os nossos nlmsados comerciais por p.rgar. Um industrial que, diri- : giudo a sua indústria
, teimasse em proos produtos tluzir pam encallie, encontraria na fa- -i Icncia o premio inexorável para o esforço mal compreendido.
Ou os produzimos deniutiTuo, sòmcnboi Iro do pmlcr aquisitivo
« seu que seria prejudicial para ● c quanlilativaiucnte dentro da no.ssa ^‘npacidadí- dc cousuiui-los; ou, prctencle>no.s
a sctiso. Mas, ncslc caso, sò- cxportá-los.
\ ejamos agora, antes de apresentar- ’ nu)s uma sugestão para o caso, porquo J cntiaidemos
o nosso café a eventualidade de qual- ''i] <pH'r uma daquelas modalidades \ir a scr adotada: 't \ > produzirmos dentro da pa- ínente se os
^0 — Reajustando a no.ssa ta.xa cambial ao sívcl preço-ouro de gravosüs;
, saida dos prod pi>sutos NI
b.ste reajuste teria de scr à mais baixa taxa possí- À vei para poder comportar a saída do produto de -preço mais antieconômico dentre èles, porque seproduto não contem«e baixarmos o preço-ouro do café
I > cotaçao muito inferior da nossa moeda (com "Cl ,a compra, pdo estrangeiro, é comprado ^ j‘^ceíta-ouro perdida no café ’ compensada pcla obtida VOSOS.
um contra em ouro, espontaneamente, um i em escassez. E os nossos fazendeiros? ■ ' possivelmente e transitoriamente mais cruzeiros pelo café (nunca tantos quantos devS receber na realidade pela concorrência interna entre eles mesmos), mas encareceriam em caráter ' pennanente o seu custo de produção, pela mais . i
t
1 23 ●»
♦ ♦
V:
4
nao, nosso uao seria com a dos produtos ^om ISSO gra, praticaríamos ainda senso: baixaríamos produto r Receberíam
b) — Liberando o
fáril y n
(M. sjl»i!i(Ln1r <h' p r; K o < .lír. II.I pnit.fjr.»
»oír' '*'''' >ii*‘ tii X ■
t.llK m) f]ll<l.iiM i;r.iNo>j»
I.iIIiIh III ●
I S r Í4 >Mí tif í* cámllio;
IiImI.H, ●> .■|ii'1.>ri.i iiil ir II
: n. l" .Sm hM. jr.i\ i/soN. loiiw r (.iijv.i ,
^ 1.' I i« > I >● I !' I .1, r.i II.I ( > <r> M
lll > rii.K n II ●: M l' ●^
Il t I in I
'I* ‘' imiiM ii, : 1 11 j I « ' inii I.mVis ●j'i «! |ii« I |,i. ll|l> '● l\ llMIN
.1 i ● ' pi .1 t OS nossos I t''in íj,'m.iM ! I ll ,IM llt< ● (odos i’!»' IMS OS( |],M,I,
.m.. I..IS of< it.l niull.r IlOS-. I
m« Mn.;- I IM 11\ I ■■ I ImI iI ■ '■ I I :: I iut I < < >iit I ,i \t,iN. |nsdi- ll.it.t( (UM .1 SM.I (ll.llM «' {H'lm.1-
os assentes tullli llti- |)0, tl IMII .1 IIK' tll.l IIK-Ilto. o C.ii*'. iicii'' pi-lu seu \alor-ouio.
ii.i ll>1 >( <1.1 (1.1 i >
«● pHda mu 'i’i ^ravosos, par.i sua s.uda. Itamiiéin iulcrinnitrulr \ull.in.i .i

i-.ui.tM H!● .iiml.i i|ii< 111.iis l>.ii\o, II Miliimi', (' um potMii i.il (oiiii.i a b.uv.i ató () poiilo r«‘i jiM-i iill I jH-los proiintos |Ui 'i. o <lu i.ili’, ●d um p' i ni.inriUt: S.K iilir.ui.i-
(● ([iiolidiano poiilo de iiiti iM)a.ii,.io. mos a nossa rcrclla-ouin; (litiiimm i.uiius possibilidadi- de liípiid.u.áo dns .ili.is.idus ciais, c; o proldcma dos inixlntos miaria a «●xistir, como j.’i loi iamii mino da i^m-rra
a nossa coinrri»i.i\osos conti-
|)|iii(ad" uo lér-
c) — Criando as luxas nn'dliplas de càmliio para o café e os demais produlos do
di; IDM-ldlS ; l●xjK>r[a(;ão:
a < p lot .1
u t
— Serríain perigosas as cunscí|iiMi( i.i'' lendcncia para lornar f^ravoso o t .il.-. isso nma dc.spropon;ão dir nossas taxas cnlro o cah'- <* os ouiros p evidente (|ue o eaié leria de si acompanliar, em jiaridade, o mais snporlávi l jielos produtos ipie conlemj)la(Ios na tal propor(,ão.
centuada P.isiaria paia de e.spoi la(,-ã() rodutos. Ti ' (OI l iar ur.i\ (ISO, para {■nsleio ein rni/.i‘iros, iiissi-ni mais
d) — Exportando café pelo cambio oficial atual, produtos gravosos pelo câmliio livre que for criado: e os caíi' sofreria uma criso Ksla crise arrastaria consigo, consislèneia do e.unlno oficial, produlos gravosos lograssem obU‘r no ínliinas para sua saída, le do seu preco interno em moeda para lamlrcm. (‘IO liovs.i êste gi a\ oso
— Neste c’aso, a lavoura de muito acentuada. pro\’àvelniente, a pois, se üs cambio li\i(í ta.xas riam na com|M-nsa(,ao cruzeiros uma vantagem lul com o café ipie Imnaiia para poder acompardiur, na
paridade, u pusluíu doa
l>tr 24 :Mo i ;i .»
r t
K. st fx.itniii.ti ada i.l lUH l.did.uli t l.l> ■ I I lUIIU
\s V l M S
● h-\ ,i»!i>s .1 <|i|i t« UH’’'
t>utfX'S priHÍ\ílo5. Isto ainda — l'cm entendido J na hijxitese tle. e\rntnalnu'nte, outros agentCS cie .
a cn baixa
l>r«H-nra tia nossa tiuHxla. a>n\0 por eseinplo trada do capitais, lüo iinpcdinan toda a »atnl'ial rctpuaida para a s;\ida dos ])rodutos jíra* \ onos.
uma mo.1 <l.«s i oinpen-
« i'iup' us.im>rs. i'«*m os .igit's .tsMslido e tpie
● < >11 ● spc >1 id<-i I mi .1 tin .'uuhio inliino — ^ «diitov .teiuol.ts enltÍN.»t t l’>
S« t.iiiil»«n» i.df<-iías, s.u> t.áo dl >s ● ■III /Oll.lN \h'm dos tm-omenien- '»i iiiats iirl.ixtas
iin it« lu d K .» Muul.i vlrsses
i
I* 'S upj II it .uh >s
pi‘H hílos .umla 1»‘\ .n i.i
A N.mt.tgein de lo nuTcatlo li.in fsl li siijrit.i .u's ruios t
’h' ('.'iiiiluo. «●nt.io munuT.ulos. ilivers.is tonnul.is l’i I.i .m.dise da.'«
i-) e il), com ipie ema da e\porhu,'ãi)
‘■anibi.iis. a ). 1»).
'i^.uii .1 Mihuionar o prol)l lios produtos gravosos. nenhnina <h Ias apifsi nl.i sohu.áo integrahnenle f.ifiin lüliinado. e tòdas elas
‘'ào .lUaiuenle prejudiciais ã espinha dor'●al ilo uosso i-.uubio — caíe. Iodas o
‘■(mlamíiiain i‘oiu o \‘ieio de origem dos ein ro-
p3'mhi(us gravosos, vieio que,
(
● \orá\«-l .'Ui 'iuim). é o seu preço aulieeonómieo o\i. mais elarainente. a sua ineapackladc de igtialilade do preço (e num mer-
'oiuputiç-.ão i-iu alguns l.uubém i'Ui qualidade)
‘ aiio que, iu)s’-n eimlròle.
sendo intcnuiciouai cseapa ao liOgo, a solução dos produlos gj‘a\osos. eonio ja dissemos, o íuua (|ueslâo ile bom siaiso. Ou produ/.ilos ua [iariilaile inlcrnaeional — o, neste
caso. deixarão de scr gra\'OSOS c passalão a ser éiteis à nossa economia, como o iaí<'-. no siMi aspecto dc intercâmbio ou não ]uodu/.i-l()s senão na quantidade assiinilÚNcl pido nosso mercado interno.
A unidade da taxa cambial para a ex portação dc todos os nossos produtos,
\c <lcnlri> de e\.unin.ul.»s.
eou i no eustv) *' .dota tjo — o eafõ.
m rt'ss.dta ncccss;\rinv clara e todas as fórmulas_J A \ariodadc dessa t;usa ou_4 nndtiplicitlatlo ó n0CÍ\a. COIUO fi*_J lilo. poupu' instittii a disparidndo_I ilt' pnuhicâii ilo cada produlo, _y aipuMc ([UC dc\ c ser prcscr\*a- ^ O nu's»no cuidado devo ^ scr obscrwulo uos puAX)s mínimos. prc(,n minimo c tnna medida de grande ' alcance, sobretudo para aumentar a pro-'í*J diu,âo de gêneros do alimentação. pri'feri\i'l instituir-so no orçamento feder.d uma \ erb.i do um milhão de contos paiM a e\entu.didade do se perder parte ou lòda t'la com a aípiisição de gêneros alinuailieios, e termos alimentos com farlura. a os não ha\ermos e termos de_J aumentar anualmenlo os salários, encau'eeiulo a vida e dando, pelo aumento_> ilnsorio desses salários, mais uma causa p.u.i a inflação em marcha. Mas,

0 pre- ●
do
porque.
25 OiCttATO
nCONÓMICn
■]
O E V i
çi) mínimo, mesmo para os alimentos de _; ijm* carecemos, do\e scr estabelecido_^ ti ndo em vista a distancia dos maiores i‘i’nlros consumidores — os grandes cen tros mbanos — e, dadas as nossas difi- _Í cnldades do transporte, as desse transporte. possibilidades _’ Senão, a igualdade _' do preço mínimo para todas as zonas _‘ país, indislintamente, de fertilidade _< e processo dc produção os mais variados, pode dar lugar a prejuízos que podem! ■ com critério, scr evitados. Se é delicada _i a instituição do preço mínimo para os '' gêneros de primeira necessidade, ,mais delicada ainda deve ser a que se desti nar a produtos de exportação, ● _I
f
tanto quanto possível, a paridade de preço da mão-de-obra deve ser ohscr\'ada, como a paridade cambial tambcin.
ff preço mínimo, enfim, como agente dc combale à inflação, é uma mcílida útil e necessária. Politicamente, c mesum processo democrático de produÇ5o, porque a estimula pelo interésse in^ dividiial. É oposto e dá mais resultado do que os regimes políticos totalitários, cujo ê.xito menor na produção está justah. ' mente cm não cultivar o indivíduo. Mas, 7 a compie.xidade do preço nunimo ainda y*' é maior do que a do câmbio; mormcnle
mo
»■ num país da extensão do nosso, com os variados climas, com a uberdade ■. de terras, a mais variada também, e com jSÍ'; a falta tão grande quanto à extensão
d) — que SC não fizessem obras públicas fora de nn» orçamento c pl.mo previstos, f sàmvntc drntro (hn jHixsihi. lidmlo.s dos impo',to\ ahi.iis, |X)r^}iio amiM-nlos <Iést*s, p« la fcjrin.i Sí- processa, são earecimento da sitl.i «●, d<- iiif 1.u,.*k>, < oiiseguintc;
IV
Conclusões
Não bastam, evidentemente, para a harmonia do conjunto de medidas tendentes a combater a inflação, no que diz respeito à política cambial, as ja consignadas: a paridade de câmbio . de preço mínimo para os produtos de exportação.
Seria indispensável, ainda:

e a
b;. entendemos a que sai na preço internacional;
t; / t
a) _ que se não emitisse mais, a não ser o estritarnente necessário para aten der ao redesconto de financiamento da produção exportável — e por exportável paridade de
os '1'»^ .upil Íí)tí>s (!●* <onst.»u|«. <’Upor para ‘Ç.iO. >ne<b(las , «Jétodo que vies.se a ser adotado; j,b dade cambial, taxas múltiplas da atualnu-nle < in \ igor a uma taxa de eslalúlização, mais bai.va, éles sofreriam, além dos seus
e) — fpic Sf saiifa*‘Se o íTi'clito, este r»ao ser e.uisa, laml)ém, cU* iníl; Como é esáclente, sem estas Ijásicas, fjtjalrjuer qu<; fõsse o carnbíal
cr^^^‘●‘íuste nova fodos pró erroscons- prios e intrínseeí)s, o mesmo efeit tanto e pernicioso do aumento d de pagamentfí na produção, ('umpriria, entretanto, desde já, qne uma modificação da política carn bial não fôsse, por .sua vez, moti\-o dõ transtornos inflacionários, dando azo êstes, que se encontrasse uma fórrnul^ que, alendendo ás circunstâncias atu^j^ correspondesse às necessidades mais íu^q’ dialas do país.
o o para
E essa formula — a menos i ’"^P^*rfoita talvez, segundo pcn.samos — seria aquQ^ que disciplinas.se a procura e a oferta da moeda, mantendo, em parte, o Seria mantido <1 statucíimbi tf atual. quo o o por dólar, C‘onvea importação de prodiu ainda viável c os exequível
oficial, à ta.xa dc Cr$ 18,38 : oii centavos 5,40 por cruzeiro, niente para essenciais e, , 20olos fatores favoráveis que sc relacionam com o nosso principal produto do exportação, o café. A exportação ino já deixamos assinalado — devia, toda obedecer à mesma taxa cambial. Seria preferível para os produtos vosos já existentes e pendentes de portação, que o Governo realizasse
produto financeiro; que se equilibrassem os orçamentos federal, estadual e municipal;
COela, graexo pre-
1'Í7 ► 26 Dicr^o ErnvANnco
|e^ territorial de comunicações, isto é, de transporte. í
J » ●
b) — que se recolhesse esse “estritainente necessário emitido”, quando ter minada a safra e à medida da saída do
juízo em rr.sv.triulo.
I ru/eiros. prejuízo quo seria
i'\« rpi íon.dnumtr jx>r rst.v in.uirii.i 'píf lembr.ul.i
●1.1 P n eàinbio euja ela. t« i i.iiiii*'.la CXJSOll.lcão. riMeit.i. s;i tiin ui.iportav.li)

teréssi- V
W7.. mais .idi.itite. Assim. re<-eil.i sej i.», s«'tn <list ‘ dxs ii'>'-sos ptt>ilutiw. Des* .1 '«-> cuul ulos unenle esSO seriam deslinatlos im(Ins semiiiiles protlnlos ile tnil.d pu.i o p.íis:
a) 1)) e) d) etc.);
i-omlnisli\ i*is; ap.irelli.unento p.ir.i .» em*rliM eletric’.!;
— m.itcri.d par.i tr.msporle. fer io c rotloviários. além dos fluviais c m.uilimos, hem co mo par.» os melhoramentos portuários;
— artigos destinados ao fomen to e liarateamonto da prtuluagrieola (tratores, .adnirrigação, inseticidas. çao 1h)s.
e)
UKupiinaria pi‘lo rcíluza pr<‘gada, a sua menor escassez;
industrial (jue. .seu apiTf(‘içoamento, a mão-de-obra emcontribuindo para
— o trigo, com certas restrições. f)
com referencia ao trigo As rcslriçõc.s
na mo.sina proporção, o itom e) fcv^*orcmU> .1 iinptirtrtção. \íc\a induslrin. de niatrri.i-prini.» oslranjjcira. Os produtos ^'mpriHMtdUlos mvs ilons b), c) c c)« ix>nti-mpl.\dos, como os outros, i>'m tniia ipiota fixa anual. Dentro desse eritèriíi de quota, podiam ser cstabclei iilos. planos (putu]uenais ou deccnais de ap.»r<‘llKunento, de modo que este fòsse ●utado sem baver sobrecarga muo só exeivieio c.imbial. e no ca^ cvidenlcnu’u*e de insuficiência da quota amtal fivada. Os 20% dc margem serviríam par.i fazer face a mna red\ição possível ou imprev ista da receita cambial; ou, sc nâo bVssem neccssãrios para esse fim, teriam o destino que vamos ver: criado o mercado de cambio livre que se pro jeta. segundo uns, sòmcntc para toda espécie do entrada e saída de capitais e, .segmulo outros, para néle ser com preendida tamlicm a exportação dos pro dutos gravosos (erro ésto, a nosso ver, já explanado), aqueles 20%, uma vez \erifieado.s, sc destinariam como aniorteeedor das oscilações cambiais possivelnuailc bruscas, a que deve estar sujeito, pelo menos no seu funciunaincnto ini cial.
exce mercado livre. Constituiriam,
loriam o .si‘guinte sentido: a quota cam bial que desse cereal deveria ser reduzida de um décimo, pelo menos, cada ano, para incriar no país a produção
fosse atribuída i\ importação centivar c
caso. aqueles 20%, com a outra a ctüradíi dc capitais — a receita cambial do mercado livre para enfrentar as verbas — diriamos assim de despesa cambial:
o ue.sto V erba: — a saida de capitais e a im
portação de todos os demais produtos de que carecemos do estrangeiro e não compreendidos pelo cambio oficial. importação servida na suficiente desse artigo de primeira neÀ medida quo essa redução fôsse verificando, seria beneficiado cessidade. SO Em resumo, a balança do câmbio oficial abrangería os seguintes fatores:
de procura da moeda:
A e\-portação de todos os produtos e.xportávefs, sem distinção;
27 DICK3TO Kt:oNÓMicr>
de oferta da moeda: - A ÍIIip(irt.i«;riO <l.is sris f.ilr^uri.iN scnci:ÉÍs, atrás <-niiiii« i.iflus f rsf
E a balança cio câmbio livre .t ser t riaclo < omprí i iKb n.i o*, seijiniit» ■. f
de procura da moeda:
<i) — a eniracl.i cb- c.ipit.iis.
1)) — o salílí) verifi* a<!o í 20'/) da r*M c-i(., ^ do iiierc.ido í)fieial. ●nubi.d de oferta da moeda: f a saída de capitais; a importação d<- Iodos os demais «●immcrado.s na lista do câmbio oíicial. art a; b)igos nao
primoiramcMitc : Vejamos agora t funcionaria o mecanismo cia fcârmula suscguicla, apreciarmos
como gerida, para, em i C-Oittra justifiScri nor-

O mecanismo do mercado de câmbio oficial seria o mesmo que o atual; aper de a “Cexirn” atender a nas, em ve/.
U tidèiu ia cambi.d, iií) rt;i^inu. plela liberdade d<- nu>vjin< i,it, ojícr.idíjres, <jne não l>i'ecisariam i car o porqin- das siias opeiaçOí-s. eonvenienle, entretanto, at«'*
os as suas vantagens. mali/.ação, qiie o seu iuo\'ini< nto si* (, rasse cxeliisis amenlc pedo llano '
pa suu
lírasil. Não (pic com essa exelusiviti. \ se objetivasse uma fisc.-aliz-ação^
<pio a dosagem do suprimento de 1 no mercado livre scjineiile
o o ohcia Pode
I.
riji denpelo ^ re¬
●-
nao se incr-
como seria aconselliáscl unidade dc comando estaljclecinuailo l)ancario detentor d; serva cambial. E este não podería mais indicado ■■
no pricm mcjro e ambos
sulxlividindo a iiíiporlação seriam de monta
ser h.-ita, tro de uma outro .senão o P‘^>-a :
tegoria no orçamento anual dc câml)io. 20% de cada compra dc cobertura, os Banco do. Brasil Bancos entregariam ao Ser elevado mister. tão cambial, com para constituir a reserva faria fuce a uma eventual queda que se do valor-ouro da exportação ou, verificando esta, ao suprimento do eado livre pela forma já examinada. Inicialmente, e até se solvercm os nossos atrasado.s comerciais, essa percentagem
de 20 % deveria ser elevada a 30%. Di-
vidir-se-iam então esses 30 % em duas
parcelas iguais, de 15 %, uma para os ' atrasados comerciais, isto é, para aten-
prcciável filas”,
a com m nioaa nossa
Somente a extinção das todos os males materiais e de ordo ral tão conhecidos que delas decorrem seria um grande Ijem para a indústria e 0 comércio honestos. Embora tenha fi cado inicialincnlc para o mercado livre a satisfação da mxessidade de matéri prima estrangeira de (pie carece indústria, esta teria uma certa, conipen-
28 Dit;» SI l'.<-ONVlMtco (I
m tôda e.spécie de importação, atenderia somente à discriminada nos itens a), I)), f), dentro das possibilidacambiais adquiridas e cada ca-
e), d), e) e des diárias das das quotas estabelecidas para
As vantagens de uma tal bifu cambial — câmbio oficial e cânibio 1^ vre, unindo tôda a exportação
der à liquidação gradual das contas grá’ ficas"; e a outra para o suprimento do mercado livre. O mecanismo deste mer cado — o livre — nada teria de especial. Êste mercado seria trabalhado dentro da
c.tmbit' ofi- *aç.’m na inipiul.»* .«●>. p'‘lo irrlb un* nt<' lu-i «●’'sat;o pata .'u iMi ntc rr:uli\l.'jn di>vs.> o p:.-ca !\s--. iliulic ilo
( lal. <!«> ap SM.I II1')()● t t li .* I <'
IM»-Ilt< ► * I ● UI «.-lo ! 1U< ’ >]il p UT ! tn .iicir .d pl.iim « \pi >■' ,,q.1 iiiipf-dii i I a ll<» IIK -I I ..<1< <
la ‘■a H inl«'ii
I l > m 11< i ia pi íma. u.u> ■dtiçáo indu'lTÍal pi. .!a p.nlcr aipd- ii> lojn c»
''lli\ t) t (.1 rrspi uidi nt«' l'ai.i < ' ita bslaiitiv iltidn. nmit i portada. '>.i< bial d<r«T cnin cl.i

n iliii. /a ilc i ou as pr< i‘.oi».o'‘'i ●atlnria f > IIMH piíuliiln*' ijo V( ui’Oc alu.d
|À rstariA nu'smo sondo cogilndo vu\i i<'.»juNt.imoulo ossi\ oventu.xlid.ulo, ou moihor, uinu Inunficação pol.» di\orsidudo do lr.\t;\nu'uto can^bial. t'*unpr<'«'udo-so ossa aspira^âv'. E o rcuuaIío para ijuo ola não ti\ 0S'O razão de ^»T. ONtaria na igualdado oaiubial \x>r tu'> a^,^'nst'lluu^a o mnvssária [>or moti vos jà o\p!ioados do ordom m>nómica. St. taiUolanlt). um òrn> \ iov a sor prati-
— a ai!o(,\'io dat)uo!o ovilório errado tU' t'\j>ortaeão para os prtululos gravosos - o outro òrro. o da bonUioav'âo, que sbria t'ojísotpiònoia tio primeiro, estaria justiticailo. txuu todas as suas ruinosas eonsoipièneias para o próprio câmbio ofi cial e para i> rendimenlo-ouro da nossa receita ile exportação de café. Sim, ivuipu' (|ualquer svibsidio ou reajustanuaito. dado cm títulos ou em dinheiro
mlu*-liia. não \ .u cis nr't'tc iptf t'ra Ínilifii .uiilo a piioMil.uh' cam\inlia ciuu'orO COUUTa ter. ilcntn> do iiii)nul.idi'T ]iav'^aiia UKTcad») vidadc. mais ris i\ r«\ Mas. ci>s ji.tr.i sua aliéslus riscos, cxiuindo dc 'luciu os assmnc líaranliriaiii a Ir.u maior tino comercial, lii.ãt) tão fal.ula t‘ que tanto SC rcqticr uo mcvc.ulo importador. !●' a lax-oura dc <'afé. então cm paritladc <-anibial na exportação, não sómcnlc totido menor pr<'ço ]>ara os prod(' <ptc cia é grande simliria numos aceu-
-onsnim'dora.
ria garan diilos estrangeiros <
como
tuada a c‘oncorrciu'ia no preço dc-obra c[iu favorercidos na bial, Ibc j^oderiam >uão-dc-obra.
Vara a liquidação
● outros produtos, fazer no
sc mais di\fisidadt' da taxa campreço da
laxonra do cafe, c-njo ciclo do de sua atividade é an\ial, ao
passo í(iio para outras o son ciclo é nmilo menor, como a do algodão, por r*xomplo, já Ibc* basta esta desvantagem natural, rpu- reflete, sem dúvida, no preço da mão-de-ol>ra e do custo por conseguinte.
aos
proclutor, rcdimdaria ni\ bai.xa em para o .sou produto c no enfraque cimento do seu preço interno pela cotieorrèneia entre os produtores, em de trimento. goralmentc, dos cconòmicauionte mais fracos. E, para que se tcnlia
ao o\no nina noção mai
da inão.s nítida desse pro blema. cuja sohição já ó conhecida, aí estão ainda as Letras do Tesouro, anti quadas. fora da moda. mas que sobrevi vem e já tèm exercido a sua ação fasta sobro o cambio, isto é, sôbre neo
preço-ouro do café. pelo ágio que tem ri'cí'bido cpuuulo mais escassas as letras exportação. Elas não dizem respeito acçs fazendeiros, aos
A incerteza do nimo cambial quanto produtos gra\'os(^s c a possibilidade dc vir a ser adotado o crilcuio dc estes vircmi a ser exportados pedo cambio li vre a ser criado, já está preocupando, çomo é natural, os produtores de café.
dc porque são atribuídas exportadores, que as vendem Banco.s pnva so desfazer delas. aos Nessa vcntia, jx)rcm, quando cscas.sas as letras do exportação — c, quando escassas é porque é escassa a procura do café, com o declínio também do seu preço interno — o exportador tem recebido, além dos juros dc 3 % ao ano nelas compreendidos mais os juros de 6% e mais, ao ano,||(
29 I)icF.s-io ICr<iNrtMiro
conforme a maior procura clc cAmbto ve rificada, Pois bem; c'S‘CS jtiros r<-prc*, sentando uma soma maior de cruzeiros r > para o exportador, f
r izem com íjue este
{r
^'
» r O forapt.l iopossa aceitar e aceite of<rlas do com prador estranüeiro a preço-ouro mais re duzido,
Êstes fatos são correntes na <'.xportação c SC produzem sempre que as circuns tâncias o permitem.
Assinalamo-los aqui apenas para apoio da lese apresentada, isto é, dcj nosso ponto de vista sóbre o mau efeito da bonificação para f|ualfpier produtcj clc efeitos clúviexportação. Não fôssem és.es contraproducentes e não teríamos
da em sugerir para toda cxportac;ao, sem distinção de produto — desde cpic iguauma bonificação. lada pela taxa oficial
sem inreceita do câmbio oficial. lucros eventuais, para
para o fiiiaiiriafiif-nlo |, -m im reim-nto da {>rodiu,-;io i-\|i nando-a mais ]> ir.il i cnfr«-iil.ir a c(impr;i í) ÍM( r*-mcn*u da pr«.<l! d' S'-iivfd\ iiiMa.lo df
● }● Tt tt.lu. f p.ir.i .!< I na). a <
t niiiiiTM .V para a dí- não ronliniiar apoi,idu, 'pia*** sivainenle. num só produto, sua < \porta<,ão, I',sla necessidade torna-' o evidência se consi<ler.irmos indisprtisáfrl ter isto bem a nossa receita caml)ial, tc quase tóda ela não c clc tal modo considcr.ivcd
c n.»miír.IS iniitrs ,a«J e íí d" produ(,ãn, < oino <*s d** imiÍ!o iiitere^s*-
a tim » \< liio «*st<'io d(.
de <pj<‘ presr
mita ao pais uni progrc.sso a curto tão cio feitio imediatisla cias nações vas. Neste sentido, lodo o ê.xito do Banco de Desenvolvimento Económ’ tóda a sua oportniiidacle, (juo é para o paí.s (sc bem cuidada a sua refa), está cm não assumir compro,nj que escapem às nossas cambiais.
lir. e excepcionalmentc é. deveriam prccipuainente ressarcir o BanK'- CO do Brasil ou a Nação do prejuízo que se verificasse na exportaçao. peJa paridade internacional, dos produtos gravosos, hoje onerando teda a coletividade. Isto atendido, e também, com a venda desses produtos, atendida a necessidade dc se recolher o que foÍ cmitidü para sua poder-se-ia cogitar entao, com ^ quêles lucros, orga-
compra, seriedade de, com a y Banco Ru-
A a
o nizar e desenvolver um
Por conseguinte, esse desenvoKi.,-, que respeita à questão camb^' c transcendental, .sòmento seria " *’ aconselliável em con‘^‘‘^n^rce
to, no que veniente e ndimentos que visassem a lortalccer o ilibrio cambial, isto ê: ÍIOSSO ●criand ou equi--o remoto nova.s cambiais cm liituro nao
ora contraídos. de grandes recursos,

30 nir:r.sT4> Econômico ¥
maior << c ute substanci.d,„c proveniente <lo ca f
ri¬ ó. per¬
pra po ●'' zo, no-
\-o
SO.S possibilidades
Uma bonificação, sem emissão, Í-. ;>■ t. r
fiação, pois; com o aproveitamento ape'h ' nas dos recursos auferidos nos lucros cambiais a se realizarem na venda, pelo câmbio livre, dos 20% descontados da Mas, esses benefício geral nesta cmcrgcncia.
para cia-scímcnlo da nossa rcceita-ouro ou reduzindo a oferta da nossa moeda* pela criação de riquezas que vcnbam ’ siibsÜíuir as estrangeiras para sol sobressaltos futuros, os 1 . li
a ''crinos, empréstimos sem ral ou Econômico,
o declínio das sociedades de economia mista e o advento das modernas emprêsas públicas

Pm m Tinto
d.- Ti '!● ● V. I it u<:>.! N
AJministnlivo d.i Taculil.ido 1 il.- n.rriu» il.i Tm\tT>id.u.lo tio Brasil)
(Pülcslr:i rtNil].Tui:i n.» tuio d:i O:\icm dos Advogados de Minas Gerais e rio c*ur.M> dv Piioito Túblico da Fundação Gelúlio Vargas)
UM fios .'●.- piH-tns mais onractci ísticos fia f\'ohu;ão iTi Kstado mo-
derno é. srm iiú\'id:i. ií da pttigrcssiva ampliação da ârt‘a ocupada pe los serviçí»s púhlici>s.
Êsse avullamcnto tias atividades do E tadt) tem suscitaiio aproen.sòcs polilicos c iniptirtantcs estue obras cuntemporâ-
Q muitos pensrdori's c con.stitui tema de dos, ensaios neas.
modo contrário ao interesse geral.
A atividade do Estado que reuna i essas características pode constituir, ' contcmporàncamcnte, um serviço ^ público.
Essa conceituação pode ser tida 9 como rolativamentc estável ou fixa, 9 mas nela esta implícito o conteúdo 9 variável do serviço público, no es- | peço 0 no tempo. 3
dos clamores levantados, o aumento das dimensões do Estafíito histórico de caráter
Apesar do 6 um Universal, visto que ocorre cm to dos os países do mundo.
Essa variabilidade do objeto do J serviço público decorre do fato de 9 serem as necessidades essenciais ^ dos povos enormemente diversifica das. em razão do grau de desenvol vimento econômico, de educação de cultura dos diferentes grupos so- ●, ciais.
^lUc dados.
As duas caracleríslicas dominan tes do serviço público passaram a
o sor:
dc quo a atividade seja de importância primordial para o gru po .social c vise c assegurar a satis fação de uma das suas necessidades essenciais;
1.^) a .
Em virtude des.sa evolução, o con ceito dc serviço público teve do so frer processo de rcclaboração uin , reajustasse às novas rcali- As necessidades esscnciais dos 4 norte-americanos ou inglêses serno \ certamonte bem diferentes des dos ctíopcs ou dos coreanos. Aliás, dentro dc um mesmo país, às vêzos, essas necessidades essenciais fundamento diversificadas. sao pro-
2.^) a de que a iniciativa priva da seja inadequada para o seu exer cício, quer porque náo deseja exerce-la, quer porque a exercerá de
Medite-se, por exemplo, em co- ' mo são diferentes as exigências de 1 um grupo social localizado no ção da Amazônia e as dos cora- .] que vi- ■ vem nos nossos grandes centros metropolitanos como Paulo. 0 Rio e São
e
v l
i
V - ●y.
I
Observando a variabilidade das atividades que. no curso da histó ria, têm con.stiluído objeto do viço público, vorificamo.s <iue f)s .su cessivos esláííios díiF formas por êlc úmidas correspondem às tran.sformaçoes que a própria noção de Ejtcdo vem .sofrido.
formas de empre a. (jin- pn tende mos examinar m-.-ir, n; b-stra.
ser-
No Estado-policia, quando se re conhecia que suas atribuições cx«dusiva.s eram a d(*fesa contra o.s ini migos externos e a manutenção da ordem interna, o conceito de servi ço público não poderia abranger itividcdes que estavam fora da.s restrita.s e es!)ecíficas fi nalidades en tão reconhe cidas ao Es tado.
A propor ção que ao ilstado lam
fosendn <1 o s ,
óprio conceito foi so- c-argos, 0 SGU pr J/endo um processo evolutivo que \'iria culminar nas formas contemque se vô investido {loràneas, em
A inlei vençã » do Ksla<Í<> no do¬ mínio eron«»miro nao mediante* rcMO, pian "PlToU. J10. p:évio> ou como conrecjufiu-ia di urna raçãí; douti iná: la. dis'-f), ela e se foi opi-ramlo por de oportunifiade pi áli<*a. das vií-i. ^ iludes íI«- uma b lória.
prepaãi io leve earaler fiagment;'II Io iÇi-es ‘●urso nga his
A.. cn- i lf f-Us
Desde o momento em ejue tado, para realizar .seus fie incluir entre as suas
i, no «» Ks, leve <le llá reza trial mercial. Kiu o.sladisi;.-
Patubulusou C(). sur. Para <JS s o <la
Probleui^ e.scollu, o meicKs pocí' cio-Olhados.
consenso●i eral; varefas e ennovas As idéiías políticas o cconnmicas doniip. na época cm que o Estado le-O começar a assumir c.ssrs ri: refas limitaram a

”Ucs 0 de ia_ oPÇíio política encolha do instrumento adequaclo exercício das suas novas c
na ao ^'ndinion
ds amplos poderes de intervenção ordem econômica e no domínio na -
social, a fim de poder assegurar a f rosperidade e o bem-estar coletivo.
Da amplieçâo do campo de ativi dade do Estado, interessa particularD;ente ao nosso estudo a que se oper u no domínio econômico, por isso que foi para o exercício de.stas noatribuições que o Poder Públiteve de se utilizar das diferentes vas Cl)
tares funções de caráter econômico
As formas consensuais espontà-^ poderia Estado liberal neas que o
sugerir teriam que .ser, mente, ou a do seu exercício pelos próprios órgãos do Estado ou a da delegação dessas atividades indus triais ou comerciais a empresas pri?]
.‘?2 Dlf:»"VTr* Fe <>N6Mlf*n
r t r i b u ípor C«
necessària-
vadas. mediante um regime do concesí^ão.
Foi assim que surgiu o instituto da com*e.‘ísão de serviço público comt* processo de execução dos prinu-iros .serviços públicos industriai-S í nt!i> os quais podemo.s incluir os dc transporte coletivo urbano a tra ção animal, os de iluminação a gás <ís de estradas do ferro a vapor.
A eom essão dc serviço público lo grou êxito considerável c foi gcralmente adotada em todos os paiscs civilizados.
O campo de sua aplicação foi sen do ampliado à medida que novas exigências sociais reclamavam o alargamento do setor dos serviços Públicos industriais.
A concessão do .serviço público consistia e consisto no ato do con fiar a Administração, durante certo Pi’azo, a gestão de um serviço pú blico a um empresário privado, pes soa física ou jurídica, que se torna Um colaborador da Administração, a cujo controle fica submetido, no
● Que diz rcspc«to à qualidade, à ex’ tensão do serviço e à sua i'emuneração.
A grande vantagem do regime de concessão para o Estado liberal era a de que, por meio dela, o Estado Prestava um serviço público essen^ ciai sem que tivesse necessidade de inverter recursos do tesouro e,
bretudo, sosem correr os riscos eco nômicos de tôda exploração indus-
trial.
Estas características originárias da concessáo de serviço público fo ram, entretanto, sensivelmente alteradas, de começo pelas cláusulas de garantias de juros e mais tarde
pcln aplicação da “teoria da imprevisâo”.
Em razão dcílas modificações, es truturais do contrato do concessão, entre o concedonte c o concessioná rio como que surgiu uma associação financeira lesiva ao Poder Público, que. privado dos benefícios even tuais. estava, entretanto, obrigado a participar das perdas ^a explora ção do serviço público concedido.
Quando a evolução do instituto chegou a este ponto, o seu declínio se tornou inevitável.
Outros motivos, entre os quais uma ambiòncia fnvoi'ável à inter venção do Estado no domínio econô mico. terão também influído psra que a concessão de serviço público fosse perdendo o prestígio conquis tado, dando ensejo a que surgisse uma nova modalidade de explora ção dos serviços industriais do Es tado: a sociedade de economia mista.
Essa evolução não se operou de maneira uniforme e geral ou por estágios que possam ser precisamen te delimitados no tempo e no es paço.
Esta sucessividade que estabelece mos entre a concessão e a socieda de de economia mista tem apenas o propósito didático de fixar, de ma neira geral, a prioridade histórica da concessão.
As sociedades de economia mista não tinham, nas suas origens, denominação genérica e nem repre sentaram um deliberado avanço técnica da execução do setor indus trial dos serviços públicos.
essa na
Razões diversas, todas de ordem prática, foram propiciando ao Po-

f ● 'n DrcFJrro HcosÓNnno
(● <
!
5{!
:
k
der Público o ensejo de associar-se a emprôsas particulares para o de sempenho de certos jerviços de tureza comercial ou industrial. na-
A inoveção sub.->tancial do siste ma consistiu em que o Estado pas sou a associar-se a “emprésas pri vadas” para a realização de seus objetivos.
!.●) 6 orRanizada h
'xirdadí- < <»n;»Tí :al
í‘>rm
2.**; rt-f!'- *●. prnit p ilm«-nii,.
● jJíiv. t\ii, o 1’uhhi .*
í ulare:. p.i: lu :p:,fn
nrlíis e r(»rno adiniiu
Na imp ' ■ djilidad*nhar a «●vnlu<;.'i»» dr:
n de ● pel..
■●tn.
'' Parti. a»-iM.
r ‘ ii, ..C <!< I : e-U
« conotnia mir ta etn tu i.,v pela divei .sidadc

mos expor Mu-inlatncnii- ; tória atra Vi'. d; palavi:a Kl ZWAHKE.N.
P. ijM\S.
(le Direito Admmislraliv
/■lafle (!<● Ditfilu ílc D;
Essa nova tal de ação
‘●miiu-m nalização do trabalho, que começa vam a ser utilizadas, passou, cnlao. a ser adotada pelo Poder Público, mediante variados processos de coparticipação público-privada. modalidade instrumendo Estado não foi favoacolhimento.
recida com o mesmo todos os países civilizados, manifestou inicialdiante da
em A França nao
● V;,. his,,fr o d;i J.'.
● u-i ●Ulp;,. <il* H- I;, , A sociedade comercial, que já se havia revelado um importante ins trumento na expansao da economia particular, quer pelas pos.sil)ilÍdades de aglutinação de pequenas par celas de capital, quer pedas nova.s e de racio- técnicas de organizaçao
‘ Itip 11 ,. *^‘ssur 'ciil
I; “Ao aparecei-, a soci(.●(^;u^^. noniia mista coiujuistou s ^ gerais. Via-.se iml;, um eoi’,-''*^’^' liz à gestão puramenie dos partic-iilai es e à gestão pelo Eslacicj. das emprOs:,j. resso gci-L-l. Eouvava-so KUo mula porque cia permiti, íór' a cada um dêsses sistema^ l-o
‘Uas o feb-i o íU
ndo^ mente maior inovação que, num pais a Alemanha. - lograra
entusiasmo ís a satisfaiemios, a Cícononiia veria ccrlaiTu.-nte c-on.siitu çáo ideal.
absíj vizinho êxito inir vulgar.
.'qu Nãü ch a linha cie bom. economia privada nem resultados pública, soiu.
Os países damente a Inglatena e os Unidos, foram também insensíveis advento das mixed-corporaíions.
de língua inglesa, notaEstados ao
Embora variando o grau de recep tividade das sociedades de economia mista nos diversos países, a verda de é que 0 instituto se foi impondo e generalizando, sendo hoje conhe cido e praticado em quase todos os países civilizados.
As características dominantes da sociedade de economia mista são as seguintes:
a Hoje, ôste cntusiasi-no jú atenuado; a economia seu apogeu c tende a mis eode
a outros modo.'^ do utili Estado, da.s sociodade.s
^.Slí‘ bom ‘‘tingi . lugar Pelo toinoi-fi
i;I u r -Ciais
tai.s como a sociedade públi,£Ó membro e a sociedade de jurídicas de direito público do uma evolução que ficou trada pelas cifiais citadj
no
, ca de uni pessoas segundemonscapítulo precedente, seja na Alemanha seja na Suíça.
Que pensar desta aliança, à pri-
tá f>i/;rnTn fTc í*Sc» MU
J
meira vi.sta .sedutora, entre o Esta do o os iDarticulares?

Ela poderia prestar, cm certos <*asos, serviços incontestáveis. Ela permitiría ao E.-^tado. em particular. beni'ficiar-.se na exploração tle seii.< .-íciAUços públicos, de tõdas cs \*anlagens da concentração econômica. Certas atividades, com efeito, não são rendo.sas senão quando se es tendem a um grande território: elas exigem, nesses casos, a constituição do grandes empresas e a acuimilaçao de importantes cepilais que uma corporação pública ó, muitas vezes, incapaz de fornecer só com seus re cursos. Se, por motivos de rivali dade ou desontcndiniento por exem])lo, a aliança com outras corpora ções públicas ó impossível, torna-sc necessário fazer apêlo piàvedos.
segurarão bons dividendos e pro cura fixar o preço de venda mais alto que a concorrência permita, se ela existir. O Estado, ao contrário, intervém com a intenção de sal vaguardar o inlcrêsse geral, seja o dos consumidores ou o dos utentes; êle se esforça, então, pera manter o preço de venda em níveis baixos. Nasce, assim, entre os dois grupos de associados, um conflito irredutí vel, no qual um dêles será inevita velmente a vitima. Nesse caso ou
aos capitais
tão ser serviço público vada, com todos os perigos que ela comporta para o interôsse geral, e a economia mista.
Na nossa
Duas soluções podem cnencaradas: a concessão do a uma cmpre.sa priopinião, entretanto
, e a experiência o demonstrou, esta associação entre o Estado e particulares não pode, senão excepcionalmente, conduzir a bons resul tados.
os Uma associação não benefi cia, com efeito, a todos os associa dos senão quando êles visem a um fim comum, ou, pelo menos, a fins análogos, excluída a oposição entre uns e outros. Ora, em uma emprê sa de economia mista, os fins visa dos pelo Estado e pelos particuladiametralmente opostos; eles se excluem reciprocamente. O capitalista particular não tem em vista senão seu interesse pessoal; êle quer lucros elevados que lhe as-
res sao
conos assim, A emprêsa
um monstro
são os particulares que empolgam a direção, e a empresa passa a ser dirigida com fim lucrativo, como uma empresa privada ou o Estado tem êxito cm fazer prevalecer o ponto de vista favorável à comuni dade, e nessa hipótese são então os particulares que não alcançam os proveitos que tiveram em vista ao investirem o.s seus capitais. Se as íôrças desses dois grupos de asso ciados mais ou menos se equilibram, a oposição de interesse subsiste e surge o risco de sua repercussão so bre a direção da empresa, de sequências sempre lamentáveis; conflitos se repetem continuamente e são resolvidos ora num sentido, ora noutro, comprometendo, a unidade da direção, passa a ser, então, um corpo com duas cabeças, ou, para usar uma ex pressão de FAYOL, que não vale a pena viver”.
De onde provém, então, o grande favor que conheceu a economia mis ta em certos países?
_I ●V
35 DroKSTo Ecosónoco
■ _K
Explica-se, U
'4 J *_i
primeiro, o seu suces
so, por motivos históricos; de comêço, o Estado julgou conveniente não utilizar as sociedades para a exploração de seus comerciais serviços
públicos senão em colaboração com a iniciativa privada, cujas experiên cias lhe seriam, pensava êle, úteis. Acrescente-se a isso, para a Alema nha, sobretudo, uma razão política: numerosas corporações públicas, de sejosas de dissimular suas tendên cias socializantes, viram na econo mia mista um maravilhoso camouflage.
pos para a OQuisição da «lireção da emprêsa, nos .‘■eguinle.. lêrmos:
proces.so E chegaram a tode empresas e ao fato de que uma parte ações continuava a ser co
mar a direção efetiva de Çjue conservavam seu aspecto privae não deixavam suspeitar da presença do Estado, graças à sua es trutura de suas
tada na Bólsa e a constituir, me.smo, objeto de transações, tigio da economia mista: ela permi tia ao Estado estender mente sua participação sas privadas, preparando o caminho para a socialização completa. O ape lido de “kalte Sozialieserung", teve na Alemanha esta nova fórmu la econômica, dá idéia do- seu con teúdo socializante. economia mista, porém, é arma de dois gumes, que, não utilizada com prudência e precaução, deixa mar gem ao risco de produzir resultados completamente opostos aos que são visados”. (1)
Daí o presprogressivanas emprôque A sociedade de
“Ao ler os estatutos rle alr.unias sociedades mistas, exposições d<* nham sua criação, sao de Cjue estas a; soas jurídicas d<r ÍEstado ou comunas) com tais e as atividades privadas, estão assentadas sólire um elemen to absolutamente indispen.sável. é a confiança reciproca animar os associados. Ao contrário cada parle se aproxima da outr-j com o espírito repleto de segundas intenções ou reticências. O as.socia do privado se reserva o direito d(» gerir à sua maneira os negócios muns ou de fazer reembolsar ações se a emprêsa não vai contento.
1'ídica de direito público, tom
as acompa pesdireití) jiúblioo o.s capinao (JUf que deve Cüsuas ^ ^ seu O associado, pessoa i JUuma
ao percínrer mr)tivfis <jUf recM-bi a impic.><sociações <lt>
procauçao quase universal, que ' regulamentar com cuidado o proces so de resgate da emprêsa quando lhe interessar. Uma das parles tcni necessidade dos capitais e da \ fluência da outra; e esta, do mesmo modo, dos capitais e da experiên cia industrial e comercial daquela. Mas, para ambas, a união que trataram se apresenta como cialmente transitória”. (2)
inconessenAs críticas contemporâneamente fonnuladas à sociedade de mista representam os resultados dos lesls a que esse tipo de emprêsa foi submetido, nos diversos países que mais amplamente o utilizaram.
economia o
ROGER KAEPPELIN ressalta espírito de luta entre os dois gru-
(b IIENHI ZWAI-TLEN. commcrciaJes "Dos soclétés participation rEtat”, Lausana. 103S, páa. «z. do avec 569.
que eco-
RAYMOND RACINE, na sua mo nografia “Au Service des Nacionalisations — L’entreprise privéo”, faz referência à incompatibilidade pode surgir, nas sociedades de nomia mista, entre o interesse públi-
(2) nOGER KAEPPELIN, dit "d'éeonomio mlxto" pubiiciucs d’écon. polit.'', 1920, páginas 568-
Le syslème flana Ica entreAllemagne", en na prisos *'RCV.

JJ6 DtCESTO Kco.vòmicf »
i
I
co e o interês.vo privrdo, citando o caso clássico das “Salinas Heunidas do Reno" (págs. :ií)í)-'.100>.
BRUNO A.se ll afirma que ó ca em tò.ia empic.'ía mista raclei í>tico a luta inli-rna entre o intí-rêsso prinoder núblico. (3) vado e o
ciar
xibilidade técnica e ao
GIRON TENA eícrevc: sociedade de economia mista à apresentada como o meio de asso as prerrogativas públicas à ílcespiritü de iniciativa particular ou exclusivamente para utilizar mercial.
“Do ponto dc vista purmncnte teórico, não comoguimos encontrar motivos poderosos para que nos in clinemos com entusiasmo para as empresas mistas. Em primeiro lu gar. porque, ainda que os detalhes pos.‘iam diferir segundo cada caso, ainda, como princípio geral interèfso público re>ta inevitável, que o
ou o interêsse privado deve, em úli-nálisc, ter uma voz prepon derante na gestão de uma empresa a não scr que a representa-
certos perigos: assim, no questioná rio da Conferência de Antuérpia da União Internacional dc Cidades, fazia-sc referência à seguinte obje
ção: as coletividades públicas, ao recorrerem aos capitais privados, podem cair sob o contrôle do gru pos financeiros nacionais ou estran geiros, cuja atividade não colimará o interêsse público. O dano 6 especialmenlo grande, quando se trata dc empresas de interesso ge ral para o pais”. (4)
BATSON, autor da segunda “te se” inglesa à Conferência de An tuérpia, formula claramente a obfundamental ao sistema da
o espirito coMas, neste ponto, existem jeçao
sociedade de economia mista, basea da na oposição — segundo êle ine vitável — emre o interêsse público e o privado.
Eis como se expressa:
(3) In “Rcgiebetricbe der Gemeinden", publicado r>or Verband der Gemeinde und Saa sabeiter. Berlim, 1927 pág. *13 (acolhi da na tese n!em.'í A ConfcrCnciu de An tuérpia) (Apud JOSÉ GIRON TENA. “Las Sociedades de Economia Mixta”, Ma dri, 1942, pág. 117).
tima mista, ção seja tão exatamente equilibrada, que tòdas as questões controverti das cheguem a um ponto morto”. Acrescenta ainda que, segundo per tença a voz preponderante a um ou outro, SC tem gestão privada con trolada ou geftão pública, no que. concerne a vantagens e nienfes”. (5)
Cuiticando a solução da sociedade de economia mista, escreve JOHN THURSTON:
“Há uma oposição fundamental entre o conceito de uma emprêsa privada organizada para proporcio nar lucros aos seus acionistas e a emprêsa governamental criada pai*a prestar serviço. Qualquer tentati va para combiná-las, em nossos dias, quando os direitos de propiáedade estão sendo amplamente desafiados, provavelmente resultará num con flito de interesses que produzirá re sultados indesejáveis”.
Quando uma emprêsa é utilizada para executar um pi'ograma gover namental controvertido, como no caso da Tennessee Valley Authori-
(4) JOSIL GIRON TENA. de Econc:;i..u Mixta”, pág. 124.
"Las SociedaMadri, 1942, doB

S7 Dicesto EcoKósnco
“A
meonve-
1
(5) Apud JOSÉ GIRON TICNA, "noB .So» (ciedades de lEcononiia Mixta”, Madxi, 1942. pág. 130.
í
ty, a sociedade mista parece defini tivamente fora de cocitacâo”. (0)
O Prof. MAUUICK RYft, Ilo seu
trabalho sobre “O conflito das ten dências na organização do solor pú blico”, gos da economia mista com estas palavras:
procura demonstrar os peri-
“É muito desigual a partilha en tre o interésse público indissolúvel mente vinculado ao negócio c os interesses privados que podem, a qualquer momento, por uma sim ples operação de bolsa, cvadir-sc.
Uma posição minoritária dá ao Es tado, sem dúvida, o direito do acompanhar a vida da omprésa, mas o obriga a suportar riscos que êlc será impotente para evitar.
Uma posição majoritária, .se se trata de um serviço público, possi bilita o nascimento de um dissídio irremediável entre a minoria que busca o lucro e a maioria que visa ao interesse público.
Se se trata, ao contrário, de “ser viço privado”, do qual o Estado pos sa esperar vantagens econômicas, há o perigo de que èle abuse de suas prerrogativas em proveito dos acio nistas particulares, encontrando nas facilidades oferecidas pela socieda de de economia mista um convite perigoso à ubiquidade financei ra”. (7)
Através dessas objeções emana das de especialistas que, em dife-
(6) JOHN THURSTON. Government Proprietary Corporations in the EnglishSioeaking Countries”, Harvarcl University Press 1937, pág. 274.
rentes p: ísos. ;icomp.'inl>arnm íi evo lução (ias wnpiê;;;e Mídamn:'' a (●oÍMcidênf;a de utna aiKtnção fun damental contra ê se sistema: conflito in filúvel entre o inten‘sse particular e o ínteiésf.u i>úhhe

n.
mistn sifiiulláneamente eoni ; s déncia;-? soci.-lizantes que lêin dominado a partir da primeir; ra mundial influiu I g ueracen tuad ainentc para (}ue novo.s tipo.s de sas surgis.^-cm, cruno lócnic; cmpiê, , mais ad(.*quí.'das ao exercício díis alividdos inclu.stiiais c comerciais <1q pj. lado.
tenpre-
Essa evolução pode .ser «urpix>en dida, do modo oxpre.ssivo, na Ji' . íória da sociedade de economia m'^' ta na Alemanha, que descreve v ^ * dadeira parábola. '
tígio, atingindo o ponto mais começa a declinar, ciando lugar aparecimento das modalidadi»o\ modernas de empresas PÚblieas Acompanhemos, através da' de ZWAPILEN, a evolução das prêsas mistas naquele país:
presídto ao obra cm« PUÍ.S econoscguida
“A Alemanha é tida como onde surgiu a sociedade do mia mista, no princípio do século XX, dosenvolvendo-se em com extrema rapidez.
, (Sabemos, não obstante, , QPe an¬ teriormente a essa epoca existiram, em diversos pai.ses, exemplos isola dos de sociedades comerciais dc que participaram coletividades públicas).
O movimento começou no plano municipal, no setor da produção e da distribuição de eletricidade para tôda a região rcno-vestfaliana.
A emprêsa organizada para esse
I
Di(;f*,sTo 38
o
I
\
A vtTificaçáo dó; SC defeito insa* nav('l das sfjciedades de e(“oivvjnia I-
A linha ascendente do sou
k
(7) "Les nationalisations en France et à 1’etranger”, publióes sous la direction de L. JULLIOT DE LA MORANDIÈRE et MAURICE BYÉ, Recueil Sirey, 1948. pág. 5.
a Rhein-Wefltphalisehc EU-k-
fim triziliitswerUe A. G. (lí. W. K.) — ela st' teiivlo teve uratiíU' suer^so. a associado a maioria das eomunas da
rejíiao. da .sua tl-iveae.
(jUe p;issaram a parlieipar
Ü exemplo tia H. W. K. foi se.cuisendo utiliza- tio j)or outras rt'í4ioes.
também n:ira a exeeuçao de outros .'●(‘iviços públicos, tais como o.s de disli ihuiça > de á.eua e dc .Cas às cidades, os tle transporte eoleti-
do vo e os de eiitrejiostos.
Os ca.^os tle intervenção do Eslaeomereiais foram
do nas st»eiedades sensivelmenic ampliado.^ na Alema¬ nha, no ijeriotk) anterior a primei ra guerra mundial, por uma genertilizada colaboração da iniciativa privada com .as comunas.
Esta evolução prosseguiu accleradamenle: as comunas procurarem, desde logo c de modo geral, aumen tar a sua participação c adquirir a maioria do capital, a fim de poder exercer controle mais cficEZ.
Sua política não parece ter tido como objetivo essencial a obtenção de dividendos, mas o dc exercer sua influencia no sentido dc servir, so bretudo, aos interèsses da comuni dade, mediante o controle das em presas cujas atividades eram con sideradas como verdadeiro serviço público.
Algumas cifras de SCHMELCHER darão uma idéia do desenvolvimen to da economia mista na Alemanha antes da guerra: calcula-se que, em 1914, 75 cidades alemãs estavam in teressadas cm 95 empresas dc eco nomia mista, eom um capital de 126 milhões de marcos, nos domí nios da eletricidade, gás e bondes.

A guerra favoreceu o desenvolvi-
monto dossaí forntns cie orRanizacao tios sorvidos públicos. Estenden do o oampo cirs atividades cio Esta do. ela levou o Keieh e os Estados a se utilizarem também dessa nova mstiiuieào. Nao se podendo dispen sar eompletamente a experiência o a or^anizaçao privada, èles frequen temente recorreram à economia mista prra a constituição de seus ■■Kriejisjicscllsehalton
Após a iiueira. u nmvimcnto se acentua mais sob a influência das lemiêneias socialistas que encontra ram sua expressão no art. 156 da Con.slituiçãü dc Wcimar o nas leis de soeirlização de 1919 e partir dessa época, a economia’'nüSta evoluiu no sentido dc que as co letividades públicas íoram alcan çando cada vez mais iiuportância, em cletrimcniü dos acionistas priva-' dos: ceminhava-se para as socieda des de pessoas jurídicas de direito público e para a sociedade pública, dc um .só membro.
Èsse movimento tomou ràpidamente uma grande extensão e não tardou a se estender bem além da exploração dos serviços públicos. O Rcich o os Eftados alemães utiliza¬ ram, cada vez mais, essas fórmulas novas para dissimular, sob a másca ra de organização com aparência privada, uma socialização crescente da produção.
N -se de uma sociedade anônima com ca pital de 600 milhões de marcos, na qual o Reicii era o único acionista.
a “VereiBeiiin” (VIAG); tratava s dkÍB
S9 DicrsTO F!coN*(S>nco
>
V
■j
)
1
\
Êsse processo, que recebeu a de signação de "kalte Sozialicserung’’, era já muito avançado em 1923, épo ca na qual foi fundada ninte — Industrieuntcrnehmungen A. G.
Juridicomente, era uma sociedade pública com um só membro (“üffentlichc Eimann^osellscluíft”;; íim
sas econômicas. Em 1925 ela esta va interessado, com mais dc 200 mi lhões de marcos, em .‘●ociedades de tódas as espécies; por seu intermé dio, o Reich chegou a tornar-se nhor de grandes Irusls indu.striais alemães, teis como o Elektrogruppe, o Sticksloífgruppe, o Aluminiumgruppe, 0 Margarinegruppe, etc.

Duas cifras, empreitadas de ELSAS, darão, enfim, uma idéia da importância do movimento que aca bamos de assinalar. No fim de 1929, havia na Alemanha CG sociedades anônimas cujo capital ultrapassava de 50 milhões de marcos; dessas CG sociedades, 10 eram empresas públi cas (todos os sócios eram entidades públicas) c 5 eram empreses do eco nomia mista. Essas cifras têm du pla significação: de uma parte, mos tram a que ponto o Estado tem mul tiplicado sua intervenção direta nas sociedades comerciais; de outra parte, revelam a tendência ao desa parecimento da economia mista e a progressiva utilização de outras técnicas de organização dc socieda des comerciais pelo Estado.
Se nos detivermos um pouco no exemplo da Alemanha, veremos que ele nos mostra, melhor que quais quer outros, a maneira pela qual fo ram sucGssivamente surgindo as formas novas de organização dos serviços públicos de que nos ocupaO exame desses fatos nos con-
reu era a pírlicipaçao em empréso¬ mos.
duzirá às seguintes verificações;
1.^) Foram as corporações públi cas inferiores, isto é, as comunas, que recorreram, em primeiro lugar,
ã Utilização dc .‘●ocicrladcs ciais para a cxploi; ça') d públicos. E pi < í'i; o plií-ar é; SC ícnómcn meira guena a.s comunas lorarn qucntcmcnlt? (●hama(^a^■. diretam<uUc na vida que a.s importantes, Reich.
qn'’. au- a prU mundi.-.l p. lo menos, nuiit > mau írointervir
«‘fnnomica do eoipoiaçnes públicas como os Kstad mais os e o s pouco satisfatórias. . . Qç sclvaguarcla dos inlcrêssea cxigi.sse uma intervenção pareceu indicado rccorrer-so ’ ^ ciativa privada c colaborar com Esta colaboração conduziu ao senvülvimento da economia m *^^' Êsse sistema, entretanto, muito cedo, graves defeitos: po^ lado, as corporações públicas tinham recorrido a cia não la ram a perceber que o sucosso empresas privadas cra deviUo principias de org£'nÍZílção í[q
2.“) Uas três instituições que rons_ lituem íjbjeto de iiossí; (●sUuIo, a om prê.sa de economia mista aparcecí' em primeiro lugar. Abandun-,(j.j, si mciinas, as comunas haviam to, no dominio econômico evi^rw ● ' '-●'PCI icnCia
Jho, que cias poderinm aplicar sòz^' nha.s, sem a colaboração da iniciati^ va privada. Elas procuraram livrar-se desta última, e
comere serviços para txontão 2 oeonomia
mista, detida cm sua ovoluçào deu lugar à sociedade do pessoas jurí dicas de direito público c à socieda de pública cie um só membro, que excluem tôda ingerência privada.
3.*^) Do inicio, o Estado não recor-rcu a essas instituições noves senão para o fim de explorar, de maneira mais adequada ao interesse geral, seus serviços públicos econômicos.
myã jp Oicr^TO HcosAmico n 40 >
C; t 4
*
Depois, ele as utilizou com a inten ção d(* realizar uma socializrçào progressiva ila produção, c se hou ve tão bem cpu*. finalmente, a más cara da sociedade comercial da apa rência privada perniitiu à Alema nha empreender, sem que o gran de público disso suspeitasse, um movimento de socialização cia mais alta <.‘nvergadura”. (8)
Tendo exposto as diversas etapas da evolução das formas de execução dos serviç(ís industriais do Estado na Alemanha, cumpre-nos advertir, mais uma vez, cjuc seu curso histó rico não foi o mesmo cm todos os países.
De modo geral c para fins didá ticos podemos estabelecer que, his toricamente, a primeira forma do execução de serviços industriais do Estado foi o da concessão de servi ço público, vindo depois a socieda de ele economia mista, para, afinal, surgir a empresa pública.
Devemos, entretanto, insistir cm que a evolução dos institutos não se operou sempre o cm tôda parte, com essa precisa sucessividade. O que cumpre examinar, dada n diversi dade do seu ritmo evolutivo, c a história administrativa de cada país.

Sc estudarmos o advento da rociedade mista c o dos noVos tipos de empresas públicas na Alemanha, França, Itália, Inglaterra e Estados Unidos, verificaremos que existem diferenças sensíveis na época do aparecimento e na utilização dêsses processos ou técnicas de organiza ção do empresas do Estado.
j-Iá países, como os Estados Uni-
dos c a Inglaterra, que, pràxlcamontc, nunca acolheram a sociedade de economia mista. Êles foram, de cer ta maneira, os precursores das cmpròsas ^ública.s, que só agora vêm sendo criadas na Itália e na FranA Alemanha, por outro lado, riesde o momento cm que a socie dade mista começou a revelar seus defeitos, pelo conflito do interôsses públicos c particulares, passou a uti lizar-se da empreso pública para realizar uma política do socializa-
ça.
çao.
A Alemanha, através da empre sa pública, isto é, da sociedade anô nima, de que eram acionistas várias ou apenas uma entidade pública, empreendeu a dominrção de vários e importantes setores da produção daquele país.
A propósito, convém assinalar o contraste considerável que há entre as técnicas de combate à domina ção econômica dos grupos, adotadas nos Estados Unidos e na Alemanha. Enqurnto nos Estados Unidos o combate ao monopólio e ao irust 6 feito pela legislação antilrusi, na Alemanha o govôrno procura influir nos Irusls c nos monopólios, me diante sua participação nas empre sas que os executam. Êsses proces sos de contrôlc da economia são profundamente diferentes, significando um 2 luta entre o Estado e os irusís, no regime capitalista, e o outro a penetração do Estado nos setores principais da produção, em regime do tendência socialista.
O Brasil adotou, inicialmente, sistema de concessões de serviço pú blico, e, numa segunda fase, passou a utilizar-se, smiultâneamcnte com
o
41 Dicfsto EcoNÓ.vnco
(8) HENRI ZWAHLEN, “Des Bociétés commcvciales avec participation de l'Etaf'. Lausana, 1935. pág. 43.
aquela, do das sociedades de econo mia mista.
Ainda não atingimos, porém, a terceira etapa evolutiva, que será a da empresa pública.
Daí a rízüo pela qual procuramos acentuar, no titulo da nossa pales tra, a modernidade dés.=e tipo de empresas para o nosso país.
Com efeito, ainda não criamos nenhuma empresa pública nos mol des das sociedades alernàs de um só membro ou das de pessoas pública.s, isto é, das empresas que têm como acionista ou acionistas, exclusiva mente, entidades públicas.
Um estudo cuidadoso, entretanto, talvez po.ssa identificar em cortas entidades presentemente conceitua das como autarquias econômicas as Caixas Econômicas Federais Estaduais, por exemplo, — muitos pontos de contato com as empresas públicas.
e
Na recente criação do Banco Na cional de Desenvolvimento Econó-
concerne çao e ao pessoa), à ás tr; nsaçóes, t administra«lúvidas <->:tfnsão eve quanto à jundicidade da do amparo da legislação tranalluslc íifjs .v( us empregados e o J)roj)osta do K.xeeuli\'o.

naí> acolheu
f-sse, j)oj- sua vez, razoes nao .soube deejue o sí-u ponto de vista It-d, foi, afinal, de.'prezado, nifesta ílesvanlagí.*m para
C.'S gü-
monslrar vani jusiificaque, na maa eficiên cia da goslao da nova emprêsa vernamental.
A meis importante tentativa de criação de uma emprêsa pública en tre nós, foi a que resultou do subs titutivo apresentado pela União De mocrática Nacional ao projeto rP. Pcüübrás.
Por ê.sse .substitutivo r do o monopólio estatal d .sendo que
instituipetróleo, a sua pesquisa, cxplor çao e refinação seria exercick Emprêsa Nacional du
a‘ pela Pelróle (ENAPE), que estava moldada nos melhores exemplos dc cMnprêsus públicas, pela adoção da íloxibilidade 0 de tòclas as demais técnicas das empresas privadas.
u mico poderiamos ter inaugurado o sistema de emprêsas públicas, pois que o objetivo do Governo era o de constituir um Banco que, embora de propriedade exclusiva da União, tivesse as características funcionais dos bancos privados.
Pretendia também o Governo que
os empregados do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico ti vessem sues situações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho.
O legislador, porém, inadvertido de que por via da emprêsa pública poderia imprimir a êsse Banco a forma dos bancos privados, no que
OS MODERNOS TIPOS DE EMPRESAS PÜBLICAS
Antes de iniciar a exposição das características das empresas púbiica.s, desejamos fazer algumas obser vações a respeito da terminologia técnica adotada pelos diversos tores.
au-
O Prof. EDGARD MILPIAUD, nos seus valiosos trabalhos acerca da matéria, designa as emprêsas pú blicas como “comunidades de ser-
42 l)lCK5Tr> líCONÓNflCO
viço.s” por oposiçtão às “comunidades dc interesses capitalistas”. (9)
monografia “Les Librairie
várias cipam, com exclusividade, entidades públicas.
15)48. adota na
O Dr. CIAHT IREN, em sua Communautês de rayot. Lausna dci'u.niina(;ão dc
milhau.o.
Nos países de língua inglesa sâo elas chamadas “govcrnment Corpo ration”. “govcrnment proprictary corporations”, “public enterprise ou “public Corporation”
Service . “Le socialismo condireito pú■i ,1
THURSTON. “Government Proprietary Corporations in the EnglishSpoaking Counirie.s”. Ilarvard University Pres.s
DIARMID. “Government Corporation.s and Federal Funds”, The Uni1938; W.
(JOHN 1937: JOHN MC versity of Chicago Press,
A. RORSON. “British Public Cor“Harvard Law Re- poration.s”. in “régies coopera ti ves”.
RAYMOND RACINE c adotam n titulo genérico dc nariado público” mistas para as em públicas c
“L’Actionariat RACINE.
.1
1
1
view”. 1950. págs.
1.329-1.331; W.
Thòsc, Universilé de Géncve, 1947).

Essa expressão “acionariado pú blico” é corrente no estudo do tema.
Por ela se procura caracterizar a posição do Estado como acionista c como controlador de emprêsas co merciais ou industriais.
denominar só membro um
Os alemães preferem geralmenie “sociedade pública de as sociedades anó-
outros “aciü- 1 presas (RAYMOND Public”.
A. ROBSON, “Public Enterprise”, Londres, 1937: “National Enterprise. The Dcvelopment of tho Public Corporation”, Vitor Gollrncz Ltda., Londres, 1946).
ERNEST DAVIES,
Na Itália os nomes usados são os dc “sociedade comercial pública” e de “empresa pública” (GIUSEPPINO TREVES, “Lo Imprese Pubblichc". G. Giappichclli, Turim, 1950; ARENA, “Lg società comerciali pubbliche". Milão, 1942; ACCARDO. “Imprese pubbliche”, in "Nuor vo Digesto Italiano”, vol. VI, pág. 840).
J
U
Na França, as denominações que estão sendo usadas para as novas modalidades de empresas públicas são as de “établissements nationaux”, de “sociétés nationales” e de entreprise publique” (L. JULLIOT DE LA MORANDIÈRE et MAURICE BYÉ, “Les Nationalisations en France ct à L’Etranger”, Recueil Sirey, 1948, pág. 18).
1 ■?
V- .1 H
43 Diokãto EroNÓNnco V
n
N.']
EMILK VANDFRVELDE. na sua obra intitulada li-c rElat”. Paris, 15)18. prefere cha má-las “sociedades de
blico”.
BERNARn LAVERGNE. no seu Coopera tive” (Paris, denominação dc livro “Ordre 1926). opta pela
Naturalmcnie nessa expressão es tão compreendidas tanto a socieda de mista, como as chamadas empre sas públicas.
A diversidade das denominações do novo instituto constitui uma do-
nimas que tem como único acionis ta o Poder Público e “sociedade de pessoas públicas” as de que parti-
(9) EDGARD MILHAUD. "Lcs rógios et icur evolution”. “Annales de la régie directe”. 1918. página 43; idem. "Concentration ct comnminauté d’intcrêt dans 1’cconomie collective”, Publication de la Faculto des Sciences Economiques et Sociales de 1’Université dc Genève, 1943, vol. III- 90.
Z
cumentação expressiva de como vai desenvolvendo o trabalho de criação dêsse novo instrumento locado à disposição do Estado, ra a execução das sues tarefas de caráter econômico e industrial.
Os políticos, os juristas e os ccoà moldagcm empresas com ampla liquer no que concerne à
se copanomistas dedicam-se das novas berdade,
sua denominação, quer no que diz respeito à sua estrutura.
Na impossibilidade de estudar nesta oportunidade as origens das modernas empresas públicas, dese jamos acentuar que os fatores de terminantes de sua cricçao nao sao
os mesmos em todos os países.
1.*^) adota a forma dns emprfísas comerciais comuns (sociedade por ações, sociedade de de limitada) ou rcívdje <\<} legi- lador estruturação e.-pecifica;
2.*‘) a propriedade c a direção sâo cxclusivamente
:í.^) térn de direito privado.
re: jinn.^ahilida> governamentais; personalidade jurídica
CARACTERÍSTICAS internas DA EMFRÊSA I^ÚBLICA
Dessas características decorrem as internas, que externas são as que tornam a empresa pública i-n instrumento apto e eficaz para a execução dos encargos econômicos industriais ou comerciais do Estado*
nno seu aparcei-
IJá^ vimos que, na Alemanha, a tendência à socialização exerceu ’ fluência decisiva mento.
Ao adotar, para as empresas pú blicas, as técnicas e os processos empresas privadas, o Estado i porou a êste novo órgão de atividades todas as
das incorsuas
Nos Estados Unidos, os períodos de crise, as duas guerras mundiais, e a depressão de 1929 foram respon , , - ,^'«rUagcns da admmistraçao particular, dontr quais devemos destacar, relevantes:
c as como mais sáveis pela ampliação do seu nú mero.
Na Inglaterra, o Usocialismo mu nicipal” desenvolveu-se amplamen te, por motivo de conveniência prá tica, no curso dos últimos oitenta
Completa autonomia técnica e administrativa;
2.^) capitalização inicial;
recorrer a h
constitui a VI-
anos, enquanto que a tendência pa ra a socialização, em escala nacio nal, de certos serviços públicos e de determinadas indústrias, um desenvolvimento mais recente, acentuado sobremaneira com tória dos trabalhistas.
3.^) possibilidade de empréstimos bancários;
4.^) possibilidade de reter os lu cros para ampliar o capital dc giro e constituir reservas;

pesas;
6.^) flexibilidade e rapidez de açao;
7.®-) capacidade para acionar e ser acionada;
regime de pessoal idêntico ao das emprcias privadas.
Çr 5i ik í .‘) *,
Expostas sucintamente as princi- ' ‘ pais características dêsse moderno )
-r~ _1 DICKSTO FfOVÓMlCO 44
►
l r . í'
5.^) liberdade, em matéria de des-
CARACTERÍSTICAS EXTERNAS DA EMPRÊSA PÚBLICA
As características externas da emprêsa pública podem ser assim resumidas:
palavras com que
instrumento de Govèrno, aperfei çoado pela técnica jurídica, deseja mos rei-nrdar as MC DIAHMID saúda ») seu advento.
nómico à inevitàvelniente ineficien te". (10)
Ai tendes, nesse esboço imperfei to, o perfil da empresa pública.
7.ona c-in?;i.-nta da faixa fronGovèrno c c.s como entidade hia «. injjiesa })ública.

O recente reconhecimento^ sua.s vantagens para a execução de governamentais significativo
●●Da leiriça ejue separa o negocjos surgiu, briíla das atividades certas jírogressü um atlministraçao pública. na arte da marea
Não nos ò possível, nos estreitos limites desta palestra, estudar deti damente os. seus aspectos jurídicos, financeiros, econômicos, sociais e políticos.
Nem foi 6ssc o nosso objetivo.
Ao escolher esse tema para cons tituir objeto da nossa palestra, bem sabíamos que somente poderiamos aflorá-lo.
Com efeito, a empresa prc.senta uma réplica à que o Govèrno é tão dcficienlcmciite organizado e tão rigidamente bua exploração polo rocratizadu ejue Estado de um empreendimento cco-
pública reacusaçao dc'
Fomos, entretanto, levados a pre feri-lo. pela sua atualidade e im portância.
45 DiCESTo Eco^●ô^^co
(10) JOHN MC DIARMID. ●'Government Corpoiations and Federal Funds”, The University o£ Chicago Press. 1938, pág. 209.
/●
c
Os prrandes problemas urbanísticos de São Paulo 0
Fiíancisco FnF.STKs Maia
— III
SISTEMA VIÁRIO
As cidades apresentam semelhan ça com os seres vivos: têm sua cons tituição orgânica, representada pe lo zoneamento; tém um sistema ar terial, que é a réde viária; tema de evacuação, isto é, os ser viços de esgotos e lixo; possuem até um sistema nervoso (correios, telé grafos, telefones, rádio, etc.)
urbanistas literatos podem levar paralelo a extremas minúcias.

O que essencialmente define as aglomerações humanas é o zoneamento. Mas, por sua vez o que as
suas partes e concorre para a orga nização geral, é o sistema viário, isto é, a rêde das artérias, ruas ou logradouros públicos. Êste sistema inclui, sob o ponto de vista do pla no, a estruturação, que nos ocupa, u as estradas de ferro e de rodagem.
r
1
A consideração dt> sistema viário é assim fundamental em urbanismo. Importa acentuá-lo numa época em que, embora por ótimas razões, mas também às vêzes apenas por afe tação, costuma-se enviezar demais 0 leme municipal no sentido de em preendimentos e serviços doutro gê nero mais em moda social ou elei toralmente. Mas o melhor cérebro deixa de funcionar quando se ma nifestam escleroses, embolias ou de-
ficiéncias graves ria circuirc: cidades çao. Nas nao sucede diferentemente. A evolução do sistema viário na.-^ cidades só pode ser !)em apreciada remonlando-se aos tempos antigos, quando as ruas se resumiam quase a vielas de acesso às casas o mediam apenas alguns metros d(‘ largura O mau calçamento, as calhas deVeo bertas de esgòto, as poldras. a irre gularidade dos alinhrmcntos, tornavam-nas impraticáveis aos carros Algumas ruas principais. Prolongo' mentos das estradas externas ou 1 gaçoes das portas da cidade, ont * si, orem um pouco mais 3argàs' vêzcs ladeavam-nas pórticos lunatas. A avenida As OU comonumental
r?
tros de secçao. A trama rotangul dos castros e das cidades r gregas era regularmente
ar omanas q goométri
ca, mas nao mais generosa mensionamento das artérias.
Idade Média predominaram ruamentos espontâneos o Na s ar^i’rcgulares. Isso e a compressão das lhas conduziram a redes mura● , . ^*JÍto pi¬ torescas, mas ainda piores sob ponto de vista circulatório. o
começa no A transformação dos amor concorreu novos
it' f* >■ i: ü 1-
Estilo em quo classificare-
í
v~ j }■
um sisc os o -I
I f
. estrutura e lhes permite funcionar, o que interliga materialmente asPalmira, que deixou fama guidade, não media mais na anti-
no cli-
Grande mudança só renascimento, processos de guerra, o autocratismo. fantasias sociais e “utopias”, senti mentos de ai’te, geometrismo, às “perspectivas”, tudo para impelir o urbanismo em rumo.s.
çào íntima com o zoncamonto, com B organização da cidado e mesmo com planos futuros. Pode e deve haver bairros residenciais mais sejiregados do movimento geral, sos segados c rprazíveis. dem ser mais estreitas, curvas e emculs-de-sac são admisEm
Suas ruas popinadas, c os síveis até recomendáveis, e
tanto plano de Hurnham para a mesma cidade.
moF Sixio V c Fontana nos melho ramentos de Homa (1G85); o plano Wren incêndio (h* KUJd; de Londres, consequente ao a escola francesa Luís XIV, Napoleão demarcaila por e finalnuoiU- Napolcao HL o Ring a fumlaçao Fecham o <le Washing- vienense; lon: etc. periodo ainíla l»iandos emprci.‘ndimentos c plano^. de Chicago, que como a exposição tornam-sc indispen- contraposição, sáveis grandes artérias para tráfego rápido e principal, amplas, retas ou de grandes rcios, com dcclividades reduzidas, segura visibilidade e sem cruzamentos de nível, ntc mencionamos feituras típipois na prática poderá haver intermediários, adaptações e
nal, enimou concedeu maior tos sociais, em educação e recreio,
influiu nos Estados Unidos, e o trouxe mais A idade contemporânea cquilibrit). concepções científicas, planos dc conmaior lógicas e junto, idéias de organização iuncioextensos surveys e atenção aos aspcccspecial à habitação. Deste período
Evidenteme cas. casos
Irnnsigéncias.
ou contempo“cidades-jardins”, as zonct mentos” (t e com certa romântica ao “barroEstados Unidos com
urbanístico, terceiro râneo, começado na Inglaterra com na Alemanha
com os rcaçao quase quismo”, e nos os centros cívicos, sistemas de par ques, elaborados surveys, redes ex pressas etc., deste período, dizíamos, balizas notáveis o célebre plano sao de Nova York, o moderno esfôrço inglês de planejamento regional e descentralizador, e a obra francesa nas colônias.
b) Do acordo com o anterior, especial ênfase às artérias expressas > e semi-expressas. Estas devemconstituir-so em sistema de acordo v com o plano da cidade e mesmo da região, aproveitando ao mesmo tem po o relevo e os acidentes topográ ficos, em especial os vales e os es pigões. É preferível e mais eficien te um plano em que de cada dez ruas, p. ex., uma seja expressa, duas semi-expressas, e as restantes se cundárias, do que uma malha só de ruas amplas, porém diferenciadas.

sistemática
Pode-se resumir o urbanismo con temporâneo no setor viário, que rnais particularmente nos interessa, nos seguintes capítulos:
a) Diferenciação dos logradouros
Q ruas segundo suas funções: con¬ forme são principais, de grande cir culação, ou secundáriss, de interêsse puramente local, ou mesmo espe ciais, de objetivos limitados. Rela-
Isto, sem consequência na era da circulação leve e animal, transfor- ' ma-se em dificuldade hoje, com o . tráfego intenso e de alta velocida de. São verificação banal nas metró poles modernas, em certas direções e horários, torrentes ininterruptas de veículos, cujas paradas senam
desastrosas e capazes de larga re percussão na zona.
O descongespor r'
tionamento só pode ser obtido artérias expressas ou preferenciais,
l>ICESTO ECONÓNnCO
concepção nova, a que não aten diam as belas, mas ineficientes nidas e bulevares do período ^■ior. Isto exige traçados bem estu dados nos bairros novos, mo modificcçôes na rêde antiga e central, aproveitando des-nív'eis oca sionalmente existentes, seja para isolar leitos, seja para eliminar cru zamentos.
aveanlcassim coNem tòdas as adminis
Francisco, ou sofr#* veis ou, p; .‘^saníio to, é vítima <!{● ras. Uma dc ar

^^●ens implaí'»^->o extremo oposcnchf.nl«-.s .-las
há algun.s lii^tros rasou-a de f*ito alrá.s. , Conta-se que depois <la c at;e trof,. um piefeito animo.so re.solveu recr,nstriií-la. E refé-la, atender C(»m exito. Apenas, ao piogresso para lar , impôs a gura de 30 melros a tôrias
as rua.-?.. ● trações municipais se mostram cónscias das exigências duma rêde viá ria moderna. As mais avançadas li mitam-se a desejar “todas
as ruas
Igualmente largas. Lembra-nos Be lém de Cobrobó. milde do Nordeste, à margem do Sâo
Cidadezinha hu-
Não é permitido sorrir desta histó ria, pois em caso mui diferente, para a época tecnicamente b tud ado, COn hecem os parecida, ri/.onte, a tal mineira.
e cm cs situação
uma e progressista
Referimo-nos a Bedo IIobela
Construída há cincoen
-
capi¬ ta anos, no, pois .sequer ros- a comissão ao
mas numa época que ainda cle.sconhccia as atrcpalhações do tráfego moder nâo haviam aparecido i os automóveis, r
ponsávol adotou um xadrez de ruas amplas, dc 20 melros qual superpôs outro xadroz dc avenidas mais largas ainda’ (30 metros). Como, além disso a ci dade cra prevista só para 103 mil habitantes
uma ousadia
— ° que já cra podia parec
5 % lí. er que ela jamais defrontaria menor embaraço de tráfego Por longos cnos Belo Horizon te dou uma impressão gava a ser saárica.
o <3ue cheE tornouse gracejo sediço insinuar
aos d’El oconoc^lçamento. espalhaaa e que ja se verificara (para citar só dois casos) em Paris e em Washington. Quando Haussmann iniciou o bulevar SeU‘
e Incompreensão muito
40 Í^Cl-TTO EcOKÓMlCt* J
íncolas do antigo Curral Rey que deviam lotear o leito das avenidas, com o que mizariam terra
bastopol, um deserto” e “dividir a cidniic em duas”. K das ruas de WashiníJlon dissi? Dicki‘iis nas .'Uas Notas Americana.^^, (juc* oram tão ah.-^urdamenle lar^íí s o símií objetivo, quo quem íis fosso atiavi'ssar <.levia despodirs<; tia família v tostar, oomo antes dc tjualciiu‘r expedição aos antipotlas. Mesnu» em São Paulo assisti mos às eami)anhas tio Alcântara Ma chado contra a avt'nida São João e do vereador Marra contra a praça do Patriarca.
Delo Horizonte ilustra uma tese: o problema viário não é só quanti tativo, mas também e sobretudo qualitativo e de j)lano geral,
c) Aprovoiíamonto dos fundos do valo o dos ospigócs. Os primeiros foram objelt) de repelida doutrina ção do Saturnino dc Brito, que as sim influiu bcnòficamcntc no urba nismo brasileiro. O seu móvel prin cipal era a construção dos canais dc drenagem c dos esgotos tanto plu viais como sanitários. Também sob o ponto dc vista da circulação os vales são dignos dc maior atenção. As artérias do ihalweg não só pro porcionam faixa às canalizações, co mo admitem dcclividaclcs suaves.
ncusnram-no de “abrir çôcs que os inutilizavam, porque as sim preciosas faixas foram preser vadas, permitindo melhor aprovei tamento hoje, quando o urbanismo já reconheceu a sua importância. Esta observação aplica-se tanto aos pequenos como aos grandes va los o às amplas várzeas fluviais. Exemplos do vales aproveitados ou cm vias de aproveitamento são os da avenida Novo de Julho, Itororó, (Anhangabaú) e Sumaré. De vales in aproveitados ou comprometidos: Tamandaré, Saracura, Cambuci, etc. Pouco percepliveis devido à suavi dade do rclòvo, existem na cidade dezenas, quiçá centenas de rincões, que os arruamentos e a edificação não respeitaram, resultando incon venientes graves tanto para o poder público, responsável pela drenagem geral, como para os particulares. In críveis e infinitos são os abusos pra ticados neste campo: córregos es trangulados para ganhar terreno, cursos dágua ocultos por construções superiores, obstruções por muros e aterros, boeiros insuficientes, riscos de entupimentos e solapanientos. Em pleno Centro há galeria dáguas perenes sob muitos prédios, de que os transeuntes nem sequer suspeitam. A antiga galeria do Anhangabaú, ainda não inteiramen te substituída, passava (e passa ain da) sob o prédio do Clube Portu guês, na avenida São João.
Na evolução das cidades, entretan to, eram os fundos de vale despre zados por exigirem obras dispendiohabitualmente permaneciam divisas de fundo de quintal, saS; e como carreadores de lixo e águas servi das. Hoje, com as novas concepções urbanísticas e com a importância crescente das vias expressas a que tanto se prestam, os vales adquiri ram importância extraordinária. Poxão fronteira à Jerônimo Leitão Aí
de-se considerar uma sorte o des prezo em que jazeram e as inunda-
etc. A mesoutras par, perto da infle

nia, depois^ de atravessar a rua Anhangabaú, corria sob numerosas casas do lado oposto, atravessava de novo a rua para passar sob casas do lado
na rua Frederico Steidel e noutros pontos, tem-se dado o caso de esta-
IJicESTr) EcoNÓ^^co
carias de prédios comerciais ou de apartamentos atravessarem galerias pluviais ou córregos canalizados, formando verdadeira grelhas.
Dum o doutro lado da rua Muniz de Souza, numerosas casas c fábri cas superpu3oram-se ao córrego que desce da Aclimação. Um cidadão, que não queria perder área nessa rua, fê-lo entrar pelo porão sob a cozinha e sair pelo mesmo porão sob a sala de visitas. E ainda se queixava, por ocasião das grande.s chuvas, dalguma umidade em casa...
Deduzem-se de todo o anterior duas necessidades: aproveitar os va les da maneira urbanisticarncnte mais perfeita e rever, senão todo.s, ao menos um grande número rincões semi-obstruídos e de gale rias sotopostas a quadras urbanas. Só isto pode constituir quase um programa de administração.
de
Neste caso nao
portância dos espigões e
repete-se, noutra escala, no nosso sertão, no traçado das grandes es tradas de ferro. Nas cidades uma dificuldade habitual que êles ofere cem às comunicações é o fechamen to das cabeceiras, por vêzes muito
Nos casos mínimos basta abrupto,
portância, caberá estudar
Kí çâo pf>r túnel a aUtum vnle opostfj, do outrt» lado do o caho dí
a sua li* mesavenida Xoví- do tre.
Julho; dfve .'cr o ró; poflerá ser ainda outras.
<la avcriala ii-.»roia Surnaré o o (
No caso de e.q>igóes epu; exi-rccin grande papel nt> Iráfegf) pijn^.jp;,!. corno o <ia avenida I^culista e al guns dos seus contrafortes, <-iuzamentos cm ílesnivel impòein-se des de já. A avenida Paulista ó uma Itoiür'6 às avessas, e sc.* ne.sia os transversais vão passar sôbr les, naquela deverão o ponPí^ssar sob pontes ou em pequenos túnei to evidentemente só se -is. Is‘*Plica aos cruzamentos principais, a solução requer reserva de terrenos o recuos especiais, principalrnonto se dos pro jetos constarem rampas do ligação como em regra devo ser. **

A constituição duma
i’6cle O aproveitamento dos espigões para artérias principais é mais fácil e intuitivo; vem dos tempos mais antigos e os exemplos são tão nu merosos que dispensam enumera ção: Liberdade, Luís Antônio, ave nida Paulista, Consolação, Cardoso de Almeida, etc. existe interesse de drenagem, mas de comunicação é patente. A imdivisoresarteda geour- fia rial materialmente resulta grafia da região, da topog bana o das condições do núci trai originário; processualn^ desenvolve-se seja espontâ: te, por ação coletiva o gradu menos intuitiva, seja
i*a G GO oennte cia ^^amenp ^1) inais autoridade, mediante planejam to prévio e adequado. nlinr
jamento deve_ basear-se clum lado numa concepção geral, o clout condições materiais acima Mas não faltam
ou ro nas enume¬ radas. casos
em .. . - ^^'bitràriamente geometrico, mal relacionado cenário. Examinem
nos í
A geografia regional proporcio nou duas determinações fundamen-
êle é preconcebido, que com o , ^ , cs rapida¬ mente 0 caso da Capital bandeiran te, como se apresenta e como corrigido. mere¬ ce dispor uma pracinha de retôrno; de média importância, convém ligar por rampas o Ihalweg ao es pigão posterior; nos de maior im-
Diokmí) Econômico 50
I 0
gadas camadas de limonito, e quaternário.s, com turfa e a serra da Canta- e
O Anhembi
reira, ao fundo, pareciam comandar termo à primeira etapa da peneEsta determinação inicial traçao.
Nordeste e no Norte do país, difícil e descontínua, a grande estrada na cional teria de desviar-se para o planalto. E neste, devido à revolta orograíia da região, cairia íatalmcnte no vale do Paraíba, única passa gem natural, constituída por um ro sário de bacias terciárias, alongadas e planas. A ligação deste caminho com os campos do Sul, que come' çam cm Sorocaba, passa exatamenle por São Paulo, cortando aqui a linha Santos-Campinas. Locaiizouse assim o cenário de Piratininga por mercê de coordenadas superabundanles.
ao contrário de extensos tratos no tais: a zona do cslabclccimcnlo da cidade o as principajs dirolrizes do acesso. A área <ie estabelecimento indicuu-a o coiitra.^-te visivel já aos primeiros exploradores de Piratininga, da bacia terciária paulistana com o pais circundante, de forma ção arqueana montanhosa. Aquela bacia, que se estende entre o Tietê e o Pinheiros, alongando-se a Les te até perto de Moji, caracteriza-se pelo relevo suave e pelas ar^ilas variegadas. Inclui nalguns pontos delpedregulhü ou nas várzeas, depósitos barros de olaria, e areia. Por natureza c tal vez também pela devastação dos selvagens, já apareciam cm clarei ra os campos de Piratininga, após a travessia dos numguczais c da ser ra, tão aprazíveis sc afiguraram aos primeiros colonos. A bacia da Ca pital, correspondente a pré-liistórico lago terciário (classificação aliás discutível ou, pelo menos, mais dis cutível que no caso do Paraíba) apresentava assim aos fundadores nma situcção muito favorável atraente. A preexistência de aldeamentos índios na zona confirmava a excelência do lugar.
< principais diretrizes de comunicaçáo, isto é, o traçado dos grandes caminhos, das futuras rodovias, e metmo das futuras ferrovias, que daquelas pouco se apartaram. Por ■ _)
Localizada
a sua vez êsses traçados apontariam as principais entradas da cidade, prefixando até as primeiras radiais urbanas.
Ao Sul, duas gargantas sobr ceiras à grande brecha da escarpa marítima Cubatào, e em seguida a descida dos rios Tamanduateí e Grande, mostravam pectivamente pelo Ipiranga e pelo Ibirapuera-Caguaçu (que hoje traduziría por Santo Amaro-Avenida Paulista ou Paraíso).

Ao Norte, lado do Interior, o ca minho de penetração estava visivel mente indicado pela garganta de Taipas, que isola da Cantareira maciço do Jaraguá.
anos acessos resse o Adotaram-no
a primeira estrada de rodagem e mais tarde a São Paulo Railway. Recentemente a via Anhanguera
.'i
^ >1 Dicesto EcoKó.vnco 51
também área, resultavam naturalmente as quatro
e mais propriamente geomorfológica da área não seria porém sufi ciente, se outra, de ordem geográ fica, não viesse confirmá-la: ser o cruzamento das duas grandes vias naturais: da linha de penetração Santos-Interior com a linha de co municação Norte-Sul, paralela litoral. A orla praiana sendo no Sul. ao
contornou o Jaraguá pelo Oeste, mas o ponto de chegada na cidade pou co se deslocou, caindo ainda na La pa. O traçado novo facilitará entre tanto uma entrada suplementar pe los vales do Pinheiros e dos Remé dios. Na área urbana o prossegui mento será pela avenida marginal do Pinheiros ou pela rua Pedroso de Morais.
O hínterland Norte, cspecialmente a faixa divisória com Minas, con ta ainda segundo acesso, menos im portante, que é a da selada da Can tareira atingível pelo vale do Cabuçu. Estrada relativamente difí cil devido à orografia, mas susce tível de maior importância por li gar-se à Via São Paulo-Bclo Hori zonte, já em execução. A sua che gada na Capital é pela Ponte Grande.
PDo lado do Sul ou Sudoeste, a diretriz rodoviária correndo entre
0 Jaraguá e a cumiada ou crista do Juquiá teria de bater em Pinheiros. Antiquíssimo trilho dos índios vin do desde o Paraguai a prenuncíaDaqui irradiaram além do rio estrada va. Carapicuíba-Morumbi; a

aquóm do mesmo, n estrada dos Boiadas; e ^ransvvrs; Inu nlc. Irada velha de 1’inheiru.-., um conlrafíjite (jue ai.nfje um pon* lo inípüílanle <!;i cicia lc. tro dos espi«óes íia aveniii.-, Pnulis* la e da Cf»nsoIa<;ar>, dial Consolaçào-Uebouças. A L(‘Stc, liido cio líio e do Paraí ba, a diietiiz fíeo^írafic-aniente indi' cada era óljvia:
n cssubindo o onconí: a atual ra^ várzL-a do Ticté,
por onde vem o se prolonga minho do Paraíba depois do coto velo brusco de Jacareí.
o ca. . _ Uma hipó¬
tese gcologica supóo ter sido o tre cho superior do Paraíba a cnbocciprimitiva do Tietê,
ra depois subi*esuUar de ou do oroA diretriz Leste
traída a esto rio e anixacia ao pri meiro mediante um processo que os cientistas denominam do "captura nao raro, e que costuma levantamentos da crosta sões progressivas, podia vir por uma ou r,r. margem da várzea alagadic^. tiga estrada para o Rio e ^ A adotaram a esquerda, Penha; a Via Dutra preferiu reita, atingindo Guarulhos o ■ indiferentemente, a Penha,’ ria ou a Coroa (Ponto Grande)'
OiccsTf> nrosViMic*' 62
t
'f V, i ●L-f f/ * .'«■T 'X rl*
PETROBRÂS OU ELETROBRAS?

RountTo Pinto de Souza
do constituição da tornou uma qucstião exaltando os ânimos
maiores extensões do território bra- ^ sileiro. Por êsse motivo, é nosso í objetivo tecer, no presente traba-j Iho, algumas considerações sobre ,7 questão de tão alta relevância.
2, Hã um ponto que a teoria do \ desenvolvimeno econômico cm dúvida nao poe" o progresso de uni J
quer a aventada por
1. A forma Petrobrás se apaixonante. dos que a discutem, ao mesmo tem po que SC converteu cm assunto de tratamento perigoso, em virtude da classificação pouco lisonjeira confe rida aos que aderem quer ã tese do projeto governamental, orientação oposta, muitos componentes da Camara Fe deral. Não se pode esquecer, ain da, a atitude desassombrada do ilus tre presidente da Confederação Na cional do Comércio, Dr. Brasilio Ma chado Neto que, divergindo cm par te das duas orientações apontadas e ao ver dos observadores atilados, colocou a questão nos seus devidos termos.
país tem o seu teto no limito máximo 5 de distribuição de serviços de utili- a dade pública e da receita cambial da referida nação. Em ouras palavras, a produção de um pais pode pandir até as possibilidades máxi- í mas de fornecimento, pela estrutu- \ ra econômica, de tòdas as formas J de energia e de transporte e de po- ,1 der aquisitivo internacional. '
se ex- ^
De fato, o esteio da expansao eco- , s nómica se encontra no aumento da produtividade per capita” Essa Orientações tão diversas tornaram emocionante a polêmica sôbre o pe tróleo, o que mobilizou o pensamen to nacional, distraindo a atenção que as autoridades, os membros do Par lamento, os técnicos e os observado res deveriani voltar para outros problemas de importância não metalvcz, de premência ainda Há um, nor e, maior que o do petróleo,
. , 'lí no entanto, só pode elevar-se pela 'í utilização de modernas técnicas de produção, que por sua vez exigem " fornecimento abundante de 'A „ X , energia. '>; Por outro lado, o aumento do volu- ^ me de bens produzidos requer maio- 'í res facilidades de transporte, 0 que os produtos não r os produtores, não recebendo
em ii se escoam e remu- s por exemplo, que não podemos dei xar de referir, pois se situa em pri meira plana e está exigindo trata mento especial c urgente, e que o coloca em lugar de destaque em face de todos os outros e que deve ria ter preferência sôbre os demais.
Trata-se do alargamento da produ ção de energia elétrica e da amplia ção da distribuição da mesma para
neraçao adequada pelo seu esforço, í reduzem a produção. Por seu turno, não é possível às nações utili zar maior volume de equipamentos i e matérias-primas sem os adquirir ^ nas praças externas, o que requer disponibilidades em cambiais. Por '3 ai já se vê que a deficiência de ' qualquer dos três fatores apontados emperra a expansão econômica, de- h
s,Jé
vido à inter-relaváo existente entre os mesmos.
Há, porém, certa gradação dc im portância entre os íatóres mcncioI, nados, apesar do íntimo entrosamen' to que 03 prende, sendo geralmen'f te admitido que o primeiro da lista ● é a energia, pois é ela que movi menta as máquinas que fabricam os i'● produtos c faz correr os veículos ; que transportam os bens produzi^ dos.
país empregado.s no processo produtivo-renda nacional.
O pi ime:ro nâo <●; lá dirctamente relacionaílo ao assunto (10.'ti: traba lho. Hor é;>se motivo, vamos tleixálo dc lado. O scgund<»,
conu) cscrcnum í econo-
vcu Ceho Furtado, “sc left ic à pro dutividade média <lí> caj)ital dado peiiodo produtivo, i.-^to é, à quantidade <lo renda que sc obtém pf)r unidade de ci pitai reprodu/ivcl empregado no conjunto d: Entre as espécies de energia há mia”, também uma hierarquia, que decor re da utilização mais ou menos ge nérica de cada uma no processo pro dutivo. No estado presente da téc nica de produção, a energia de em prego mais generalizado é a eletri cidade, seguindo-se-lhe o petróleo e o carvão.
A produtividade média do capital decorre da natureza dos produtivos existentes minada região. Se os rem parcos, evidentemente a quan tidade dc renda obtida por unida de dc capital é baixa, inver.so no caso dc uma possuidora dc fartos
Não se deve esquecer, por outro lado, que a importância de cada uma das formas de energia está na de pendência do estádio de evolução e da natureza da estrutura econômica de cada nação. Assim, é reconhecí- a do por todos os especialistas e ob●' servadores ser a energia elétrica o vo fator primacial para a expansão o econômica dos países subdesenvol-
recursos numa dclcrrccursüs íopassando-se o economia As- J'ocursos. sim, num pais como a Grécia os ca pitais empregados Proporcíonarãn menor rendimento por unicl^d " i que os investidos no Canadá d i diversidade das riquezas nátn^ dc um e de outro. Por ôsso*^
í
O terceiro diz respeito vidos.
A razão é muito simples. O proeconómico depende de três
gresso elementos (1):
L nacional;
a) inversões-renda
b) riqueza reproduzível
y - empregada no processo produtivorenda nacional;
í- *
naçao e
fatôres de produção existentes no
meira naçao.
bro. 1952, p. 22.

iPoti<^^^Pita” c ^ ser mais na pri
extensão do aproveitamento dos cursos existentes num dete
-
só à reiJninado
país como à técnica de produção empregada para a combinação dos mesmos no processo produtivo, porque a nação pode ter vastas ri quezas potenciais, mas não explo radas ou exploradas por técnica Irógrada. Nesse caso a rentabilida de é nula ou pequeníssima, contrário, pode ter poucos recursos, porém, muito bem aproveitados
Isto reou, ao
VlWk IIJP .'r V-;Di<;rATo Ivf íiniSmico * I 54 I '
>
a produtividade “per nível de vida tenderão elevados na segunda do U '
j
c) grau de combiextensão da utilização dos
k *
(1) A forma cm Que os dois primeiros se acham descritos foi extraída do artide Celso Furtado "Formaçao de Cae Desenvolvimento Economico ; Brasileira de Economia, setem-^ go pitais Revista
alrav6,s dc técnica avançada. O Bra sil exemplifica bem o primeiro ca so. í‘nqiianio a Suíça o segundo.
Dl' fato. a maioria das riquezas brasileiras jazem em estado laten te. emiuanto a produção efetiva apresenta um ri'.'^ultado po.^ísibilidades. j)ois a realiza jior uma técnica antiquada e a indústria arrosta uma série de di ficuldades. ejue tolhem o rendimen to manufatureico.
aquém das agricultura iv Aliás, ésse as-

pcctü é comum a todo pais subde senvolvido.
gresso econômico só pode reclizarsc através do aumento da produti' vidade “per capita*’. Tal elevação é decorrência do inovações técnicas. Em pai.^^c.s subdesenvolvidos as inovaçõe.^í técnicas devem ser entendi das como a substituição da técnica retrógrada neles predominante por métodos mais modernos de produ ção em emprego nos países econòmicamente adiantados. A introdu
contribuem para O primeiro, e Vários fatòrc.s essa circunstância, o mais importante, 6 a escassez de capital. Os recursos inaproveitados porque nao so posfinancciros cm volume transformá-los em Tal fato po-
naturais ficam suem meios suficiente para produtos consumíveis.
de, no entanto, ser corrigido, pois em muitas regiões dc países subde senvolvidos uma pequena modifica ção na técnica dc produção podo le var a sensível alteração no resulta do final do processo produtivo, sem sejam necessárias Assim, a simque para isso grandes inversões, pies introdução do arado em muitas agrícolas econòmicamente zonas atrasadas pode determinar aumento ponderável na produtividade das A alteração do traçado e mesmas, pavimentação de unia estrada de rodagem já existente podem tam bém trazer acentuada modificação ritmo de trabalho da região agrí cola por ela servida, refletindo-se bcnèficamente no resultado final da produção.
a no o pro-
ção de formas mais avançadas de combinações do fatòres de produ ção altera substancialmente a pro dutividade dos trabalhadores, o que determina, ipso facto, da renda real social, isto é, a quan tidade de bons e serviços à disposi ção da população.
o aumento
A elevação da ronda real social traz como consequência o aumento das remunerações, isto é, todos que exercem atividades produtivas pas sam a receber maior quantidade de salário, de lucro e de juro, lhes confere maior poder aquisitivo. Êste por sua vez exerce maior ■ são sôbre o consumo de bens'pela coletividade, o
ções no sistema geral da produção, que tendem a modificá-lo, pois for ça, de um lado, a introdução de pro cessos produtivos mais eficientes nos demais setores da produção e, de outro, diversifica o conjunto da produção. Verifica-se, assim, uma seiie de interações que levam ao aumento da produtividade, fazendo crescer a renda real social cura, que se traduzem caçoes da estrutura da
O obstáculo mais difícil que as comunidades pobres encontram pa ra introduzir técnicas mais das de produção,
o que presque provbca reae a proem modifiprodução. avançacomo dissemos
65 Digixsto EcoNÓsnco
Em relação a êsse ponto há, ain da, outro conceito pacífico na teo ria do desenvolvimento , é
í- a escassez de capital. Isto porque, ^' sendo pequena a produtividade fí sica do trabalho, a satisfação das necessidades fundamentais da população absorve a quase totalidade ●: das riquezas criadas pela produção, t

r o que reduz a proporções muito bai xas o processo dc acumulação dc capitais. Daí, para sair do maras mo em que se encontram, devem se esforçar no sentido dc poupar mais do que habitualmcntc fazem ç« e procurer inverter os capitais acumulados em setores que reper cutam de modo mais genérico no sistema da produção, de forma a alterar numa amplitude maior as combinações dos íalôres de produ^ ção. Assim, terão assegurado mo^ dificação mais ampla â produtivi; dade física do trabalho.
I/ Por ôsse motivo, pode dizer-se H' que não é tanto a escassez de re cursos financeiros que dificulta o progresso econômico, mas a ausôn-
cia dc planojamcnto parn n forma ção de r; pitai:, ou molhtír, lovnntamcnlo dos capUaiv, r;t o invosliim nto do;;
fiivcTKOH H.*U»res ílíi píoduçâo^ faz os i (.*cm .^o^; financa-ii os so larcm cin volume menor <lo yuas possibilidades reais a plienções
para o < ‘ :no pa»ni-Mnos nos o (lUC acumuque as o SC tlcsrendosas,
mas <le pequena repercussão no con junto cia economia subdo.venvolvida. Se os capitai.s di;;poniveis fos sem encaminhados para o setor dos iifetar de
vjarem para serviços públicos, sem modcí sensível o financiamento das empresas privarias, haveria possibi lidade de transformação generaliza da da técnica dc produção, alteran do a produtividade “por capita totalidade da população ativa por seu turno modificaria
da o que o consucs. A lutos sc-
Oiíttvto ErON6MlCTT^B| P''' 60 l
í fi
«iH
mo, reflctindo-sc este, por sua vez nos investimentos c nos rendim ' tos individuais f^^bsequent consequência lógica desses '/f 4 /■ rV r .»j.
ria o aumento da renda real, que po.^siljil.taria o início do processo de acumulação de capitais em esca la elevada.
Nesta altura já podemos com preender melhor a afirmação feita atrás, isto é. de (lue os estudiosos (?onsideram o fornecimento abun dante de energia elétrica o fator e:.sencial do progresso econômico em países suhdc.^^envolvidos. pois ó o elemento que ])ermito alteração mais geral da técnica dc produção dc ri.‘giôcs atrasadas cconòmicamente, favorecendo o aumento da pro dutividade c as suas repercussões no investimento c no rendimento.
3. Tais noções podem ser apliproficiência no Brasil, espccialmcntc no que diz respeito ^ preferência que se deve dar à pro dução dc eletricidade, num momen to cm que se pensa em inverter grandes somas na prospecção c pro dução dc petróleo.
carias com
Sendo o Brasil nação pobre é ne cessário procurar inverter os capi tais disponíveis em setores da pro dução que tragam maiores benefí cios para a economia em geral. No caso cm apreço, não há dúvida de que a eletricidade proporcionará resultados que repercutirão de mo do mais extenso sôbre o conjunto da economia nacional, visto permi tir, de um lado, alterar o sistema da produção de zonas já em plena utilização da técnica industrial, mas que não podem expandir o parque manufatureiro por falta de energia elétrica. O benefício é duplo: inte gra na técnica moderna todo o nor deste, enquanto expande as manu faturas do sul. ,
Os estudos feitos sôbre as reper-

cussõos provÃvcis nos sertões da Bahin, Sergipe o Pernambuco de correntes da distribuição, naquela zona, da energia do Paulo Afonso, mostram bem a extensão dos frutos que o pais colherá com a referida usina. Aliás, isso náo é de estranliar, pois a energia permitirá não só criar uma série de serviços de utilidade pública tendentes a me lhorar as condições higiênicas da quela região, o que só por si exer cerá efeitos altamento benéficos no nível de vida da população, contribuirá decisivamente para al terar 0 sistema do produção das re feridas regiões daqueles Estados, numentendo em muito o volume e a qualidade dos bens produzidos.
Um só exemplo ilustra êsse pon to. Ninguém ignora a imensa ri queza contida nos babaçuais. Iretunto, essa riqueza não pode aproveitada, enquanto a região de crescem as palmeiras não fôr do tada de boa rêde distribuidora de eletricidade, relação ao aproveitamento das ja zidas minerais.
Tal não acontecerá se descobrir mos petróleo e o explorarmos venientemente.
como Enser onO mesmo ocorre em conEssa forma de
energia é de grande importância, poiem, a sua utilização no processo produtivo é mais específica. No so, por exemplo, da das nossas riquezas naturaL de pouco servirá, pois será o com plemento, mas não o elemento i dispensável das inesmas. Não há dúvida
camise en va- leur>> inpara a industrialização o petróleo muito auxiliará a transformação da agricultura pela mecanização lavouras. É preciso reconhecer. das no
W: 67 Drcn«To Ecomômtco
entanto, que o problema da mcca, nização das culturas não pode ser estendido no momento para todo o território nacional e além <iisso exicomplementare.s Re certos serviços
í: que a nêric(j, i.-lu é, eletricidade pode forneA aííricultura nordestinc, por que só a cer.

que se traduziría num aumento con>iderável da renda ‘eal (Ia nação, uso gepara cinelelí icida le é d,‘.«●rvc v;rn-clacK-
formas as jnesmo nas ÍCs* cs caractei i.slicos i-m.-igui
atualmente, tóalteraçao so ocor- e essa o consumo c
sistema de vida, que, por reper cussão, como vimos, levará a modi ficar a estrutura da produção, então estará aquela região apta a utilizar a energia do petróleo para mecanizar a lavoura e transportar os bens produzidos.
infinita pregada numa fie aliviflades, ao me:.mo ti-mp*» cjue t- de custo l>aixo, o <iue ])t.inule a (●ni tô la.s í^ua ulilizaçao exemplo, pouco se beneficiará com 3 produção nacional de petróleo. Naturalmenle essa afirmativa se prende à.s circunstâncias presentes. É incontestável que da a região norte do país necessita, antes de poder utilizar o petróleo, de modificar o sistema geral da y ' produção rerá no dia em que houver eletri cidade com fartura, pois é ela que irá alterar não só a produção como consequentemente, o
fraca dc a elétrica niovimcnto Iniciailo latc-ntes. o n -.liiiainica s reperolemcntos cussoes que os vanos (renda real, remuneração modificaçã/j da pix^duçàQ) a ter uns sòbro os ouii-
de traljalím, remum-raçao. fezem cíun que soja o elemento indi.sjjc-n.vá^.^.j p^ra conferir as regióo.s p(jbre.s o iminilSü inicial paia j)or em üs suas íórças proce.sso de crescimento, própria dêste leva a eeonomia a sc expandir naturalmente p^dí:
Só sil econômico nao e a
Devemos reconhecer que o Braíndústria dc
os. cnníveis próprias orregi^U'ÍOS processo São Paulo e do Rio, nem o café nem o algodão e nem o caesu. todas as inú-
Brasil econômico sao são. A história ensina que, na qTw totalidade dos casos, o imonic ● ●
i : meras atividades que milhares de homens desenvolvem de norte a sul L do país e que executam deficientejV ■ mente em virtude da ausência de ^ energia elétrica, que os impossibili^ ta de usar os instrumentos indispeny. sáveís oara elevar a produtividade Dispusesse cada tra- do trabalho, balhador de eletricidade suficiente, para pôr em ação os pequenos equido trabalho, pamentos auxiliares multiplicaria imediatamente o lendimento físico de sua atividade, o
cial que levou a alterar a situação de estancamento cconomico çPjs ^ munidades primitivas veio cie*^ for É compreensível que sq tenha passado dessa forma. O progresso econômico, como já assinalamos sulta da introdução de combin mais produtivas de fatores de dução.
para serem introduzidas, tam de elementos (capital, conheci mentos técnicos) que elas não pos-
coreaçoes procombinações, necessiEssas novas
58 Dif-r-Mn p:, '
consumo, passam razão pela qual as ^'‘^^■‘'‘unidaUc.^Urf mitivas tendem, enquanto n' ● cebem um impulso vindo im,. te do exterior, a so conservar clausuradas nos seus baixos econômicos, pois as suas forças não as capacitam a montar os fatores nccessé dar início ao O
suem. Sc não vierem do exterior, as comunidades permanecerão estagnrdns. pois náo os poderão criar por c*sf(‘»rço pr(’)j')rio.
Muitas ri'giõi“S do Brasil se enconti'am. mutalis mutandis, na mes ma siluaçao que as camunidados primitivas. A distribuição de ele tricidade seiá ])ara elas o impulso inicial viiulo dc fora. ciue permiti rá pôr (*m movimento o j)roccsso de (‘xpansáo <.'C(ínômica pela intro dução de combinações mais produ tivas dos fatores de produção exis tentes nas referidas zonas. É pela falta <le técnica mais produtiva que os fatôj-es <lc produção, cspccialmente o trabalho, se estiolam; ou me lhor. os falòres de produção não são aproveitados devidamente, porque não cxi.ste ou c insuficiente a ener gia disponível na região, o que im possibilita usar combinações mais produtivas. Fornecida a energia, pela produção e distribuição de ele tricidade, n população ativa da re gião poderá, através dc novas com binações, ampliar .sensivelmente o rendimento do trabalho. Já vimos
que c o aumento da produtividade o elemento indispensável para o progresso econômico, visto alterar as relações renda real — reniuneraestrutura da consumo çoes
desconhecemos. Não se pode negar que os males da inflação estão mi nando as nossas bases politicas, so ciais o morais, criando profundos dosajustamentos. que tendem a so acentuar. Sabemos que não se combato a inflação com medidas le gais. especialmente a do Brasil, que não ó exclusivamcnte monetária, mas estrutural. Aliás, a extensão continua da inflação mostra a ino-
perãncia das medidas adotadas, o que era dq sc esperar, visto não re moverem as causas efetivrs perti nentes à estrutura econômica, mas SC limitarem a um controle improficuo dos preços.
Mostramos cm artigo publicado nesta revista que a causa mais pro funda do persistente aumento dos preços residia na modificação da es trutura social decorrente da urba nização da vida brasileira, que por sua vez era impulsionada pela inoustrialização renda monetária. e polo aumento de Tais fatores fa¬ zem com que a procura de bens consumíveis SC clove sem corresponden te aumento da oferta, pois a estru tura da produção, à parte a relacio nada aos setores industriais nao

, sofreu alteração. Todos sabemos que não se modificou pela deficiên cia dos serviços públicos. Desses os principais são a energia e o trans porte. O primeiro alteraria produção.
Em relação à atual conjuntura econômica brasileira há um outro efeito decorrente do aumento da produção e distribuição de eletrici dade, que não pode ser esquecido, dadas as repercussões altamente benéficas que exercerá. Queremos nos referir à deflação. Atravessarnos um período inflacionário cujo término e futuras consequências
,. , , a estiutura da produção, pelo mecanis mo que já explicamos, enquanto segundo, além de facilitar o 0 procesde modificação estrutural produção, distribuiría ' mente as mercadorias, fazendo sar a alta dos preços, " ■ po que forçaria que o preço de ven da dos produtos nos centros de con-
so da convenientecesao mesmo tem-
50 Dick-sto EconAmico
li t ● í V.
sumo se aproximasse ao preço dc venda nos centros produtores. É do conhecimento geral que neros alimentícios, em virtude da deficiência do transporte, são ne gociados nas zonas produtoras por 1/3 das cotações por que são vendi dos no varejo urbano.
os ge-
cJa clclricidatU’, pc*!»» í^imples fato dc cia ser dc rniprr^o pr - iutivo Nao ; I* p ●(!»● jie* majs genérico,
gar que a produção de p<-lrõi' o mui to beneficiruia o país <● o auxiliaria apreciàvelmente a eaminlinr com maior rapiílez na seiula rio progrc.sso.
produção e distribuição de energia reside no aumento da renda real. A
inflação
provém da elevação da
Kntretanto, <-m face das circuns tâncias especdai.s fia aluai conjuntu ra econórnjca c das limitações do mercado interno de capitais, é líci to pedir prioridade para a energia elétrica, pois os efeitos flossn serão mais amplos que os do petróleo.
Acresce mais um falo no tocante ao petróleo. Ilá muita divergência quanto ao aproveitemento ciai de nossos poços, são dc opinião que os riscos do se encon I
so nao se
emissão. Mesmo que se continuas se a emitir, desde que o alargamen to da renda real fôsso superior ou igual ao da renda monetária, pode' ria haver queda de preços,-ou pelo menos estabilização dos valores.
No caso do Brasil, é possível que a ampliação sensível de produção de eletricidade levasse a um au mento mais do que proporcional de renda real em relação a renda mo netária, forçando a baixa de preços.
Isso por certo não se verificará na produção do petróleo, pois a reperconjunto da produção na cional não será tão grande como a C-’

cussao no
ros
sao grandes, enquanto os gastos vulÍO.SOS para as prospeções são certos' Em face da situação equívoca do petróleo é justo perguntar-se sc nâ é mais aconselhável inverter na r> ^ ° dução do energia elétrica os fundos que se pretende levantar para a cx ploração do petróleo. Não há som" bra de dúvida que 10 bilhões dê cruzeiros aplicados no setor da q\. tricidade modificariam muito mai~ a estrutura da produção nacional ^ ^ que igual soma invertida na ção petrolífera. Quando vesse as muitas razões já apresen tadas, a seguinte seria suficiente pa_ demonstrar a preferência da ele tricidade em relação ao petróleo: boa parte dos 10 bilhões de serão gastos em despesas
do _ produ ção houra cruzeicom as
60 I>U:r^TO E<:f>sA%0<
!>.
!ç
O motivo principc-l da contenção da alta de preços decorrentes da boa t i
comerOs técnicos , nao trar petróleo oxplorável :V
renda monetária sem aumento pa ralelo da renda real. Procedendose a produção e à distribuição ge ral de energia haveria incremento . imediato da produtividade do tra, balho, traduzindo-se cm elevação do total dos bens produzidos. Ha veria, assim, maior quantidade e variedade de mercadorias disponí veis no mercado, o que levaria à absorção mais amena da renda mo netária. À medida, portanto, que o volume de produtos aumentasse, a inflação cederia terreno, termi nando por uma ligeira deflação, cafizesse nenhuma nova
prospecções, pois para cada poço produtivo é necessário pesquisar e abrir dez. Portanto, não serão des pesas produtivas as despendidas nos
No setor da clc- nove poços secos, tricidade não sc fazem ga.^tos inú¬ teis. Cada cruzeiro empregado pro duz o .'<eu re.sultado. Num pais de recursos financeiros limitado.s, èsto argumento é j)odi“roso. pois onde o proce.‘^so econômico encontra o maior ol^stáculo nas áreas subde senvolvidas é no setor da formaçao dc ci pilais. No caso do petróleo brasileiro, além de consumir volu me considerável de capitais sem criar de imediato riquezas, deve-se considerar a limitação do seu al cance na modificação da..estrutura da produção nacional.
niais um
Nâo 6 exagero dizer, e os técni cos são dessa opinião, que o pro blema do petróleo no Brasil está ainda na fase da destilaria e do pe troleiro o não na da extração, por que nesses dois setores não se íazem gastos inúteis como na abertu ra do poços não produtivos. Con vém lembrar que o mais importan te no petróleo é a sua industrializa ção c não a sua extração.
Termino chamando atenção para o fato histórico de que o petróleo não enriqueceu por si só nenhum pais. O caso da Pérsia e da Bolí via ilustram bem. A eletricidade, ao contrário, tem sido sempre fator de progresso, inclusive quando é a única fonte de energia. O exemplo da Suíça é esclarecedor.

Dtcksto Econômico
Não se pode esquecer ponto de real importância: o petró leo pode scr importado, a eletrici dade não. ●> ●j V ■V J : !r ;S I ●● ■●1
í.fis Mohais Hahhos
Ç^OMO liberais, defendemos, dem econômica, o livre jogo de suas forças, como a melhor ra de, preservada a dignidade do homem, obter o máximo de rendiTnento na produção, líbrío social.
na ormanei» e o maior equiA liberdade cambial
('.rutilmrutr rrilidn prln ti\ttor. puhJiau 7nn’i uv» Irrciin thi rarta Mnr(ii‘i liornts,
(!(> Ifriurn Sul-Atnrriraun
pnn-
futulo <-oii/irrrd()r dr as’,uufns fituiuccid<itü de ros r cr<momico\, rtivitni. < in lí) dc drzrttdjrn dc }í)52, no .vr. //cn. riipir dr Souza Qiiriroz, da Sociedade liural lirasilrira, sòhrr r) problema canu hial. Trata-sc dr malrria dr <dta rvlcc.ihu-ia, sobre a (fual chamamos dos uossns leitores. <i atcução
>pu' <> sr. T.uis (lirrfor-\tijtrrititintlcntc ■ (lirrtor da Assoriaf/ãn f.Vo/irrrfVi/ dr Síut Ptudo, pro* se prende a êsse conjunto de cípios que constituem o liberalismo econômico, e não pode ser tratada como coisa à parto, por ser o con ceito de liberdade uno e indivisível, não comportando, por conseguinte, mutilações.
■ Por ela nos batemos, c, ainda, rcôentemente, o fizemos, publicado no "Dige.sto Econômico”, em seu número de setembro último, sob 0 título de ‘‘Política Cambial e Monetária”.
em artigo que por convicção doutrinária batem o liberalismo. com-
Feita a profissão de fé liberal, permitimo-nos algumas considera ções antes de responder às pergun tas formuladas em sua carta.
Razões políticas levaram os go vernos a interferir, cada vez mais, na ordem econômica, subordinando esta às primeiras de uma forma tal que, hoje, apesar dos males palpá veis dessa intervenção, ela encon tra apoio em homens de governo, sequiosos de poder e prestígio; em homens que vivem de atividades ar tificiais criadas à sombra do inter vencionismo; no grande público que, aclimatado a êsse estado de coisas,
prefere o que em geral lhe têm sido adversas por importarem quasi sempre em maiores restrições; nos antiliberais
No que diz respeito à Iiberd„do cambial, muita coisa so tom ● ● do contra ela, e dêsses argumemos' os que calam fundo na opini-jQ * ’ blica são aqueles quo se refoVem^á influencia dela nos negócios dc café Entendem os dcfensore.s da t oficial, que, liberado axa o câmbio a , li
vera:
a) uma queda, em dólares, do ' ço do café, sem qualquer \ pre, - - van¬ tagem para o produtor brasi leiro, _asie com graves prejuízos para o pais, que verá reduzida a sua receita de cambiais;

b) um aumento, em cruzeiros* da nossa dívida exterior, gando o país a um sacrifício obri'statu quo” às inovsções
maior pera o seu re.^gate; e,
í 0 PROBLEMA DO CAMBIO L
w-
l
c) um aumento do custo de vida, i que, além dos inconvenientes de ordem social, que acarreta, í í ;
encarccerá ainda mais a pro dução.
Quanto ao primeiro, o raciocínio .SC apóia no paralelismo observado nrs o.-cilaçôes <la taxa cambial c das colaçõe.s do café. Parecc-ni^s que o argumentei piova deniais. Se movi mentos pai‘alelos hou\'e. devem êles ser atribuiilos a outros fatores, co mo, por exempUi. á valorizaçao ar tificial dc 24, à crise de 20. c à su¬ perprodução ila ilécada <los 30. mas não à taxa cambial, jiorquanto. por fórça desta o natural c lógico seria movimentos se fizessem que esses em direções (.>postas.
dutor i^e contente em vender o seu produto com um acréscimo de ape nas 20r<-, ü que para ôle já repre senta um íírande neiíócio, o px*eçoouri> cairá íorçosamente como con sequência da liberação, para se aco modar ro preco cm cruzeiros pelo qual o produtor vende o café. Pensamos que não. Os preços, no mercado internacional, como vimos mais atrá.s, não podem estar sujei tos ás manipulações cambiais de um dos produtores, o, assim, êles não -<e alteram. Nem podem, mesmo, sofrer alteração, porque;
a) se o produtor, econòmicamentc mais fraco, se contenta com esse acréscimo de 20%, o co missário ou o exportador não tém motivos para deixar de exigir 0 preço corrente, no mercado internacional, tanto mais que éles não correm o risco, no momento, de falta de colocação para sua mercado ria:
O preço do café. no mercado in ternacional, é sustentado, como o dc qualquer outro produto, pela es cassez da mercadoria, pelo aumen to do consumo, pela qualidade, o por todos os demais fatores que en tram na formação dos preços, ora aumentando, ora diminuindo a pro cura. Êsses preços não podem es tar sujeitos às alterações da taxa cambial dc um dos produtores, mes mo quando êsse pi*odutor represen te, como no nosso caso, 50% da pro^ dução total. Daí a nossa convicção de que o paralelismo, constatado em certos períodos, mais se deve a unui coincidência aos fatores atrás c zer a exportação na base do preço internacional, para rea lizar, aqui. onde a tributação é bem mais favorável, o maior lucro possível.
apontados, do que à taxa cambial, a qual só muito remotamente e no tempo em que tínhamos um quase monopólio da produção mundial, poderia ter exercido alguma in fluencia.
Dirão, então, aquêles que defen dem o diploma legal, que fixou o dólar em CrS 18,72: se admitirmos a taxa de câmbio venha a se que estabelecer 50% abaixo da oficial, atualmente vigente, é que o pro-
b) se é o próprio importador quem efetua, diretamente, suas com pras, no interior, por intermé dio de firmas filiadas, como pode acontecer, ainda assim êle terá todo interesse em fa-

Além do mais, tanto numa hipó tese, como noutra, cessa a pressão baixista dos exportadores nacionais e estrangeiros que procuravam, com essa manobra, fazer o seu lucro moedas estrangeiras para depois convertê-lo em cruzeiros através do mercado negro. Extinto o merca-
em
DlCEATO nCONÓMirti
f
do negro, inverte-se a posição, c passa a predominar o interê.-sc fis cal a que ecima nos referimos.
Se baixa houver na cotação d*'> café, ela será temporária e resultan te do primeiro impacto, com o aspecto alarmante que se lhe quer emprestar, pelo menos enquan to se mantiver favorável a sua po sição estatística.
mas, nunca.
rá a rocebci mai.s as re.sultanlcs dos produto.s cliamado.»- “gravosos” quo hoje .nãí) f-ncontrain colocação. Se admilirino.s cjuir o í)r«*ço do ca fé .‘■e apóia na nossa ta.xa oficial de câmbio, Iciíainos cjue c<>nc*luir que c.de também é artificial. Se assim

fó.sse, o rcí ju.slanu.nlo de preços se ria .salutar ainda ine.‘-mo ejue viés semos a perder divi-as.
Esta é que determina o preço do produto no mercado internacional, e não ria e artificial
uma taxa cambial, arbitráque nenhuma rela-
ção tem com o poder aquisitivo da moeda.
Dessa forma, nenhum prejuízo haverá para o país, mas sim um lu cro, pois, além de continuar a re ceber as divisas que vem receben do nas condições atuais, êle passa¬
quo" atual j^oderia, ne.ssn hijjótcsc. protelar a baixa dos preços, mas não nos defendería contra ela, <-sta se verificasse, c(jrn a capacidade muito reduzida, econômica, pagaríamos
sem Nêsse dia, muito caro pela
teimosia em nos mantermos, pre, fora da realidade.
O segundo argumento contra a liV ^1 I h f l i. r r i k Y V. c tí (f . '.s
OinnftTo F:ro?íAxS^( r ^4
i V I»
í
O “statu c. no dia em quo encontrar-nos-ia de produçã(j resistência então > r
sem-
bcraçno cambial é o que se rcícre à nossa divida externa.
Se, como acabamos de ver, a taxa cambial nao pode influir no preço dos ijrudiUos cie exportação no mer cado intei nac ional, a di\'ida nao se alterará. Kla .'^era resgatada c*om as divisas prcjcluxidas ]>elo nu‘smo \‘olume fisiei) cie nuneadorias de ex portação, e, portanto, eom a mes ma qu: nticiadi' cie traballio despimdkU) i>ara iirodu/.i-las. A sua con versão em cru/.cMros, no caso. nao tem cjualciuc-r significação.
O terceiro argumento é o da in fluência da taxa cambial no custo da vida.
Para maior facilidade \'amos exa minar ."^ua repercussão, primeiro, com relação aos produtos de impor tação, e, depois, com os dc expor tação, no caso dc vir o dólar a ser cotado 50% acima da taxa oficial.
Nossa importação representa cer ca dc 12% da renda nacional. Se ela vier a custar 50% mais, o au mento du custo de vida será, cm consequência, da ordem de 6% Ma.s, nós, que vimos assistindo com frequência a aumentos semelhantes, não devemos emprestar-lhe a im portância que o mesmo teria em economias estabilizadas e normais, principalmente se levarmos cm conta que esta seria a pior das hi póteses, visto como a realidade é bem outra, porquanto uma perte apreciável de nossas importações, como automóveis, caminhões, tra tores, máquinas de tôda a espécie, rádios, geladeiras etc., e todos os produtos provenientes de operações de compensação, já são colocados o mercado interno a um preço que dá ao cruzeiro um deságio de 100%
e mais. No que respeita a êsses produtos 0 que/ deveria ocorrer serui até uma baixa de preços. Poderiaino.'í. pois, aíirmar que, no que se reícro à ijnportação, o aumento do custo de vida diíicümente atinguia a -Kl'.
Agora, a objeção mais séria que se podería opor à liberdade cambial, feita abi upiamente, seria a da pres são inflacionãria resultante do au mento de meios de pagamento em poder dos produtores e negociantes de artigos de exportação.
Klos, ue um momeiuo para outro, ver-se-iam com maiores disponibi lidades de cruzeiros e o resultado seria uma procura maior de bens de consumo, com repercussão no mercado do traballio, íazendo subir os salários, aumentando os custos da produção e anulando assim, em boa parte, as vantagens da libera ção. Isto, bem entendido, sempre
no pressuposto de uma taxa de câm bio do cruzeiro íixada abaixo do mercado olicial atualmente vigente.
Para êsses inconvenientes, entre tanto, que são sérios e nao poaem deixar de ser levados em linna de conta, existem remédios de grande eticácia. Sao temporários, como soem ser todos os reméaios, mas du ram 0 bastante para que se re&tabeicça o organismo econômico da naçao, o que nao se conseguirá, certíunente, só com a liberaçao do câm bio. mas com a reauçao dos gastos do governo, e até dos impostos, co mo incremenio ã produção.
A Suíça, por exemplo, durante a última guerra, para evitar os efei tos da inflação, congelou, de um la do, os excessos de divisas obtidas pela sua exportação, e, com elas,

'GB 1)IOF_STO ICCONÒNtiro
i í ■-Í
subsidiou as importações, de forma a que os preços no mercado inter no não sofressem alteração. Dirão que o Brasil não é a Suíça c, lamentàvelmonte mesmo, não o c, do pon to de vista cultural, político nómico. e ecoum exení- Citamos, apenas
.sempre pn sentes em períodos de transição, que a ● para i)ermilir readaptaçán ã liherda*
t de completa .se faça n>m o .'ill I to ])r is i \a-l. mení>r ●> Sendo do inercadíj fa o rá V(● 1 à e i'iíição livií-, cpiais üs <jue, a seu ver, ser realii^adas?
,
pio para mostrar que o problema é conhecido tanto quanto suas soluções, blema
o sao as No nosso caso o pro se apresenta muito simplificado, porque é quase inexistente a pressão inflacionária
opei aç(j{*s devem nêle
Resposta:
Tótla.s. Entretan
to, para que a transição não seja
oriunda da agir, om em
muito biu.sca, dever-se-
elevação dos preços dos produtos de importação. Teriamos de tão somente, contra a elevação, cruzeiros, dos preços dos produtos de exportação.
la, no ejuo tange aos produtos (‘Xpoitação ir liberando, de na(j gravosos, paulatinamente
cada vez suas cambiais. O uma maior de perc(;ntagcm
E a solução nós a encontraríamos no congelamento dos excessos cruzeiros produzidos pelas letras do exportação. Por meio de do Tesouro”, ou outro título qual quer, intransferível durante deter minado prazo, o objetivo colimado poderia ser alcançado. Aí fica a sugestão. . .
Letras
Banco do Brasil, com a par te adquirida à taxa oficial atenderia externas. as no.ssas dívidas n compromissos do governo e, dentro de sua fòrça, pagaria os produtos de importaçao considerados maior necessidade.
de C]Ue a liberação
^ ^ ^
Passemos agora a responder às perguntas formuladas:
1. Considera o prezado go aconselhável a criação do mercado cambial livre, para lelo ao mercado fixo e oficial?
processasse, meios de tantes da

se os pagamento exportação
excessos dc rcsulseriam i| \
congelados pelas “Letras do Tesouro” pela forma sugerida. atrás
Resposta: Consideramos ne¬ (
com vantagem para mia, a inclusão de
y \
Acha, admissível se 3. nao aconselhável. 0 praticável nossa econoopereções de exportação e importação no mercado livre?
Resposta: resposta ao item n.° 2. Admitindo oioerações de portação no mercado livre quais as cautelas a serem im postas, através dos dispositi-
5 1
\ i I j L
nr> Oir;F^m> KrnNi'>Nfl<'0
t /
tt ■ '.
À medida
amicessária e indispensável a criação do mercado livre de câmbio. Quanto à manuten ção paralela do mercado ofi cial, admitimos apenas, temporàriamente, a sua coexis tência com o mercado livre, para evitar as especulações
Prejudicada pela ex-
4.
vos cambiais vj^eiUcs, para o efeito fie si‘r alcançado o ob jetivo e(jinvali-nli‘ ao Keajustamenlo Kcomanico de lí>33. exi)icssaimnte jnstificailo em lei como semio uma li-sliluição de jíii jui/os cvusatlos pcl:i flisparidade <*aml)ial?

ria o cambial que temos per filhado.
Resposta: Não nos parecem ressarcíveis oriundos da política monetá¬
prejmzüs ^)S
Quanto aos futuros prejuízos, provenientes da readaptação que se vier a processar, terão que ser suportados por todos, sem qualquer discriminação. Não seria razoável nem acon selhável reparar erros e res sarcir prejuízos com outros erros c injustiças.
I)I<.^srí» K< oNÓMicu 67
i 1 V *5 ■4 -1 J i ● i ,á & y. ) l H 'A
Formação municipalista do Brasil
J. P. CJai.vÃo nn Sousa (Professor da Faculdade Paulista de Direito)
os portugueses iniciaram sistemàticamentc a grande obra da colonização do Brasil, era muito natural que tratassem de aplicar aqui leis e instituições do Reino, adaptando-as às novos circunstan cias
QUANIJO e às condições peculiares fio
Não se deve ver nisso nenhum enxerto, nenhum transplantio arti ficial. Pelo contrário, deram pro vas os colonizadores lusos de uma notável capacidade de assimilação social e política. Enquanto outros povos conquistadores empregavam o processo da eliminação das gen tes submetidas, os portugueses des de logo se destacavam por um mé todo bem diferente, o da assimila ção racial. O mesmo se dava no concernente ao govêimo e à admi nistração.
ííêncics fio fi:xo. finrdidíKle
llõ. pi in*m. uma í uperior, qin* especial mente os primeiros reis têm à vis ta: fazer nfjvas cristanflades. Nin
guém tão pouco poderá contestar, a nao ser prjr paixão, f) sentido niti damente missionário da ção do Brasil. colnnizameio ambiente.
norte do continente. pério”.
comum. nia gira
contestará o fito mercantil dos por tugueses de então. Em certas oca siões, a política aplicada na colôtôda ela em tôrno das exi-
Sendo assim, não organização da colônia se zasse por no Reino.
admi integração uma
Não se elaborou
ra que a caraterinenhum jurídica estatuto que Brasil, qualquer rioridade jurídica. A.s mesmas leis vigoravam alem c aquém-mar diferenças faziam sentir po do direito público, dade luso-brasileira

viesse criar, i>ara o situaçao de infeAs ■«o no camPois a sociecm formação , , , , - ao Reino, estruturado na base das classes ou ordens sociais, dos concelho.s c dos agrupamentos
não podia equiparar-se corporativos Tenha-se presente aliás um fato de suma relevância para bem com preender o sentido do Império lu so na América. A colonização não foi uma obra destinada a satisfazer interesses meramente materiais. Não foi o resultado de empresas mercan tis, à maneira dos estabelecimentos ingleses ao Tratava-se de “dilatar a Fé e o ImIgreja e Estado davam-se
, Daí, por exemplo, a ausência de repre sentação nas Cortes (1). gob D João VI seguiríam para Lisboa depu tados brasileiros, quando aquelas tradicionais assembléias eram subs-
(1) Informa entretanto Cortines Laxe. i no Regimento das Câmaras Municipais! ● Introdução, n.o 3, quo fizeram uso do cH- ' reito de nomear procuradores às Côrtes a Câmara do Rio de Janeiro, em 1041 c a de São Luís do Maranhão, em 1685. Vejase CARVALHO MOURAO, Os municípios. Sua importância política no Brasil-colonlal e no Brasil-Reino. Situação cm quo ficaram no Brasil-Império, etc., tese apresentada ao I.° Congresso de História Nacional, Revista do Instituto Histórico e Geográfico, Tomo especial, parte HL pág. 309.
í'
h
í<
f:
mãos para levar avante um emNinguém as preendimento h*: l^● i 4
lituídas pvla prÍMU*iia Constituinte
Já então eslava plenamon- libcrnl.
to assegurada n igu.aklade do Bra sil com Portugal, tc fln Heino unido. Formavamos parK j)í‘ecisamcntt' atitude imprtulentt' o pnn‘oca- pcln dora da Cnn.stituintc. esta união se ria rompiíla.
Kntrc matadas ro. município. sa
as instituições lusas acliao meio ambii‘nte brasileinao podia tieixar de figurar o A klonarquia porluguétivei‘n sempre um cunho popu-
Nos primeir»>s tempos, as po das cidatles recebiam prilar. pulaçõcs vilcgio.s dos Reis sa dos auxílios como recomponprestados na luta Mais tarde, pamesmas populações eoncccontra os mouros. ra e.ssas
Ihias tornava a apelar o Rei ao cnNobreza o o Clero. As frentar a liberdades ou franquias municipais não custavam o preço do sangue, nias eram o entre o Rei e as Brasil não havia
como noutros países, fruto da aliança comunas. No mouros a combater, nem contas a ajustar entre o soberano e as clas ses aristocráticas. O municipalismo surgia como consequência natu ral do particularismo geográfico dispersivo e em continuidade com a tradição dos concelhos portugueses. Os dispositivos a i*espeito, contidos nas Ordenações do Reino, vigora vam para reger as incipientes co munas brasileiras.

Ao (undnr uma vila. fazendo le vantar o pelourinho, nomeando os primeiros funcionários, convocando os homens bons do lugar, os capi tães donatários procuravam atender a necessidades do momento. Guia va-os o empirismo das tradições que conheciam c das condições novas a que SC iam acomodando. Não vi nham com idéias preconcebidas. Não estavam aferrados a categorias jurídicas. Não se inspiravam em motivos ideológicos, Nem mesmo planos traziam, práticos.
Divergem o.s historiadores no apreciar o desenvolvimento das ins tituições municipais plantadas pelos lusitanos em terras brasUicas. Ob servações restritas a uma determi nada região ou a alguns municípios tem por vézes levado os estudiosos do assunto a concluir unilateralmen te, afirmando, com João Francisco Lisboa, a onipotência das câmaras, ou negando o alcance do princípio da autonomia municipal na fase da colonização.
Compulsemos os documentos, e havemos de ver que aquelas insti tuições floresceram nos principais núcleos da vida colonial. Era o sis tema normalmente posto em prá tica, no tempo das capitanias, do govêrno geral, do Vice-Reinado.
perfeitamente delineados Eram sobretudo homens exo A
Houve, porém, obstáculos à sua pansão e dificuldades que lhe impediram desenvolvimento, administração da zona aurífera, por exemplo, ou do distrito diaman tino não se coadunava com 0 princípio da
r>Tf:rrro Kmv(S\nro
«autonomia. As liberdades locíus senam trmbóm .sacrificadas pela Icn, dencia
XVIU. cenlralizariorn : século no c^uando a política pomi>::li-
dandn íírjíieni ao rlá niral <onsti1’JÍíitj em torno dr» fri/ondí-iiD «iti do í-nhor d(- (-ne.onho.
● na aplicava na Metrópf>le íjs pre<ci tos do despotismo c.sclarecido. D.-yiava-se a Realeza du ícntido popu^ lar de outrore podia deixar de nistração
, o esta ten iência nâo se refletir na adiniultram; dos '■jominio~ i ●
● Brasil, ' mais chegar jança das comunas maram-sc?
1 <|Ui- n.i* oX i>tra c a ctmclu.' .
dida
I‘ o no i cju« r ti s(- cntiv n«')s \'ida inunicij)al. Ouo a -Cl <lai «ii pj e as;-irii a p-jdoinos foirmi-
lar: o municipa lismo brasileiro Icum cunho prcdominanícmonlo Kaí) SC luaticava ■ ) su-
como (Jliveira Viana mos¬
no.ss am a ' alcançar a j)ueuropóias. Fore.stas pelo agruiDamento espontâneo dos vizinhos, já tinham
ve arislccráíico. nnos. < raiti os a clilc- 1 )cal. pnrlu/L;uéilas
É certo, em Populações meridionais do ejue
unive.-rs; 1; eleitores “homens bons'*, isto é, con.-tituifla pf>r fidalgos
trou * seus dcsceiKlc nt<-s oficiais trofjas, funcionários táidos i-urais
fj.s municipujs ja-
S(.*S ( CIVI.S, I)rc)p comerciantes
ricpo.sEm São Pauh) de Piralini CUJOS sentimentos de
<le ses. nga. autonomia ío fonnava- tão intensos, ram sem]:)i(‘
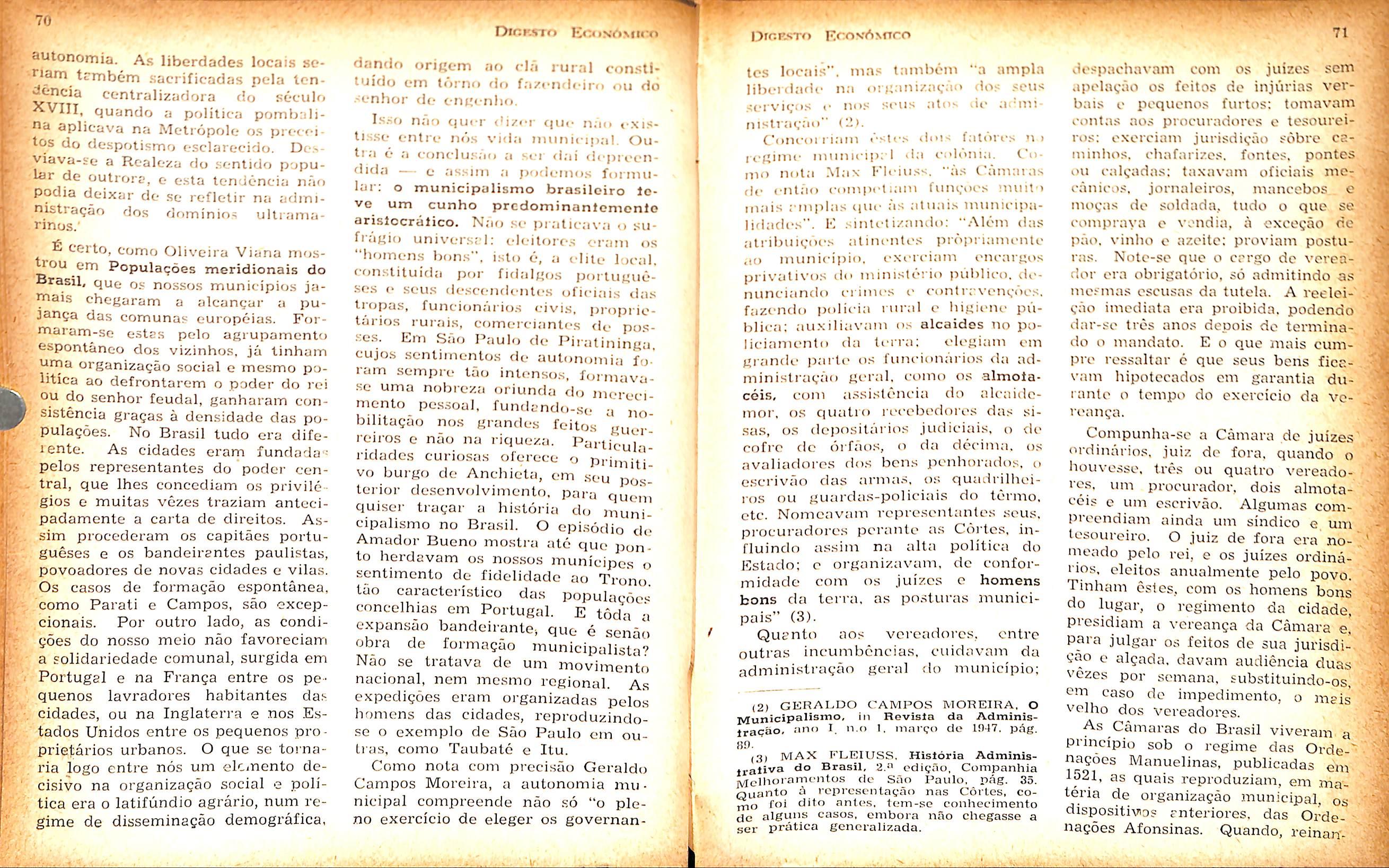
□ ram con-
organização social c mesmo p M ')● , litíca ao defrontarem o poder do l í-i ou do senhor feudal, ganh sistôncia graça.s à den.sidado da.s po pulações. No Brasil tudo era difelente.
As cidades eram fundada
cen-
se uma nobreza oriunda d mento pe.s.soaJ. fundand
bilitaçâo onos grande.s fei
o inerecia no- .se tos i'OÍroB e nao na riqueza, ridaclcs curiosas oferece
guerí^arlicLil; Piiiniticm .seu
1pospelos representantes do poder . trai, que lhes concediam os privilc gios e muitas vezes traziam anteci*li
quisei- traçar a históiia ch cipalismo no Brasil.
Amador Bueno mostra até to herdavam qtio j)onos nos.sos inuníeipes sentimento do fidelidade ao Trono tao caraclcrísticü 1 l' -
concelhias em Portugal.
, , ^ tôcla a expansao bandeirante, que é senão obra de formação
Não se tratava de
municipalista? um movimentí)
nacional, nem mesmo regional, expedições eram
homens das cidades, reproduzíndoso o exemplo de São Paulo
As üi-ganizadas pelos ein ou¬
q U(Mu m uniO cpi.Südio de ) padamente a carta de direitos. As sim procederam os capitães portu gueses e os bandeirantes paulistas, povoadores de nova.s cidades e vilas. Os casos de formação espontânea, como Parati e Campos, são excep cionais. Por outro lado, as condi ções do nosso meio não favoreciam a solidariedade comunal, surgida em Portugal e na França entre os pe quenos lavradores habitantes das cidades, ou na Inglaterra e nos Es tados Unidos entre os pequenos pro prietários urbanos. O que se torna ria logo entre nós um elemento de cisivo na organização social e polí tica era o latifúndio agrário, num re gime de disseminação demográfica,
f tras, como Taubató e Itu.
Como nota com precisão Gerald Campos Moreira, a autonomia mu nicipal compreende não só “o ple no exercício de eleger os governan\ J
o
r ● 70 Difir.M t I í*
.●
I
●0
h*
vo burgo de Anchiela, terior desenvolvimento. para
<) das j3opuIaçôos
tos Ií»cais’*. ma.lihci<lanc na -civi(;.>s *● n>>s ni<tracai)“
também “a ampla
<t: ;;ani/ac-i-* do: seU': srii'; ati" ie a hm
c--dnnia. n ) r .ia 1 tgmum>)
(’()nc(>i riam numirip. nota Max I‘*Iciusv. rnmpi t.am fimcars muit i
t'ãm:n a.-N as cnla(* mais amplas cjui' as atuai.-' municipalidaclc.s". K alribuicuv.-'
d(inli-ti/aiivlo: ●‘Além das almcnti'S inoi^rianuaUe numieipin. rxi iauam t-neargos mimstévin publico, vlocTÍm('S i' cuntra\'i‘nc‘H's.
M » pri\’ativí)s d< nunciando fazendo hlica: liciamenlo
giíindc parlt' minislracão
ceis, eom mor. os cpiatio sas, os dejjnsilãrios cofre dc órfãos, avaliadores dos
poliida rural c higicnc puauxiliavam o.- alcaidos no po da li-rra: elegiam cm os funeionarios da adgc-ral. eomo os almolaassislência do aleaidcrceebc'dores das sijudiciais. o de o da déeinia. os bens penliorados. das arma.s. os quiivlrilhciít
viospaohavnm com os juízos som apelação os feitos do injúrias ver bais e pequenos furtos: tomavam eontas aos procuradores e tesourei ros: exerciam jurisdição sòbre ca minhos, chafarizes, fontes, pontes ou calcadas: taxavam oficiais me cânicos. jornaleiros. mancebos o mocas de soldada, tudo o que se i-ompraya e vendia, à cxcoçâo de pão. vinlio e azeite: proviam postu ras. Note-se que o cargo de verea dor era obrigatório, só admitindo as me.^^^mas escusas da tutela. A reelei ção imediata era proibida, podendo dar-se três anos depois de termina<io o mandato. E o que mais cum pre ressaltar c que seus bens .fica vam hipotecados cm garantia dulante o tempo do cxorcicio da veroanca.
Compunha-se a Câmara dc juizes ■ juiz de fora, quando três ou quatro vereadoproeurador, dois almota-
pi'ocuradores fluindo
Estado:
midade com os juizes c homens bons da terra, as po.sturas munici pais” (3).
Quanto aos vereadores, entre outras incumbências, cuidavam da administração geral do município:
o <n*dinários. houvesse, escrivão res. um guardas-policiais do tèrmo. ros ou etc. Nomeavuim repre.senlanles seus. perante as Còrtes. inassim na alta política do o organizavam, dc eonfor-
Algumas come um O juiz de fora cra no meado pelo rei, e os juizes ordiná rios. eleitos anualmcnte pelo povo. ' Tinham estes, com os homens bons do lugar, o regimento da cidade, presidiam a voreança da Câmara e! para julgar os feitos de sua jurisdi ção e alçada, davam audiência duas vezes por semana
ecis c um escrivão, preendiam ainda um síndico tesoureiro.
, substituindo caso de impedimento, velho dos vereadore
S. o mais
«0.
(31 mo dc alguns casos, embora nao chegasse a prática generalizada. ser
As Câmaras do Brasil viveram princípio sob
“O S. o regime das Ord
(2) GERALDO CAMPOS MOREIRA. O Municipalismo, in Rovisla da Adminisíino I. n.o I, março de 1047. pág. iraçáo. a e-'
nações Manuelinas, publicadas 1521, as quais reproduziam, teria de organização municipal, dispositivo? anteriores, das Orde nações Afonsinas. Quando, reinam
em em m㬠os
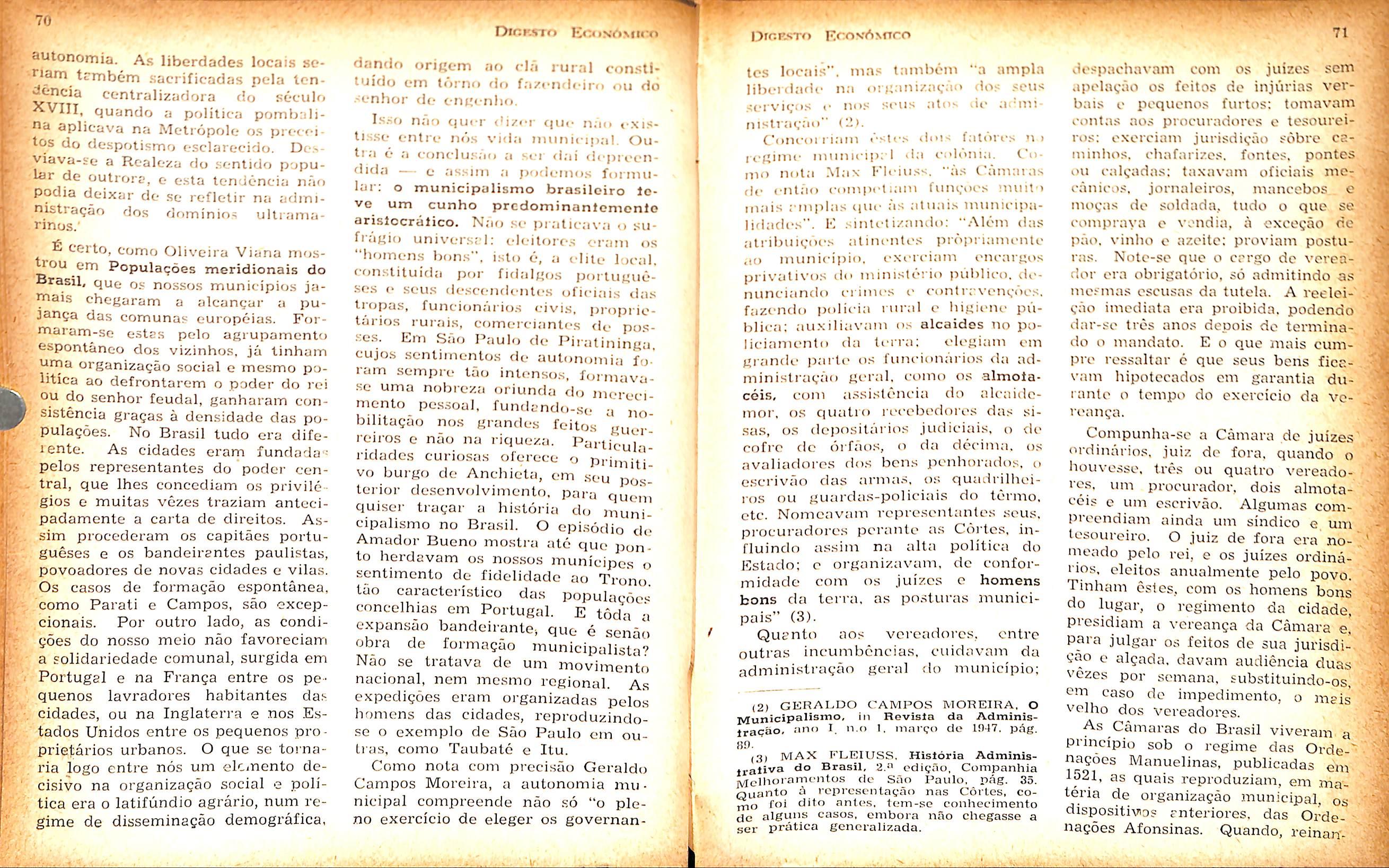
N 71 l^ír.r.sTí» I'ros*rtNfTro
/
MAX FL.RIUSS. História Adminis trativa do Brasil. 2.*’ edição. Companhia Mcilíoramentos de São 1’aiilo. pág. 35. Quanto à reprc.sentação nas Côrles, co- foi dito antes. 1em-sc conliecimento o _1 *j ).
do Felipe II, foi feita a reforma daquelas Ordenações, algumas imporf tantes modificações se introduziram ^ no tocante à organização das Càma[ ■ ras e seu modo de eleição. Reduzir ram-se as funções judiciárias, acenI' tuando-se o caráter adminií-lrativc» dos corpos de vereança. Tal regi me durou até a lei de 1.® de outu bro de 1828.
r \j
V c' < mo
>* '
I
h f. f rj
O segundo, e mais forte, seria dado pelo Ato Adicional. Ao retirar <las Câmaras atribuições legislativas e subordinar muitas de suas resolu ções ao Conselho Geral da Provín cia, a Monarquia brasileira, sofren do as influências do liberalismo da época, preparava as incomprcensões de que resultaria fortalecido o ideal federativo. Parece tê-lo compreen dido Ouro Preto, quando tardiamen te elaborou o seu programa de re forma, baseado no fortalecimento do município. Era o último gabine te do Império. E a República fe derativa viria dar no municipalisum terceiro golpe.. . quase se poderia dizer o golpe de misericór dia (4).
.*nli .«nhas se desvaejuistas. Imprimindo ã liiiela dos municípios uma forma juridica, mais exten.^^a e inai.s dcjíies.siva do cjuc n do regime anterior, é fui'a cie dú vida que o Ato Adicional ompiorou a sorte das municipalida des, como foi uma contradição pal pável com os mesmos princípios de liberdade administrativa viam incitado n 1834” (5).
A ilusão descentralizad adeptos da renasceu mais forte com guindo a Rui Barbosa, Federação a qualquer preço, a Federação, sacrificando-sc cípio monárquico. E qual foi .● » ^ I ' M
sequcncia, para o regime municipal, que é a pedra de toque da verda deira descentralização política?
A Constituição dc 1091 d eu aos
,
(4) É estranho que Carvalho Mourão, depois de analisar o amesquinhamento do município em consequência da lei de l.° de outubro de 1828 e do Ato Adicional, tenha concluído: “Estava reservada à Re pública a glória de instaurar no Brasil a verdadeira autonomia municipal” {op. cit pág, 318). Foi precisamente o contrádeii. A descentralização federa- no que se
, em O Municíoio e o Reçfime Representativo Brasil,' Rio de Janeiro. 1948. no
Q n conccna
(5) J. A. CARNEIRO MAIA. O MunlcíEstudo sôbre Administração Lo-
cal. Rio, 1883. págs. XV e 229, apud VÍ TOR NUNES LEAL, op. cit.. pág. 217-218.

72 l>inKMo Kcxjsóstuo
Esta lei foi o primeiro golpe des ferido no municipalismo brasileiro. t
Sóbre os efeitos do Ato Adicio nal na organização dos municípios.
diz bem òstc expressivo <Iepoimcnto: **0 Ato Adiciíjnal alou as no.csas câmaras a um p')?-!*- de para deseativá-la.'-' é i)rceiM» um trilho ou sado que vá dir<-ilo ao i-lo «.ia ca deia. . . O Al() A«lu-mn;!l foi j)ara as cámara.s municipai do ííraMl um legado funestíí <ia rovoluçao. Não é a piameira vez «jue «» d«*sjj<ilismo administrativo suijíc da.s de uma democracia, <jlic nece com o c*splcndor do con-nao so !ui- CiUC reforma do ora dos monarquia federativa os ciue, scqueriam a Veio o prina con-
Estados mais do que às províncias dera o Ato Adicional, tração de poderes no governo esta dual tornou meramente platônica declaração do seu artigo 68 relativa à autonomia dos municípios.
ficertadamente Pondera Vítor , tíva implicou em centralizaçao em favor dos Estados, com prejuízo dos municícompreendeu Vítor Nunes Coronelismo, Enxada e Voto: plos. Bem _o Leal
pio
tadual. fraqucciminto <x iste processo, trai.
IT. O lítica exercido víncia, dclegad('s
Kovérno federnl só tinha duas aitcrnativns: ou declarar guerra às si tuações estaduais, ou compor-sc eom elas num sistema de compro misso que. simultàneamente, consolida.<se o governo federal e os go vernos estaduais.
1 i
■1
●> I
a na no ●_I
cenf iança.
próprio poder central se consolidou sistema eoncen- de um alravcs
do poclor provincial, isto é. tJ açao , . . pelo amesquinhamenlo dos munieiNão seria, pois, de estranhar pi'ovíncias c, mais tarde, os procuraram enfrentar o centro.
]J!OS. que as Estados, nir forças para quando rcua utilizar o mesmo Aliás, a tutela do muniseu favor o pêso da cm
continuassem processo, cípio tinha tradição.

ulterior da República federativa ilustra plcnamcntc essa interpretação. No lugar do presi dente de província todo-poderoso. viria instalar-se o todo-poderoso goCampos Sales
n
A concentração do
contração do poder nos Estados à custa dos municípios” (6).
_^
assim como entre a União e os Es- ' taclos se estabelecia a “política dos governadores”, no âmbito das re lações Gstaduais-municipais se for mava a “política dos coronéis”. E dê.ste modo
u os nossos juristas-idea-
_Í
V - i.
em
que se co-
tica dos governadores”.
Observa o política dos mais eficiente pai'a fortalecer o poder estadual do
_Á
mesmo Autor que tal coronéis” foi muito ■3 n que a “política
i
KroSíSxnro o ntr.r.STo
Nunes Leal: ‘A concentração do po der cm no.sso pais. tanto na ordem nacional como na provincial ou espro(H'ssou-si.' através do endo inunicíj^io. Não nicnoj' cv>nt i'adição ncssi* sabiilo cpie o poilor cenMt>nai quia. não mantendo c(tm o municí}>io si^não palulelar. assentava sua fõrça poinando incontrastãvcl pclo.s ini‘sicU'ntos dc prodc sua imediata Conscíiuenlemente.
"Para que o processo se desdo brasse por essa forma, o bode ex piatório teria de ser inevitàvclnientc 0 município, sacrificado na sua autonomia. Entre nós, tanto o exe cutivo como o legislativo e o judi ciário federais favoreceram a con-
H
relações
i lí 1
Procurava-se com isso evitar que os municípios, num regime de
franquias muito amplas, caíssem _i nas mãos das oligarquias locais. Mas
5 *●4
listas, que pretendiam limitar o po der dos municípios para impedir as oligarquias locais, acabaram dando aos governadores os meios de que In se serviram êles para montar, seu proveito, essas mesmas oligar quias locais, fundando, assim, as oli- ■ garquias estaduais que davam lu gar, por sua vez, a esta outra forma de entendimento — entre os Estados e a União
“A história vernador de Estado, não tardaria a inaugurar a chamada política dos governadores”, que era rnais o reconhecimento de um fato consumado que invenção de seu ta lento político, poder continuava a processar-se na órbita estadual, exatamente como sucedia na esfera provincial duran te o Império; mas, como a eleição rio governador do Estado não depentão puramente da vontade do centro como outrora a nomeação do presidente de província, o chefe do
nhece em nossa história por “polí-
(6) VÍTOR NUNES LEAL. op. clt.. pág. b í â 70.
su¬ cs (}ie b; 1lai degola”, ]>ro gene Coi.sa parecida podiam
tro coirenií- polítir.i municipal. Se melhante
írequentonirnt<n;if> It iu iit
pmee. rli- pei.-^uasao. dc vjolcnt á 1111) 11
mi- ma reprn u Vâfj no; !■: p i : provocar no àiiil>it<
uio jjoKjue a nicipio (.-in face <Io K lado
dos governadores'* para rcfoiçar n poder federal. Duas armas podert»sas, nas mãos do Presidente <ia Ii> pública, eram íjs auxílios para .Klual a prir a csca.s.sez das renda.s estaduais e o reconhecimento de podei podia, atiavés da “i a entrada do Congres.*^!) ao.- ficpu tados e senadores elcito.s pelo.s cessos fraudulentos, bastante ralizados.
proporcional à iiii])orlãncia !ado lí-Iativaincnti- à 'rais os caminhti.s <● <lcsc fazer os gfjvernos e.staduais Ifcção às com rcí-ituações municij)ais. Ma quando se tratasse de submeter recalcitrantes. se falhassem
oO.S llK.-lo .
<ju«- a m ií : vt*n● ● «vt-nlualuionle > nacj. »nal. importância mosdo munao e <i*» K.c 1'niao” i7).
aminlu)s <juc tem siflo jx-rcoj i ido.s j>id nií-ipalismo bra.-^ileiro. deste bieve
o mu Se, <.lep()j.-< rcli ospec to tlu I3a.''- ailu. ainda as lades do pre.-enle <● futui o. desde logo
. suasórios, mais fácil eru o unipicg-. da violência para os gov(;inf)s dEstado junto íío< chefes municipai do que para o da Ünião junto às si tuações estaduais, nha que
l uo,-: ma e sempre perigosa da interven ção federal, capaz de provocar comoção política nacional, governo do Estado, meios normais’’
Èste último lia medida extre
recorrer uma Para o falhando os <1 — nomeação
o conou-
et,nsirlc-rá''.‘ enios IJo.ssibili a.●^ {3»‘rspt.‘eUvas ■ I encontrai ia ema. a os Assim a fornu-ção
outi-o.s elementos d(j probl allerarem lunrla mental mente eus lê-nnos.
ila.s gian !es cklades, ãs (juais evidentenu-nte nãf) podem ser aplicatb categorias do municij^alisnio cional ou as transfoiniações da da rural, quer quanto ao icginie d-' proprieclarlc, quer (juanlo ao.s tumes políticos.
Em face dessas novas .sociai.s, cumpre elaborar teoria do jnunicípio.

foncliçoes uma nova
is as IradiVI, fa vores, empréstimos, obras públicas — 0 destacamento policial, sob : comando de um delegado eficiente, poderia com relativa facilidade vencer os “coronéis” recalcitrantes, e de certo não faltaria, nesta hij:>ó^ ' tese, a colaboração calorosa de
H) VÍTOR NUNES LEAL. loc. clt.
I ■* Dicwfo K< í»v.*\iicO
/ 1
CRÔNICA DA INFLAÇAO CRÔNICA/
 AlJX' M. A7.rVI-J>f>
AlJX' M. A7.rVI-J>f>
Em >iKi iTU<hla ●HlSToHlA KCO* NoMK*A HHASIL*'. o j:au-
.if>so e<‘«>ni>nusta l' nntavi’l en,et'nlieiHnhviln Simon.^en avaliava a depri’C‘iaçá<> da m^wda. di‘sile o deseobrinicnli' alé líKlT assim:
I í>
■‘Kntiv 1700 a laoa. a 1500 e moe<la
o pi*l iodo tU“ metálica ptutu^uèsa se dede -1 vêzes. Knlre
preciou em ceriM
niOÍJ (' 19.87. o ri'al brasileiro se dee o ijortuguês. cèr- ●c*inu 8.5 vê/.t‘S l)i'S<U' o ik“scobrimento real já se depreciou, nós, cm mais de 140 uma quebra de 4 Isso sem entrarmos em consideração quanto ílutuações do poder aquisitivo dos melais pn^ciosos." (Tomo I, pá-
pre ca de 50. do Brasil, o portanto, para vezes, das cpiais \-ézc.s cabe ã lua c(donial. as gina 114).
De 1987 para 1952, a depreciação da moeda é da ordem de (3 vêzes, donde se conclui que o Brasil tem dia uma unidade monetã- hoje em vale apenas um oitocentos na que e quarenta avos (1/840) do que va lia no tempo de Pedro Alvares CaÊsse fato histórico reflete bral. . -
Entre essas ilacionário da moeda. eauías procípuas, uma existe Que, n meu ver. ê responsável não só peia inflação crônica da moeda como mesmo pola lenta evolução de nos* I\efiro-mc ã írndôncia. so pais.
muito brasileira e dos colonizadores o imitiranlcs. passados c eontempo-, rãneos. de especular e obter ganhoS' elevrdo.=5 com pequeno esforço e pouco trabalho.
o no
estado crônico de nossa inflação monetária, cujo impulso, adquirido primeiro império, se acelerou consicleràvelmcnte na república, pa ra tornar-se vertiginoso nos últimos
dez anos.
Mas, creio que não nos devemos ater cxclusivamente ao aspecto mo netário ele nossa inflação, tras causas, que poderia denominar primárias, que atuam mais profun damente o que dãíi azo ao surto in-
Há ou-
na O
Essa tendência, observável íàcilmente, ó um mal terrível e conta gioso. que- contamina todas as ativiílades. especialmente as de ordem econômica, resultando, consequen temente, a baixa produtividade do brasileiro c do Brasil. O espírito aventureiro dos primeiros brancos ' que aportaram às costas da Terra de Santa Cruz, ainda formados peIas excursões do pilhagem às índias e à África, dificilmente se habituaao trabalho constante e duro, anos afora, para acumular riquezas.’ impressionante livro do enge nheiro Eudoro Berlinck (“FATÔ- ' RES ADVERSOS NA FORMAÇÃO. BRASILEIRA") escrito em 1948, de monstra documentadamente essa tese.
Quando vemos ainda hoje, nas nossas assembléias legislativas, a apresentação de projetos sucessivos,, ora de “abonos”, ora de redução do tempo de trabalho de certas catego- ● rias de funcionáidos, de modo a apo sentá-los ainda em pleno vigor ■— v., na verdade estamos tomando conhe- ● cimento dos frutos daquela menta-^
lidade voraz e oportunista, que só pensa no dia de hoje c dilapida os reservas futuras. Realmente, cada atentado contra a economia pública nada mais é do que uma forma de carcomer a moeda, e isto acontece há séculos...
Não é preciso ser um grande ma temático ou possuir profundos co
nhecimentos atuariais para com preender uma depreciação monetá ria da ordem de 840 que ela se refere ao longo período de 452
vézes. É exato anos o
, transcorrido desde Mesmo assirn, tal desvalorização dá a média anual de 1%%
descobrimento. a juros compostos

. . .
^e que o juro legal màxuiío è de 12%?
Mas, a
Kfi. lai;-. « 1 a a Mia crue¬ za <íbjctiva, proce.sí.íj da cc<momia c.tjiit.ile.ia jujfre uma "cio.-.áo'' c aitinu.
Eis a verdade cm lú'
‘lídl^NíCS, €1 ». <‘ <jue jui.liíicar ; tc os «■« 'nõm:vem alto.H lucro.s <ia.s aliviibuií*;
cas no lira.sil. vados renfliincnirj-. mente em no.sso pais pitalislas fscai larn cu(ia pobres. .
Se iiatí ío in
r.im os olcobtido;, n< iiinalloi io;. 11S ca\av mais
Por con.seguinlc. ha a lei de (ireshem: a
suas
ai.'' ilo quo moeda ruim expulsa a boa moeda, di-lenora caráter do povo e introduz a ganân cia de.smedida como procedimento normal e regular. Como vemos, a situação final resulta de uma in teração do social sobre o Oeonómico e vice-versa. Se o espírito aventu reiro e raj)ace, introduzido no Bra sil com os primeiros c até os últi mos imigrantes, todos mais ou me nos ávidos de lucros relampag*us. ' atuou cnfãticamentc para chegar mos à situação de querer ganhar sem esforço algum, por outro lado, a política financeira dos sucessivos governos, desde os tempos coloniais e principalmcntc no período repu blicano, com acentuado destaque dos últimos dez anos, obedeceu geral mente a uma errônea orien tação, alimentando a infla ção por todos os meios modos.
Êsses números explicam uma sé rie de fatôres negativos de economia. Se, por um lado, o espí rito da aventura exige ganhos rá pidos para satisfazer ambições, por outro, não há incentivo algum para a pou pança, que é a base da for mação de capitais. Como seria possível a acumulação de capitais em um país que apresenta tal taxa de depreciação da moeda? Como poderia oferecer rendimento um capital que perdo mais de 12% ao ano, considerandor j wsasisS
com uma
Vejamos alguns dos prin cipais efeitos desastrosos. Já apontamos o que acontece a poupança e com os capitais, desestimulada completamente
e os outros diluídos ano por nno om perdas sub-reptícias superiores ao
7e Dicdto £(x>Kó>.no>
e
o
nos últimos tempos a situação é rnuito mais grave: segundo os da dos de Pioberto Simonsen, a desva lorização de 35 vézes verificada en tre 1808 e 1937, equivale à taxa mé dia de 2,3%, E se nos restringir mos apenas ao período de 1937 1952, com uma desvalorização de cerca de 6 vézes, chegaremos à terrificante taxa depreciativa de 12,1% ao ano!. . . Nesse período, houve um ano em que a depreciação pas sou de 20%!. . . I
nossa
Mas, o regime
rendimento legal. ^

iijOislii brasileiro c atingido duviriudc da constante Basta obcapit rjimcnlf em inonetarin.
riamos orientar n nossa poUtica econômica no sentido de atrair capitais ● Mas, como vemos, a estrangeiros.
suboit , apitai reconhecido, èslc ●‘eu.'to lúslôrieo". nada
l> da
mais
Ora. ê do ^.j;távei.
com inaií^ do nra
Outro setor igualmente atingido é 0 do seguro de vida. Num pais moeda de valor de- ^ nossa, 0 seguro de l que possui uma crescente como a
ssiiposto de uma mooaquisilivo No caso se torna, com í i
f) correi
íorçosamente tom pois que ‘ a da tivo
u o U menos sil. lal sistema ● dc)s tempos, uma iniquidaAs emprêsas ile serviços de uti,. ,* fic pública , vida longa, bem maior do que t indivíduo e é justamcnle de^ de decorridos muitos lustros disparidade do poder aquisimoeda. no processo de suas depreciações.
Estas considerações servem para alertar os brasileiros, mais uma vez tanto os que exei'cem cargos de res- 4 ponsabilidade da administração cocontribuintes, para os males < mo os sucessivas
se torna AS ÔSPC /-.nrrôncia i
da ria, não como cornP^^’"'^' exemplo.
tarifas, fixadas em relação a custo, vao-se tornando, na dedcprcciaçao inonetaremunerar.
nadequadas para pitai propriamente dito. Basta
só o ca possuidor das açoes. significava, por o que
o te.
8% de CrS 100.000,00 em valor atualmen-
1900, com o i-ncsmo Êm 1900 uma pessoa podia viver uma renda anual
decentemente com CrS 8.000,00; hoje em dia, essa importância mal daria para suas despesas
de rnensais. . . ios da poupança e dos investimentos io culta
Considerando-se que o Brasil, pemotivos expostos — desestímudescapitalização sempre
i deficiência de capitais, deve¬ sofreu o
da inflação e da mentalidade ciga na que predomina em nossas ativi dades, com graves e profundos danos econômicos e morais. Nenhu ma nação, vivendo sob tal regime de exploração do futuro para o gô- i zo do presente, pode perdurar so berana e independente por muito tempo. Há limites para isso tam bém e acredito que nós já estamos nos aproximando dêles.
.3 .4 s
Todos os velhos brasileiros, com raríssimas exceções, têm o fim da vida atormentado pelo exagerado S custo das utilidades, pois há uma ^ tendência natural para aferir tudo pelos padrões que vigoravam na mo- ' cidade. A depreciação da moeda, ^ não obstante sua continuidade, pro- à
Olf.» hr.oNíSMif ●»
ao relaÇ‘‘^‘
elo
servar suee(ie com as empre*c' i; <li* sci v;<;t>s públicoS. om regra linacias a um regime de tarif' fisadas pi*lo poder público, na <ie rrndmu-nto limitado em o
oaleuh‘<b>
eiistí' hislorico
política monetária brasileira e exa tamente pera afugentar os recursos estrangeiros, cujo rendimento em nossa terra, se não alcançar taxa'j ^ percentuais exageradas, torna-se ne- 1 gativo, com o dccun?o do tempo e l da inflação crônica.
poiler constante. vida ó um instituto pouco atraente, poixiuc o segurado vai pagando o prêmio coni moeda mellior do que aquela que servirá para pagar o seguro. a não ser que_ êle morra cedo, o que também não é muito ^ atraente.
ão angustiosa para no^os velhos, todos sofrendo de ma psicose de pobreza diante dos altos Valores d Seria todos
esforçaria produtividade.
as coisas. . .
voca essa sensaç para serem IcRaclas nos filhos o i tos em forma n.-produliva. hem há eapital.
As pí*ssf>; s responsável" pelos ííócius públicos. ])●)!● seu hulo. o devf*r de asse/,'urar á moeda, ó o fíii tão de \'isila de oin \'£ilr)r está\'el.
uma produtividade para nuo uma naçào^ ’ Só ;i.";sim. s('guin.’ o Vil.
do uma ijolítica finance ira orlodo. xa, poderá o Brasil consolular lor de sua moeda e vencer a desnio. elida ambiçáo der ^anho que a infla, çao promov'o.
e sua
gastando para melhorar
Por outro lado, senecessário incutir no espírito dc tocUos que riqueza não ó moeda nem clinhei deveríam cações
ro. seguras s,
As economias realizadas oncaminhar-se para aplie remuneradora r í .● > ■ r t ● k
Nada disso, porejm, será alcança, do, se perdurar a mentídidade rapj. oa e a moeda mirií^uanle, ractorjí^am nossa histchia, curando ííanhar .sem corroendo o «anlio dos produziram . . .
Que CG. uma pro. produzir o a outra que

i 1 i:
preciso que os brasileiros, os bra.sileiros, todos os habidóMe canto do continente mencano, reformassem do alto a oaixo seu modo de vida e ceito de riqueza. Modificando forma de viver e de ganhar oa, realizando vando-as para menos do praticaria 't
seu consua a vie i*cscr- economias o futuro, Ciue recebe, o brasileiro um cto de fé na moeda se
A CIVILIZAÇÃO DO PERU
●\roNso AlUNos PK Nhxo Fuanco
I
|'*« i'Ai»A ninii i-sju iu lionra s.niil.ir. c*orr«nt«s
Ihcurso (Ic saudação ao sr. Juan ,il j>ri\ iltA;io V « UI muni* ili* tocl.is as (!.'im.»ra ilos ix iu a
I''v.v«’ i .\/í;nij« / }\ i'ui Prado, Presidente da Câ~
pi clr. Sr. lu.m sidcnti- <la
i omp (1.) Bimm < |Ur Man (!àinar.i
I. i» n«>sM) iluslrr hósm i 1'i ua Prado. Prol)<pnlaiU)s do dos P<ru.
●pri's<*nlar no Br.isil. rm dc i i>nir.il« rni/avão. mu dos paipor loilos iís litulos. A llislória conlu*espetái nlo rcno\ado c po\()s i[uc* podetlc ionna(,*ão aristocráti-
ilustres. c Iiauiar
” tle lonnaçãtJ siluá-la "po\()S (|ue desejo figurando con
lória no faslos da vj te
inara dos Deptitados do Peru. foi pro ferido de im;>r«)t*ÍAO e reconstittiido sc^> uudo notas taqui<^ráficas. infcíizincnte luio ri't*ÍA7(> pelo ííiííor. Nesse trabalho, (jue rt'iT/ii c /)rí//jo literário, Afonso -\nru).v presta uma comovida homena<iem <) memória de seu Pai, o emi nente estadista e jurisconsulto Afrânio <le Melo Franco, o ««for da Paz dc l.etíeia. sem dúvida tim dos mais gjoriosos feitos da diplomacia brasileira reprodução desta or«j?í7o constitui ainda um preito dc louvor à nobre nação peruana.
mpo, ida coletiva os colocam, rcnl- eronista dc sua gente, aquele que gravou para sempre nas pãginas dos Conienfrfrios healcs a história das dinastias incaieas do Peru. tados. compreendemos, Srs. Depuo orgulho que tèm os peruanos
de uma aristocracia nienlc, nas alturas dc povos. O P(*ru. Srs. Deputados, ó nni destes privih-giados do nosso Conti nente, P‘da glória do seu passado, pela demsidade du stia eonlribtiição i\ cultura posição de guardas-avançadas, na sua dc sentinelas altaneiras da cultura aine- americana, poi, rcalnicnte. nos altiplanos andinos, duras fráguas e nos formidáveis pccordilheira (juc se aninhou das grandes ci\ilizaçücs pré-colomadinirável, u ainda hoje suridente civilização quitchua, o Iin-
nas nhascos da uma l)ianas. a prcci
deixou gravado na paisagem do Continente um dos mais comonc c q llOSSÍ)
espetáculos da criação humana, as páginas imarccscívc

dores
Quando lemos yeís de Garcilaso de la Vega, O genial
na sua \erdadeira ncana, no seu expressão e legítimo entendimento; a cultura autóctone da America, a cultura-cria dora dc uma grande língua, de uma grande ci\ ilização plástica, a cultura incaica, que deixou nas rochas do Peru, a falta do conhecimento da escrita e à falta de textos que pudessem ser ' pério dos Quitchua, <|ue chegou a condominar a \ ida de provàvelis dc dez milhões de súditos trolar e a mente nuns rememoradas para os pósteros, as pági nas mais fulgurantes da sua vida, que deixou, Srs. Deputados, aquele livro etercujas páginas de pedra ainda hoje esplendem ao sol da cordilheira e são espetáculos sempre renovados _M í:
.A
1
\'ctn S. l'Aa. ti vjaií«-o> toais scs d(; nt)sso ioulim utc. rcalimnli-. iascitianU* dos o C( , scnijirc <-\isl«* naiuos NTio ea. c(mlr.idi(.ii‘> na expressão arislocrátiea, poreonio exprimindo e aijuèles povos cuja trajeciija construção nos A
em no, que para
(odos os <juc ao Peru se dirigem: a ddnde de Cuzeo.
Cuzeo, livro de pedra de uina civili zação rjue é morta apenas porrjiie foi superada por outra, mas que verá sempre na cons ciência e no coração da Amêrical

vrss.imo.>». Srs. Drpiiíados. as trrr.is ndutKxtnníadiira. t.is (L ílrss.t província
«●spanhol.i, ílf oiult* (lfsprí*ii(l< r.mi da < onfjiiista
foi f jtn‘ (( tinii
o ninho
vive e VIcuque,
gr.ins csAmérica
f mos (● tomos oportuni dade íle nos dclor Plazji nd ràihildo, da cidade ele d'rujiilo de nasceu o herói da conquista peruana, cidade dc onde
nn , onnu Trujillo, ensaiou os seus
primeiros vôos dor o que cobriu con-
tigua.s do niar c as ser ras da cordilhei mos, Srs.
as bases de de, do >■
as ra, veb^eputados, uinn granp uma estupenda
cpopeia. ergue as suas paredes formidá veis de ped
suas torres cheias de ameias e dc
Aristocrático é ain da o Peru nos fastos da sua colonização ropéia. Quando per corremos a história do Lopez de Gómara, por exemplo, ou de outros cronistas da conquista do Pacífico, atrope lam-nos a mente e co movem-nos a imagina ção as figuras admirá veis da([ueles repre sentantes típicos do gênio ibérico atravessando, não ape nas o mar, mas a selva bravia; que, enfren tando, nâo apenas os riscos dos homens, mas os do deserto, conseguiram plantar a margem ocidental do nosso Continente à beira do oceano imen so que se desdobrava aos olhos atônitos, as sentar nas praias oci dentais do nosso Con tinente, dizia, não apenas a bandeira de Castela, mas também, a bandeira da cultura ocidental da Europa e da civiLzação crista. En tre esses, Cortez, Balboa e Pizarro colocam-se nos altos planos des sa imensa aventura. Quando atra-
ra. ns seleiras, enquanto frente palácio, tilde ao mesmo
e a esse mesmo em a ati- y tempo combativa e protetora, a estátua equestre do PizaiTO lembra aos es panhóis de hoje foram os espanhóis de onlcin
qu em um
foi a epopéia americana, truiu à sombra dc Pizarro e à sombra de Almagro, construiu à sombra dos capi tães espanhóis, na tragédia e no p: V' r.f p r
o que que conse o O Peru sangue.
"üicoTti EcoNÓaSBKip
●1
l
í I
/ .
l
asas as águias « sta pr«A irii ia <la Estromadura. Ixrço do r
(]ua.s'- todos drs (ofujuísladorrs pauhóis da — quando a atrawssaS'
lado da velha igreja, o Palácio dos Pizarros
sófica i!.ida através cio loque iinaginA- entro lotnidüs ela ^ sícAnos do c.ipa «‘ osp.ida. oon^-tniiu. Srs. nepul.ulos. uina OíN ili/.u;ão < i>ntin<-nt.d. nina civili/ação colonial quo tanto cjuanto a civiliz,t(,ão im aioa õ tandióin ainda hoje proti xto para adinirai,ão otnno\ ida dos ou tros paisfs da Atnóric*a.
Nessa oi vili/ai,ão orosccai Lima, a .idmirá\fl Lima. a Caizoo rspaniuil.i da Amérioa; a I.ima das fortunas gigan tescas do século X\'l; a lama de uma universidade* tainl>éin cjuinlientista; a Lima dl* Santa Hi»a; a Lima tantas vèzes evocada nas páginas sempre cálidas e sempre fre-scas como flores ri*céin-coIhidas, cpie são as páginas das “Tradiciones”, dc* Ricardo Palma.
Nós, liabilantcs da orla atlântica, to mos motivos para nos orgulhar com essa civilização andina, essa civilização dos Incas e dos Pizarros. E dela muitas vêzes nos aproximamos. A homens como Carcilaso dc' la Vega. cronista admirá vel do século XVI, podemos aproximar o nosso Gabriel Soares dc Sousa, do Tratado Descritivo do Rrasil”; o nosso Fernão Cardim, do “Tratado da Terra e da Gente do Brasil" c os demais jesuítas do primeiro século, que, nas suas crô nicas e nas suas cartas, realizaram obra dc uma literatura colonial tão rica e tão cálida como a do genial mestiço nascido na cidade dc Cnzco.
rio das viagens. Livro dc viagem toi ●*K1 Laz-irillo”, livro de viagem foi o M “Peregrino da América". E ainda aqui 4 itmio qne um laço superior de cultura m nos unia à ci\ ilização peniana. w
í*: ilesla grande civiliz.açâo histórica, .’i é desta enltura que enraiza as suas bases uo subsolo da América, ixirque subsolo .unericano é a América pré-colombiana, enraiza também as suas bases no < e que solo americano — tal é a civilização colo nial — que provém o nosso ilustre hóspoilc. Presidente Peiia Pmdo.

Pertence S. Exa. a uma das mais no- » tá\eis c beneméritas famílias do Peru. sen a\ ô. General Mariano Prado, foi o herói da defesa de Calliau contra a s 1 última tentativa espanhola de rcconquis- ^ la do Peru. FoÍ Mariano Prado quem defendeu Calhau contra a frota espa nhola c quem provocou a admiração de cronistas estrangeiros que assistiram a éste ojípctáculo dc uma cidade despro tegida e desavisada dos riscos que corria conseguir organizar rãpidamente a defesa popular e enfrentar, com êxito, o inimi go, superior cm armas e em número.
Mariano Prado, eleito depois Presi dente da República, teve filhos que se destacaram na História do Peru, na His tória da América. Heróis os seus filhos
Leôncio, Grócio e Justo, êste herói da Guerra pela Independência de Cuba, a última das guerras de independência do nosso Continente.
,
que
No século XVIII poderemos aproximar também da literatura peruana aquela literatura que nos deu êsse livro admirá vel que é “El Lazarillo de Ciegos Caminantes”, poderemos aproximar homens como o nosso Nuno Marques Pereira, do Peregrino da América", homens como o nosso Antonil da “Opulência do Brasil, pelas suas Drogas e Minas", homens seguiram aquele modo habitual,
são em Prado, ridos nosso
Manuel Prado, Presidente da República
- um dos mandatos recentes, e Jorge amigo, um dos mais queamigos do Brasil, por tantos anos Embaixador do seu país em nossa terra,
Ê desta aquôle processo frequente da literatura setecentista, uma lição da história filo-
gente ilustre; desta gente por tantos títulos tão representativa do
»r
u V,
V
<í
Filhos ainda de Mariano Prado
'<J^
j seu povo c cia sua terra que descende o ilustre Presidente Pefia Prado.
S. Exa. é, pes^-oalfie.-nlc, dos mais avisados, dos mais informados, dos mais exatos e df>s nsais coitos liisloriadorc.s da civilizar,ão pr-roana.
Os scos trabillios rcsplandr-ccrn na bibliografia histórica do I^eru, tanto os que dizem rcspr-ilo às civiliza^õr-s andi nas pré-colomhianas, como arjuólcs rpie estudam a época mais moderna do dcsenvolviriií-nto colonial.

Deputado ern várias legislaturas hoje, Presidente da Câmara Democrática do Peru, representa S. Exa. as h(;nras, nm com téidas dos poderes democráticos,
bates públicos, drntm do in.dor i'spirlto d<* jnsiif,a, deniro d.i mais (onlíniincla (radir,.ir) jorífljca, ch ntro <lo mais p«’rft'ilO Trat.ido
1'iO^J, rl.\id jirlo fl«-
riitendimeiilo ( ontim itial.
n taml»*-m an gémo ilu minado rh- Mio Hranro. (âíiii r-foito. foi íi» do líJOl,
hjK»is das rjucsttVs em fjii«- sf «-s
ineirti acordo provisiirit)
Harao e pelo ilustre
I lernandfí \’alarde
acordos lempoiiu ios «omissões mistas, uma clu-fia f!e um (los maio
' labrh-cc-o o priin-v;cu iado pclo Mtriistro peruano e, r tn seguida nos tom a cTÍavão daS entr<'gue à tlrlas
rw res g«-nios iJc (jUC se orgulha a litc-ratiira brasileira vez a iiitelig«‘iicia anierie.ma, Euelidcs da Càmha, foi depois «I exeeiilados por t«-etiieos lar«‘s íjiie o Hrasil em julho de HJOf),
I●SOS eiri uma Constitui«,ão, corno a de 1947, «pie atribui ao rumo pojiular do Pod Legislativo peruano tarefas de incontes tável importância e da
«T maior signifi
e talos trabalhos laboriot“ por milie o Peru assinaram, o 'rralatlo «jue diri-
caçao.
miu para sempre «juaisquer cjuestões ain da subsistenl«-s eutrcí os dois po\’os. resoK ido o procorn o Peru como com os demais países da América, acerca dos quais poderia haver dúvida si")bre as lindes ocidentais do í."
para o seu espírito de amcricanista.
Agora, desfruta o Brasil, mercê de Deus e graças à «jbra continuada dos seus estadistas, uma situação dc singular acolhimento no coração dc Iodos os poUm deputado brasileideputado democrático deste país pode, com ufania e tranquilidade, dizer desta tribuna, ao seu povo e aos outros povos da America, que o Brasil é um país que não tom, com nenhum dos povos americanos, qualquer questão que possa toldar ou anuviar de longe a limpidez das nossas relações internacionais.
vos americanos, ro, um em y-
A questão existente com o Peru, ini ciada por uma interpretação contraditória do Tratado de Santo Ildefonso, mantida seguida sob reserva pelo tratado
Imperial cie 1851, foi, como tantas ou tras, resolvida solamiente, à luz dos de-
Depois de ter assim blcma diretamcnle nosso país
cu
americanas, com rjueni tínliainos limites, pode o Brasil ler a suprema satisfação e a subida glória de intervir dirctanionte, não mais para decidir qualquer caso que de perto o ligasse a êlc e ao Peru, mas j para dirimir uma questão que se tornava arriscada e dolorosa entre o Peru e a
Colômbia.
V. Exas. Srs. Deputados, lerão naturalmenle pressentido (juc mo refiro ao problema de Letícia, onde o Brasil teve * a satisfação de prestar unia homenagem i na medida de suas possibilidades, um c,
/
üin»;^To ErosrtjiluO^^ &2 :
\
0
Não encontrará o ilustre Presidente Pena Prado, na sua pasjjagein pelo Brasil, senão motivos para satisfação conforto do seu e para coração de patriota e
tt , lindes principalmarclia gi gantesca do nosso povo para as direções do Ocslcj depois dc resolvida tôda essa questão — dizia
abertas desde o século XVI o mente no século XVII pela coin as nações V
*<T\i(,o h nobrr n.u,MO prninna. Não mo snliro rst«* i-.»pitulo, port|nr !u*lo
f ■ t .1 t
M.is jhmIio iininr <lr uu‘u pai. < I «● (Irxriri JU> fim
<1.1 sti.i .il.iiu r.idi) por (lorrs i-iuris íjur í» .itjiioii.im no tiiais \í\o ilos sru.s

prl.i irpulsa i-oin íjiM- assisli.i a nniilos dos csprl.uidos ipu*
« iilão SI- \ t ni ic-.ir.iin n.i politio.i n.icio<T.i, no ( nt.into. niotí\o do rofri^ório. (Io (onloito para o \clho oml)ai\.i(lor hr.isiloiro, a lomln.iiu,-.i. ‘pio ou.udon at«‘ os rdliinos di.is do >na oxistònoia na r« lin.í ainda niara\illi.ida j)ola nioimnia. (lo acolliitnonto triuidal <pio nn-rooiMi oin lodo a'pirio líiaiuU' País, ilosdo as praias
Devo repelir que foi para o velho Mini>lro hrasiloiní uma tias últimas o mais profumlas alegrias tio tòcla a sua
Sr. Pii-sidonU’ Pena Pratlo: \'0ss;i
l.Mvli-m i.i n-tomará ao .seu Pais certo rio «pu* o iu>sso acompauha
m.uvha asrvusioual para os grandes des tinos ipio o rsporam. E tpundo V. Exa. Ir.uispusr'!’ os altos cumes
\ois cahot.His i(ue resplaiulecem na cordillu-ira:
O seu na e os admiráaipiolas estupendas montanhas
pio. (.'omo di;'ia o grande poeta brasieiro — OIa\o llilae — são as \iltimas a reeeber o ad('us d(í sol e eoilièr a bènfão das eslrèl; a eordi!lu'Íra dos Andes
as primeiras a is. \orá que nao nos separa
oin , apcaias exige cpic subam mais altos m.is os nossos sentimentos de afeivão para qne Sc' eneontrem com os vossos. (A/ní/o />í/íj; /ííiii7o hn/i. Víilnuiò' prolongadas. O orador c vivaincntc cumprimentado).
r|ii<- ajxtrion o sen na\'io. pelas i'sliadas ein <pio p.iss.ita o seu trem e pelas nias, onde o po\o e .is mnlIiiTes se ajooIhavain. às \('v.es, p.ir.i beij.ir-llK' as mãos, ooino a do nm ancião <pio linha impe dido (pic a giiorra sugasse o sangue do sens lilhos.
I*'rf»NANfiro
.dtal.uio
II.d.
ELOGIO DE NILO PEÇANHA
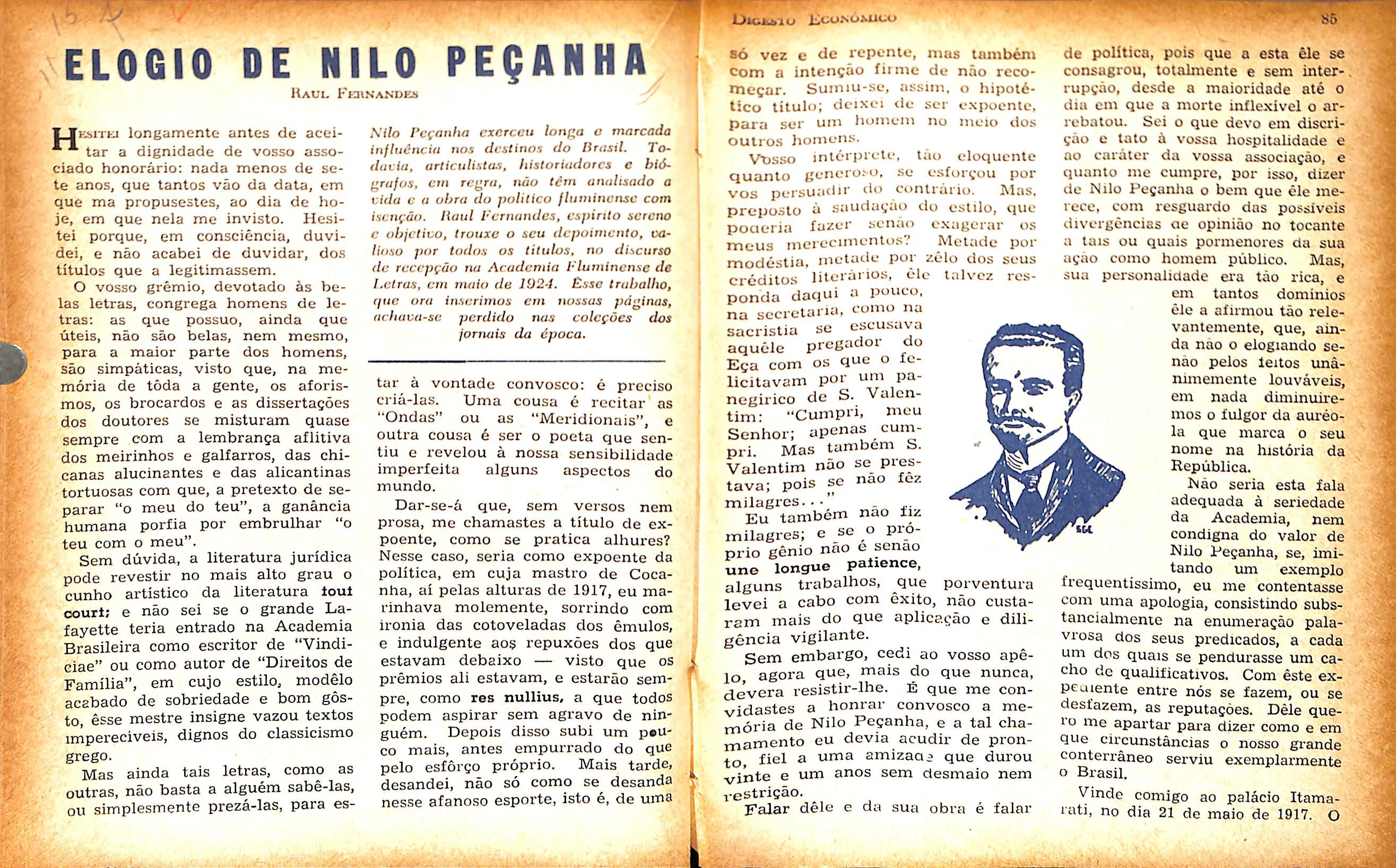 HaUL KmNANDEa
HaUL KmNANDEa
IJusiTt! longamente antes de acei^ ^ tar a dignidade de vosso asso ciado honorário: nada menos de se te anos, que tantos vão da data, em que ma propusestes, ao dia de ho je, em que nela mc invisto. Hesi tei porque, em consciência, duvi dei, e não acabei de duvidar, do.s títulos que a legitimassem.
O vosso grêmio, devotado às be las letras, congrega homens de le tras; as que possuo, ainda que úteis, não são belas, nem mesmo, para a maior parte dos homens, são simpáticas, visto que, na me mória de tóda a gente, os aforis mos, os brocardos e as dissertações dos doutores se misturam quase sempre com a lembrança aflitiva dos meirinhos e galfarros, das chialucinantes e das alicantinas canas
tortuosas com que, a pretexto de se“o meu do teu”, a ganância parar humana porfia por embrulhar ilO teu com o meu .
Sem dúvida, a literatura jurídica pode revestir no mais alto grau o cunho artístico da literatura toui sei se o grande La- oourt; e nao fayette teria entrado na Academia Brasileira como escritor de “Vindicomo autor de “Direitos de em cujo estilo, modêlo
>> ou ciae
Família”, acabado de sobriedade e bom gos to, êsse mestre insigne vazou textos inípereciveis, dignos do classicismo grego.
Mas ainda tais letras, como outras, não basta a alguém sabê-laS; simplesmente prezá-las, para es-
as ou
\iIo /’t'ívin/irt cxfírccti longa o marcada influência nos dcòlinos do lirasil. davia. arlictilistas, /jisíoríoí/orcs c bió~ grufo.s, cm regra, não tém analisado a vida c a obra do político fluminense com isenção. liaul bcrnandcs, c^pínto sereno c objetivo, trouxe o seu depoimento, va~ lio.so por todos os tUidos, no discurso de recepção na Academia bluminensc de Letras, em maio de 102-i. Esse trabalho, (fuc ora inserimos em nossas páginas, achava-sa perdido nas coleções dos jonuiis da época.
7*0-
tar á vontade convosco; é preciso criá-las. Uma cousa 6 “Ondas” ou as outra cousa é ser o poeta tiu e revelou à nossa sensibilidade imperfeita alguns aspectos mundo.
Dar-se-á que, sem versos nem prosa, me chamastes a título de ex poente, como se pratica alhures?
Nesse caso, seria como expoente da política, em cuja mastro de Cocanha, aí pelas alturas de 1917, eu ma rinhava molemente, sorrindo com ironia das cotoveladas dos êmulos, e indulgente aos repuxões dos que estavam debaixo — visto que os j prêmios ali estavam, e estarão sem pre, como res nullius, a que todos podem aspirar sem agravo de nin guém. Depois disso subi um peuco mais, antes empurrado do que pelo esforço próprio. Mais tarde, desandei, não só como se desanda afanoso esporte, isto é, de uma
recitar as “Meridionais”, e que sen¬ do nesse
(
8ó vez e àc rcpeiuo, mus lambem Com a intenção fiimc dc não rccoSumiu-.se, assim, o hipotédc scr um homem no
meçar. tico título; dcixci c.xpoenle, meio dos para ser outros homens.
intérprete, laii eloquente quanto geiieroío, .se esforçou por persuadir ilo ci>nliaric). prepostü ã saiuiaçao püueria
Vtisso Mas. estilo, <iue du senão fazer e.xagerar os M ●recimentos? etade por seus meus me modéstia, metade por zelo dos literários, êle talvez re.s- créditüs ponda daqui a poiieo. na secretaria, eumo na escusava sacrislia se dü pregador os que o íeaquêJe Eça com licitavam pur - um patle S. Valcnmeu negirico tim:
Senhor; “Cumpi'h apenas também S. cumMas Valentim nao sc presnao fez SC tava; pois I» milagres. . ● Eu também milagres;prio genio nao e senao paíience, trabalhos, que porventura cabo com exito, não custa-
não íiz c SC o prólongue une alguns levei a ram mais cio que aplicação e dili gencia vigilonte.
Sem embargo, cedi ao vosso apêque, mais do que nunca, É que me conlo, agora devera resistii-lhovidastes a mória de Nilo Peçanha, e a tal cha mamento eu devia acudir de pron to íi<^l ^ uma amizaaü que durou vinte e um anos sem desmaio nem yestrição.
honrar convosco a meobra é falar
de política» pois que a esta òle se consagrou, tolalmente e sem inter-. rupvno, desde a maioridade até o dia cm quo a morte inílexível o ar rebatou. Soi o que devo em discri ção c tato à vossa hospitalidade e ao caráter da vossa
quanto mc cumpre, por isso, dizer lie Nilo Pcçanlia o bem que ele me rece, com resguardo das possíveis divergências ac opinião no tocante a lais ou quais pormenores da sua açao como homem público. Mas, sua personalidade era tào rica, e em tantos domínios êle a aíirmou tão relevaniemente, que, ain da nao o elogiando se não pelos leitos unâmmemenle louváveis, em nada diminuire mos o íulgor da auréo la que marca o seu nome na história da República.
associaçao, e um caConi êste exo nosso gi*ande serviu exemplarmente
Nào seria esta fala adequada à seriedade da Academia, nem condigna do valor de Nilo Peçanha, se, imi tando um exemplo frequentíssimo, eu nie contentasse com uma apologia, consistindo substancialmenie na enumeração palavrosa dos seus predicados, a cada um dos quais se pendurasse cho dc qualificativos, pcuiente entre nós se fazem, ou se desfazem, as reputações. Dêle que1 ü me apartar para dizer como e em que circunstâncias conterrâneo o Brasil.
Vinde comigo ao palácio Itamalati, no dia 21 de maio de 1917.
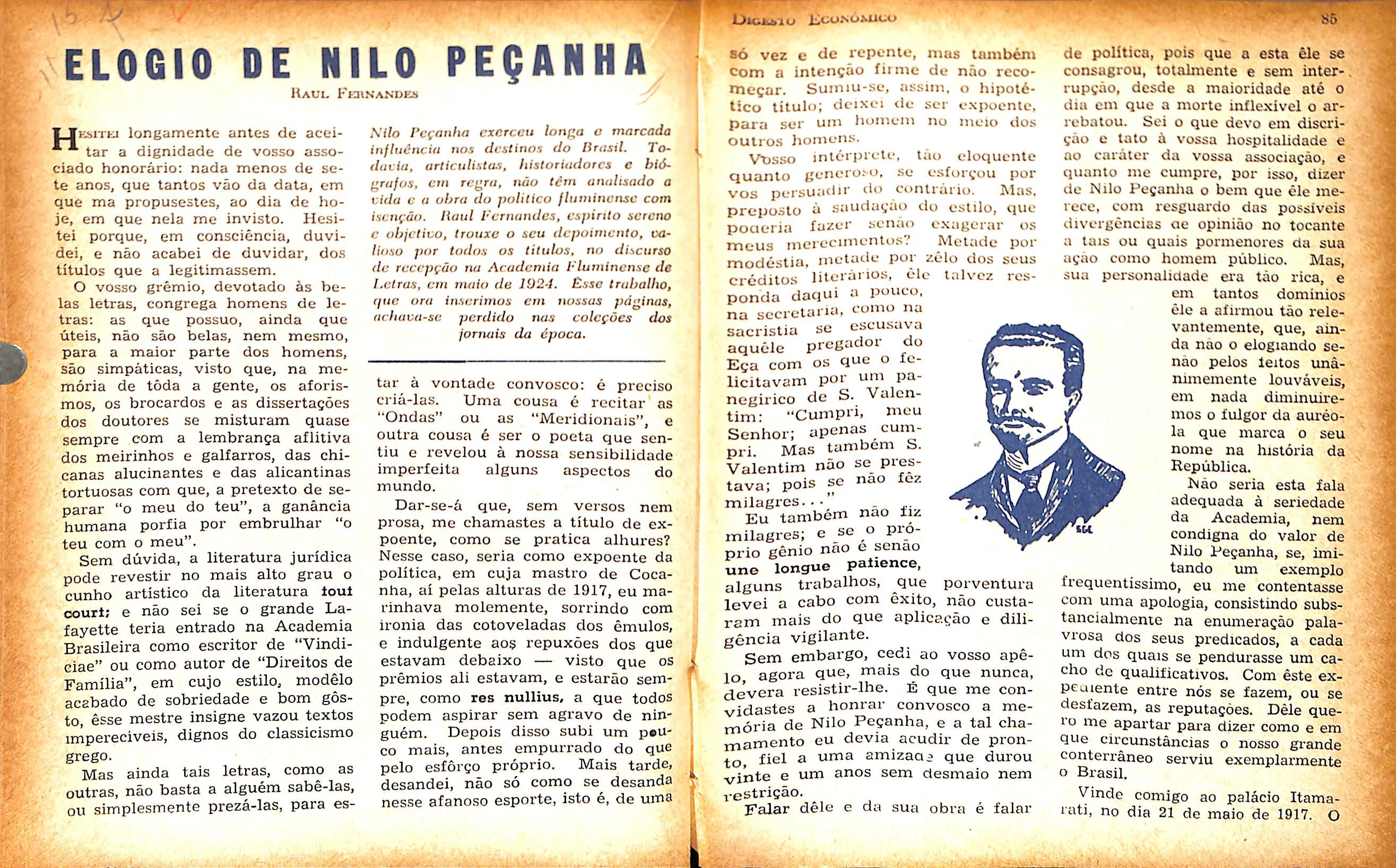
'VÃ’ S5 OlOlcuòlU liCUNUMiCO ●_i
O
Faiar dêle e da sua :i '_I . . -a
Govèmo resolvera quebrar a nossa neutralidade na grande guerra. A opinião pública, irritada contra os Impérios Centrais, desde o coméço das hostilidades, pelas circunstân cias imperdoáveis em que eles de sencadearam a terrível calamidade, se exasperav’a com os sucessivos torpedeamentos de inofensivos na vios mercantes brasileiros nos ma res da Europa. Mas no de.sagravo dos direitos desumanemente posteigados exalar-se-ia também ardente simpatia pelos beligerantes aliados, sobretudo pela França: as afinida des de cultura, os seus imen.sos sa crifícios, resistindo quase sozinha na frente ocidental durante o pri meiro ano de guerra, a certeza que e.ssa oportunidade era a última para a reparação da iniquidade do trata do de Franefort — tudo concorria para que, aos olhos da maioria dos brasileiros, a França simbolizasse os ideais de justiça empenhados trágica tormenta. na

Convocados por Nilo Peçanha, Ministro das Relações Exteriores, compareceram ao Ministério, depois das 9 horas da noite, as comissões de diplomacia da Câmara e do Se nado. A entrevista não era fácil, sabendo o ministro que os membros mais influentes em ambas as comissòes estavam dominados pelo senti mento geral, que podia ser o dêle, mas não determinaria a sua atitu-
Nilo. encolhido numa cadeira, niurmurou a .<ua opini.'n*: i)iimciro. revogar
fios Est;i{l<is Cniíií
nha; dr-j>oi,. dt- 1>i iac intei \"il‘>. ílois ou três d a;-. ievi>ga-la aos demais beligerantes, o disx-ninnenlo
neutralifl; de ;i guelTò na A lema- cf»in a em ndaçno Exjjlodiu 1 dos pai lanu-ntarcs. num debate ligioso deputarlo (J) dav; vnis^iino, ;i epU' i)icsI o toiíi do Ata- ●sc-u costumado <le.''assoinhro.
dfí pelo mal fisuo. sem jjíultM- discorrer com ministro haliitual faeilulade, a o fórmula empeiTíiU numa pode oeder (●ousa capital para o não ●seca: “O neste ponto, K pai.^í.
governo
Sua firmeza \’cnceu histórica; de v^olvei olhares |)reocupados o marco ali fincado pela energia do «agaz estadista, iiá de .ser com infi nito agraciecimento pelo clari\ndcnte patriotismo com que êle ésse ato culminante da pública.
nessií noito e se algum dia tivermos j)ara ousou sua vida Icvaaltura seus re-
As imensas responsabilidades do seu cargo, c a lúcida compreensão de uma tradição necessária, ram Nilo Peçanha a alhear-se então da atmosfera perturbadora do dra ma europeu, clevando-sc à dos destinos nacionais cm motos desdobramentos.
de. E para discutir, resistir, arras tar o assentimento dos parlamenta res, êle estava em circunstâncias pe nosas, atormentado por uma periostite terebrante, febril, abatido e mal podendo falar através dos abafos lhe resguardavam a face en- que tumecida. Corvíilho. ' 11 Álvaro do
Amando a popularidade, desdenhando cortcJá-la, êle mostrou nesse lance que sabia também ser- ‘ lhe indiferente quando nisso íôssr o interesse superior do país. E deixou passar a ocasiao, que era primeira, a única, c que não se P^' deria repetir num século, íinir a doutrina de Monroe corfO
nao e de' para I
r)if:r,sTo r!f I ►s’6viiro
um pado ilc Nolulmiocladi', <● não com^ urn fomp! iinilali-ral. só COmpoj laiido «'ht M'.. r. ir.'- pai a C'olossí> .iMn i iraii"
No dláli>K » d' alt’ riKiin
que se c (> be aehrir
por coufo proposta de quase sagern Brasil, independência c ligação d Santa ,'\lian(;a a
ha rcphcas i- -■●■c’ilo a ^ óculi'. O I
nossas justas reivindicações e to mou a iniciativa da disposição do tratado do Versalhes que nomeou o Brasil um dos quatro membros tem porários do Ci»nselho da Liga das N;'çôt'S.
V(.*r'clíKl«‘ir<» h'*im-in di- ^^x^ad » >a í» tnoUH-nto i\i' ifMi.oiih': í-ima das íionti iias i ah;uma cpif f"i <iila. pi i j^untad.: *>u aos a Ml i-passados. Datava um M**cult> a i*ólobjr Mund(» pn-sidenti- Mnnroo. inal .M',i4UM> Ma sua n.'(VMte am« a(.vda {)rla rod:na-'tias (jur .-^o chamou
Quando eheguei a Paris em 27 de janeiro do 1910. a Conferência já funcionava dosile alguns dias. cinco grandes potências aliadas se representavam, cada uma.

As por cin-
eo plcnipoti'nciários nas sessões plenarirs: a Bélgica, a Sérvia e o Bra sil. por três; os demais aliados por dois.
figurava
O grupo intermediário nao no projeto de regimento
C'ontava-sc no.s círculos da Confe
4 _1 1
achandi mas mais Jnsti>. senão mais digno, qui*
os riscos fossem comuns.
no. merecia uma por certos paíapesar disso, deviam com dois conrepresentantes;
Kstados Unidos K sabido uina o icsultaaos propos aliança do dêsse iJasso tliiilomático. um dos primeÍJ-os do Ih asil imh-pc-ndento: governo maioi- simpatia o deseji> do Brasil, mas julgou nã<) poder anuir em ra zão ●**t ,●4
que o Presidente respondera irrcplicãvcl:
'V shington riàvelmentc. e
aliança. quahiucr
O Brasil dc 1917 quis pagar a dí vida ílo Brasil de 1823, dcclarandoatingido pelo mesmo perigo que grande república do sc assaltara a
Norte, posto que nao obrigado a is so pui' tratado ou convenção.
O tempo há dc consagrar a sabe doria dessa política, cujos primei ros frutos colhemos logo cm 1919, quando o Presidente Wilson reclamou e obteve um tratamento espe cial para o nosso país na Conferên cia da Paz, apoiou decididamente clS
meu primeiro, e talvez o meu precioso aliado".
ao em lom H O Bresil foi o mais E assim ganhamos 1
um lugar de mais destaque
*
em tôro
no à grande mesa do “Salão do Relogio", no palácio do Quai d’Orsay, ladeados pela Bélgica, em honra ao seu martírio, e pela Sérvia, cuja es pantosa resistência estarrecera mundo.
Mas êsses são os trocos miúdos da nossa afirmação de americanismo* nem os recordo agora senão para satisfazer aqueles que avaliam acêrto das atitudes pelo o proveito
imediato e tangível em que elas frutifiquem. O grande mérito do ges-
f Difisaro E<on6mi(o
«I
rência que Wilson impugnara o plasendo dc opinião que o Brasil representação mais conspícua. Um dos big four, talvez Clcmcnccau ou Lloyd George, teria objetado qualquer cousa, encarecendo. nao .sem razão, os grandes sa crifícios suportados ses que. leníar-se I
.1
. ac.dlu ra com tuitusiasim» c. ta ju oclamaça«> da invio< i)nl inentr americano; labi!idad<- ({(
formal. O amorieano apreciou eoni a ali firmada por Wa- da regra.
i depois observada invaconlrária a lòda c
'ii
tor da diplomacia brasileira nesse ano calamitoso não há de ser aferido por aí, mas pela signiíicaçãf) moral do seu passo e pelas conse quências incalculáveis encerradas na semente lançada no coração ame ricano. de cuja longa memória o General Pershing deu um patético exemplo quando, desembarcando cm França com as primeiras tropas do seu comando, mais de um século após a guerra da independência, íoi direito ao túmulo de La Fayette, e exclamou "La Fayelíe, nous voilà!"
Eis aí uma cousa definitiva; de longínquas e múltiplas repercussões nos destinos nacionais; honrosa porque foi paga espontânea de uma dívida secular; altiva — porque nos elevou de protegidos a iguais; rea lizada contra uma corrente de opi nião tão forte pelo número como pela generosidade da sua inspira ção. Sobretudo, considerai isto: que não se tratava de cousa que admi tisse contemporização, cuja omissão agora pudesse sofrer emenda ama nhã, porque aquêle momento, úni co na sucessão do tempo, fugiria na eternidade com a ocasião igualmen te única em que êle solicitou a sa gacidade do Governo brasileiro; e dizei-me se o patriota, que soube compreender e aproveitar êsse ins tante dramático, não firmou tão al to título à benemerência pública, que seus êrros humanos são, em tôrdêsse título, como anões liliputianos aos pés de um gigante.
ra uma prova, e vou acrescentar f>ulra:
Uma da.s con.‘^equéncKis m.-as im previstas. ● ● ao niesn>í> tempo mais (líjloro.sa.s, da guerra, íoi a violação, por muito.s beligei antes, de princí pios, usos o conv<-nções firmados para limitar na merlifla do possível os ílunos materiais e pessoais inse paráveis dê.sso processo selvagem dc dirimir as pendência.s entre na ções. Violação hoje, represália ama nhã — ao cabo quase nada restou das convenções de Haia, nem da de Genebra, nem mesmo dos princípios de elementar humanidade, proteto res dos não combatentes.
A disputa, post-bellum, entre os ex-inimigos, para apurar a qual dêles coube a iniciativa dêsse retro cesso às idades bárbaras, é manifes tamente frívola. A guerra de 19H foi, e as guerras futuras sê-lo-ão em grau ainda mais rigoroso, uma guer ra de nações, com a inevitável con sequência da mobilização geral de todos os recursos em homens, di nheiro, subsistôncias e indústrias, o com a tendência não menos inexo rável de abolir a distinção entre combatentes e não combatentes, sendo soldados, a seu modo, os ve lhos, as mulheres e as crianças que trabalham para os exércitos em campanha.
no era ou decisiva.
Nilo Peçanha tinha, como estais vendo, a inteligência das cousas má ximas; quero dizer, discernia com aguda penetração aquilo que suscetível de influência duradoura Disso acabo de refe¬

As imunidades reconhecidas ^ propriedade privada, tanto em ter ra como no mar, não prevaleceram mais do que as outras garantias, ^ especialmente os navios mercantes inimigos foram em tôda a parte* exceto nos Estados Unidos e no Bra" sil, submetidos aos tribunais de confiscados.
Aqui, a propriedade privada dos sas e
SH OvikAiõ EooNó^un)
Súditos alcmács foi ►»í*rnlmonle iot>Poitacla polo Kstacio; e o sequestro dos navios, a titulo <lr naraniia pa dos danos marítimos proprit“dadi* brasdeim pela submarina, foi < om elausula fie. ndo i-sta. afinal.
r;i satisíaçin foilos a fíucrra de indeni/açao.
Homem de partido, Nilo Peçanha. quando Governo, teve a capacidade, quase divina, da impaixialidade pa ra com os adversos ao seu grupo, recorda da deposição do Governador do Amazonas em U)10?
ü cargo <1() govê
1 no alt-inao. eiiquan-
Tcsniim r.''Srs prt.‘juizos. na o nosso
reconheci*r.
Quem não se Adversário do Senador Pilo com ü pmço <ios navuis ressareinluüro Machado, o Governador Bit tencourt foi revolucionàriamente apeado do seu cargo no palácio de Manaus e embarcado sob escolta idônea para Belém. Informado da
Êí-.sc pn)cc(linu*nt*i. cpu- cumpre tal ve/ fõsse impossível est ivcssi' subim‘1 iilo às ; implacMvcMS nc'cessidades ;i dobraram as nações euro<l() nosso governo íir-
mesmas SC que pcias. exigm . resistência insuspeiladas por conhece os arquivos do meza c nao qucin
Brasil se o ocorrência. Nilo Peçanha, então Presidente da República, amigo e correligionário de Pinheiro, mandou fretar um navio, meteu nèle o Governedor Exército, e mais um batalhão do sob cuja proteção, cinco
A como no Presidente nome seria imperdoável omitir nescom os elogios c os agratodos os brasilei- ta ocasiao decimentos que lhe devem pelo apoio esclarcciri?.^rnm que sustentou o seu Miniscio cüi ^ bi-iiho de Mctternich o mas t
- íéz mal a Nilo Peçanha propugnou então, foi sòmente a intangibilidade
das cia nacional, de primeira plana, ajuntava-sc inestimável valor econômico da dos colonos, e dos estran-
dias depois, se rcompossava na sua magistratura o deposto. Ato de res peito à Constituição, não o praticou sem risco, pois incorria no ressen timento de um chefe poderoso, i trono do governo Hermes a inau gurar-se em 15 de novembro desse ano e ao qual, note-se bem, ia per tencer a solução final de fluminense, o da dualidade Olivei ra Botelho-Edwiges de Queiroz, em que jogava a sua sorte o partido es tadual de que êle era chefe.
tradições humanas da diplomaA este interesse mo● .y
Pinheiro Machado guardou, efeito, ressentimento; mas tendo de pois alcançado legalmente
paum caso com para um
geiros seus
ral o amigo o Governo do Amazonas, li mitou o desagravo a receber Nilo Peçanha, no pa, em 1912, com esta exclamação irônica, proferida à distância, antes mesmo do abraço de boas-vindas:

em geral, na segurança dos direitos. País de imigração de capitais, do imen- homens e desastre, que seria a quebra des confiança, não convalesceriamos jiquanto restasse memória do ges■ - sei se estouvado ou iníquo, que rasgássemos as leis da hosi
seu regresso da Euro-
ff
‘Nilo velho! já reconquistei o Ama zonas
O que estou encarecendo, notai bem, não é a reposição do Gover nador em si mesma, é, sim, a justi-
Dií;e.htc) Kconómico s;‘
Itain arati. responsabilidade, neste caso outro, foi sem dúvida do Wcnccslau Braz, cujo 1
Francisco II. O ro; nunca que não
confiança
de so to, nao compitalidade.
ça feita ao adversário, e com risco para quem a fazia. Aliás, parece Que a reposi^-ao por si só já seria motivo de r-ncómio; porque, pósto se c'figure coisa comezinha, a verdaae e que, não ob.slante rosas as deposições poucos
.serem numenc.-:le.s trinta e con ünos de vi'‘Ia
da Repúbli só não 6 único ria Quo, também
íca, sua espccie ]5orpor exceção, cin Scr eiPG um direito de idêntica reza teve com o mesmo êxito o amParo do Presidente da Repúbli Mas
natuíca. ocorre dizer que ê
.ste Presiden te ep Nido Peçanha.
Aí estão, senhores, três atos pitais do pranteado fluminense: imenso benefício à nação; um cala mitoso i. i
I
de .segundo plrno darnente pelos po'‘to.
bilt-u ■ »nde i-enio ])oIíti ●if- «-níxínt!-;
obstina<U* «'ornando, sou perpétua atividajirra patnotis- I
do
.stitucional o easo do Amazonas Noutras latitiules. omle o regime a fis cí>stumes ;d)r«*m ací.-^ honu*ns pes.sf)Hmenle pre .íigiosos tôdas as possiliilidaries. a : ua toral teria sidf) muito atuaçao eU‘idiver

exemplos de serenidade no poder. São sítios culminantes no acervo de serviços de Nilo Peçanh fôra impossível a, serviços arrolar por
Mas enquanto vos falo des ses pontos de referência, que a his tória há dc recorrer para medir o porte do estadista, estareis pensan do nos modelos de ordem econômi ca e sábias iniciativas que foram os seus dois Governo.? do nosso Esta do, enquanto, por minha vez, devo resumir o julgamento da sua presi dência federal
que miúdo. a opinião de com
crítico sagaz. Martim Francisco, bem informado e pouco propenso ao elogio, o qual, em 1911, qualificou êsse Govêrno como “o melhor que teve o Brasil depois do de D. João VI”.
assim coberto de
Êsse homem serviços e consciente dos seus dons superiores, havia de ser orgulhoso; cei’tamente o era em certo sentido; não se conformava com os papéis /
quinas estaduais.
Aquiles foi a Rio d(.*
agravada vao c-rescendo em po-
.-a d’\ que foi aqui, onde os ma saltos para cirequerem o tr.amjiolitn <las máS«'U calcanhrr <lc relativa fraciuez.a <lo Janeiro, contingência geogiáfica progressivamentf' à mediria que
l‘^stcclos terriO nudhor
se consu concorren
reter n
les ocasionai.s. lentos”, dizia-mc certa “Vocês
díssimo Sabino Barroso, truquei: “Engano
são turbuVQz o )ireza●a quem remeu caro; pura aparência. As discórdias são fomen tadas de fora, quando é preciso desl^ancar o Nilo”.
As lutas incessantes, em que por ele andou enleado, não lhe aba tiam o ânimo, como nunca lhe azeUm tanto poi' por cáldaram o coração, temperamento, um tanto culo, não lhe desagradavam êssos combates, que o aproximavam do povo e redoiravam os seus brasões de democrata. Dêsses mergulhos na massa anônima, onde os caipiras o abordavam oorn familiaridade, às vêzes no interesse das suas minús-
90 Dir.r.sTi i I-VoNrt N firr»
a sei\-,*i l)r): iniüianti'●n ern c:imf)o íic as gcnero.'^a.'' ambiço*-- dt» mo.
caum erro evitado; dois grandes
pulaçao o nqiuv.a í).s torialmente mais foilos. dos seu.s li‘abíilhos devia « mil- no esforço ingrato rlc alavanca mestra fUr máquina flumi nense. alvo. por isso mesmo, do ata que constante dos seus
culíis conl* n(ia d«- »Mtnp.ma; :o <-nvenenada;- d. rn.u . :nl: .uí''u;fnliporsm‘>ali.'^iu'). m. «●●iti ..'- \» i ●. n>>
ingênuo
homem trazia à l''ua
<h*l« ilr i t«' ●●i>nf.iiiul.i! r.íiu r- mil..
●> I I .ila i'
N*il !
.11 ".Ull.
.m< d. t.. Pilo
lh<- 1 (lue anu>r re
n 1. M\'.i
rlí : .il●:.! i <mt.1 i la-m
<● a maca
● bom
jar
a rotícònoia como sc mnneja um nuanlrs coloras èle de.'.itioou assim, ciunnlas esperanças -UM jtoii. o tamliôm, ai dèle! quan tas i<,juiv.'v\'s mortais engendrou ^r^>ípro que pretenderam traduzi-lo « n ló: mulas absolutas!
A num. quando eu ia om pouco m.ai.s dos -0 anos. e, obscurissimo
.1
Koí‘oi lii» im- ' io uma lourllu- Iohumor, nóo de propag iial.i. (|Uo Ho I ' o.' so 1 oUv a d (- ta nuiita .s
Njtcríjif (ju<‘ ●anl.ido era va oru
.sca. próprio c quio ch i >t.‘ ‘ n11 u; . 1 11 i. I ● ! da.s .'tias hoi .-, <1«- itilmii i. dr . dvogailo om Vassouras, procurava a dontomente a brocha nor onde me 1 .''oapar para centro de mais possilulidadi s. òlo v^iaiporcionou uma das mais vorliginosas emocões de mi nha vida. murmurando-me quase
baréu da baixrd.i. tpio. .m l
t*i a
ma veZ.
buco. c.
^ - Miusiia «'ItijMo iliun ta o^ IU.hKi.s, f}e Hio Bonito o ai ouvira al.au no juri. a Si/mando Na ■rtanienlo muita.; vò/os.
«● 11 ■ m. 1 de ao ou\dilo uma frase, quo me pareei‘u carregada de intenção.
Ciro de Axevedn.
ta cuja
(●( a ilustro diplnm.i- ()
carri-iia i-nmecou oomo prn1) nossa oomaroa.
ínotor públ ii*
bümern o
al>oi (l(Ui ivi fim di> lomhrti so
O uiua em Ita iiao mo arenga ,S. (roncalo, c‘Xolaman- cm , boraí oLi
aclore.s, admirei Nahucn c nanclo
Mas Jôgíí cie cena, c;omo o sou. nun; t ca VI:
-seu s( de Nilo cra para ser vista e ouvida.
lUuinontos antes Quintino Bocaiu va havia lançado a candidatura do siiseípulo predileto à prosidôncia do Kstado. num daqueles discursos mo .'ó o Mostre venerável sebia fa zer. altos de pensamento, solenes na <’ontoxtura. compostos em frases pei feitas. redondas,
cornarchetadas
t aqui o ali da fôrea ou do brilho de uma imagem. Fôsse o alvoroço du eoraçào. movido pelo júbilo às pansões genoroscs, fosse o natural desejo de ser amável, impeiindo-me suavemente I
ex o caso é que. para o
Fra jne.snu); u caijiiia tinha a oratória i.sso >nso crítico; porque vào de uma janela, Nilo rematou breve palestra dizendo nota do que lhe afirmo; o futuro é seu

maiíà arma
sença
fraco,
Por isso, a sua grande "pre ●
” c a conversação, que se adapflexivelmento à mentalidade
U Tome -me:
● Já vos disse a minha absor
'>1 À
dc proselitismo oram a nessa frase, uma confidên cia, um mundo de promessas, rante muito tempo ela cantou meu coração.
pareceu-me discernir que me soou como Duno Anos, muitos
tavam , , , fic cada interlocutor, a cu.ios gostos e êlc acomodava os tepor natural gentileza. Negar desenganar, despedir como redepois, um colega, menos presumisse demais dos meus ços do que por gracejo, interpelou >«►.
mas
;1
i ● J I di
í)V.i:^Tí> «● í)l
d
do entusiasmado; ●Sim sc-nhor! Or na minha vida; SizoChro dc A/evedo.
Icalçada pcla teatralidade do gesto 0 pc-lcs seduções da voz. A leitura, cra incompai-àvelmcntc efeito o vente preocupação nessa época. Não sei se fui sugestionado por ela: mas
anos porque servi-
● sem tendo, sugerir sem afirmar,
mane-
o nosso L’migo: "Então, “seu Che fe”, o senhor prometeu o futuro of» Raul, e afinal...
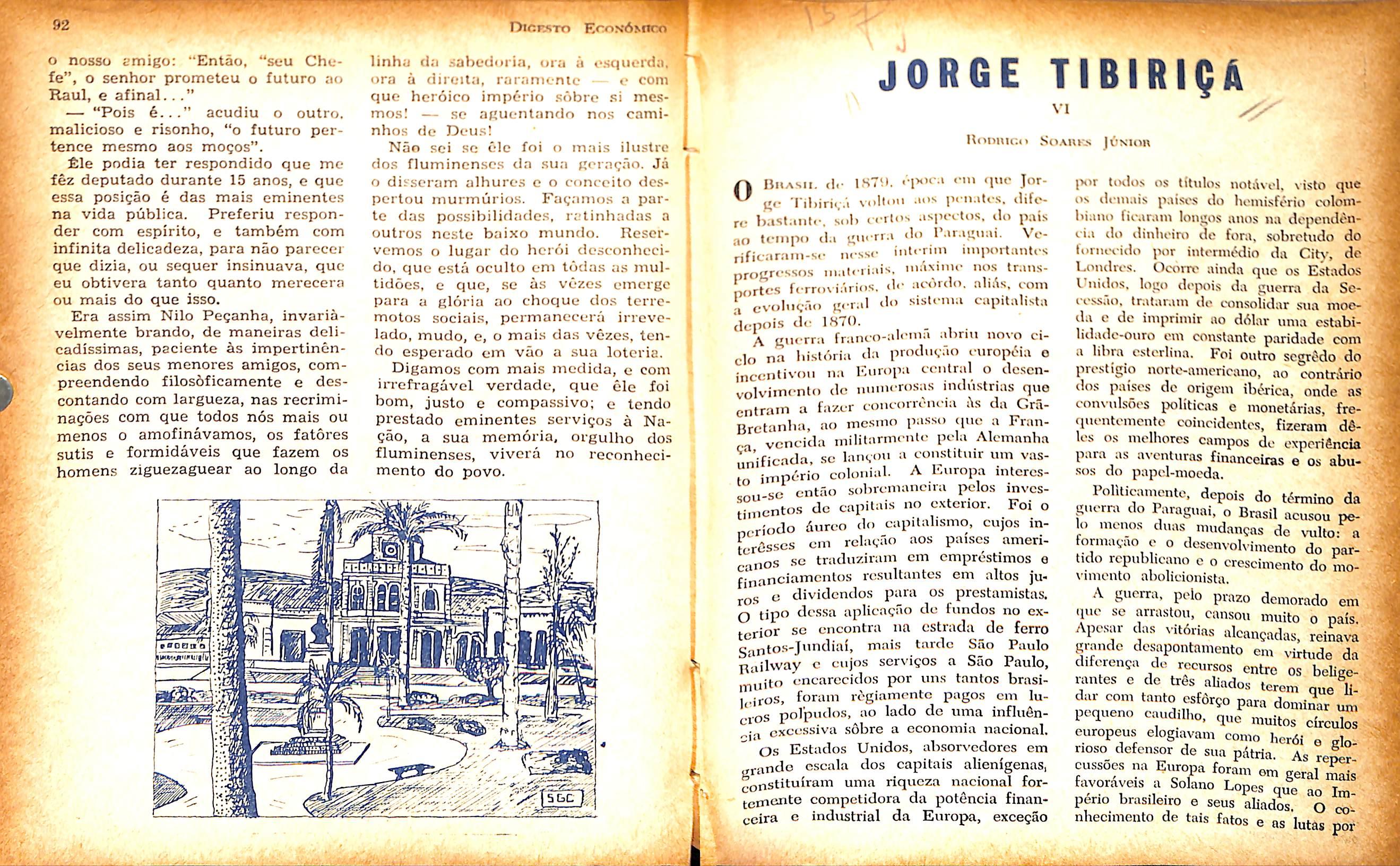
Pois é...” acudiu o outro, malicioso e risonho, “o futuro per tence mesmo aos moços”, Êle podia ter respondido que me fêz deputado durante 15 anos, c que essa posição é das mais eminentes na vida pública. Preferiu respon der com espírito, e também com infinita delicadeza, para não parecei que dizia, ou sequer insinuava, que eu obtivera tanto quanto merecera ou mais do que isso.
Era assim Nilo Peçanha, invaria velmente brando, de maneiras deli cadíssimas, paciente às impertinên cias dos seus menores amigos, com preendendo filosoficamente e des contando com largueza, nas recriminações com que todos nós mais ou menos o amofinávamos, os fatores sutis e formidáveis que fazem os homens ziguezaguear ao longo da
linha cl,'i .-abetioi ia, oi ,i â ora à íijreila, raram^ nic i* com que heróico impérifi sóbre si mes mos!
nhos de Di*us!
Não sei se êle foi o mais ilustre dos fluminensí's da sua geração. Já o dirseram alhures e o conctMto des pertou murinúrif^s. Faç.anuis a par te das po.s.sibilirlades, ratinhadas a outros neste baixo mundo. Reser vemos o lugar do licrói deseonheeidí>, que está oculto em lôdas as mul tidões, c ciUG, se âs vézcs emerge para a glória a(; choque dos terre motos sociais, permanecerá irreve lado, mudo, c, o mais das vêzcs, ten do esperado em vão a sua loteria. Digamos com mais medida, e com irrefTagávcl verdade, c^ue êle foi bom, justo c compassivo; o tendo prestado eminentes serviços à Na ção, a sua memória, orgulho dos fluminenses, viverá no reconheci mento do povo.
se aguentando nos camii
92 Dir:r.‘iTo F<"ns*ÓMTro
tt
►
tgPDB o ■Ji
JORGE TIBIRIÇ&
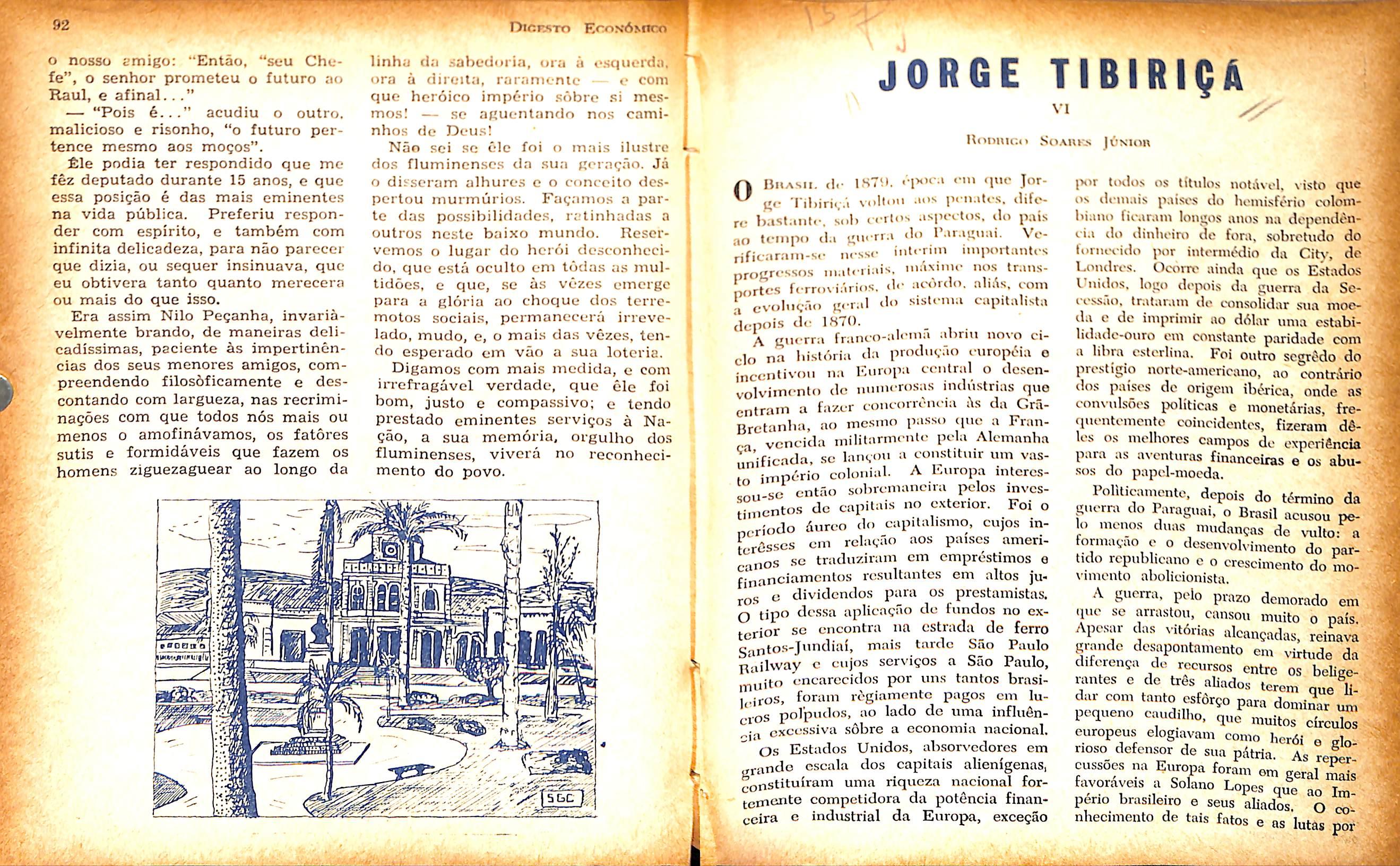
\I
U<M>nu;«» Sii.M\r> 1vnu>u
Td)iri«,-,'i trmpo (i. rificaram-so
M> snl) crilos
i
r< nr ao ■a
íntorim itujHntautos uiáxinu* 1U1S trans¬
pro«r‘ rtfs po ílr ;u'òr<lo. aliós, com ,l do sisloma capitalista ferrox iários.
|S7‘>. »-|xnM fin «jno Jor- iv>r tinli» os tUxilos notúvol, \islo que os iUmu.iís países ilo liomisfério wloml^iano fioar.im lonj;os ;mos na tlopendèneia do tlinheim do fora. sobretudo do lnnuH*itlo Lmulros. por iutormtkUo da Cit>-, do Oct>m' ainda que os Estados
evolncóo g< v depois d<a 1S70 franco-al«‘inã abriu novo ciproduvão européia o central o desen- prestigio norte-americano, ao contrário dos paises de origem ibérica, onde as convulsões ix>líticas e monetárias, fre-
M ●»
I
lsun)pa na entram a Bretanha, vcncicla
ao ça.
bíslória íla 1 cio nu incentivou volvímento de numerosas industnas quo fa/.cr concorréneia ás da Crãnicsmo i>asso (pic a FraniniHlurm<-nle pela Alcmnnba a constituir um vas-
unificacla. sc lan(.ou o império colonial. A Kuropa interes so então sobremaneira pelos investhnLntos dc capUais no exterior. Foi o do capitalismo, cujos inaos países ameri-
Ííjdo áureo pcriut relação
<luentomontc coincidentes, fizeram dêles os melhores campos do expcriôncia para as aN-enluras financeiras e os abu sos do papel-mocda.
l>or.tic:u.u-nte, depoi., do tírmino da guerra do Paraguai, o Brasil lo mt acusou pe'iKis duas mudanças d
^_■ i
cm o TOS
erésses nos .se traduziram cm empréstimos e financiamentos rtisuUantcs em altos juclividcndo.s para os prcstainistas.
de.ssa aplicação de fundos no exiia estrada de ferro mais tarde São Paulo
cu ninito ),.iros, foram cros poípudos, excessiva sobre a economia nacional.
O tipo se encontra terior Santo ' 1' i
Os CO ccira
A guerra, pelo prazo demorado ijue se arrastou, cansou muito o país, Apesar das sitórias alcançadas, reinava grande desapontamento cm virh.de da diferença de recursos entre os belige rantes e do tres abados terem que Udar com tanto esforço para domi^ pequeno caudillio, europeus elogiavam rioso defcn.sor de
moem nar um q«e muitos círculos como herói e glosua piUria
?(
Estados Unidos, absor\'cdores em ando escala dos capitais alienígenas, -nstituíram uma riqueza nacional fortciricnte competidora da potência financ industrial da Europa, exceção -Jj í
cussões na favoráveis a Solano Lop pério brasileiro nbecimento de tais fatos seus a e
es que ao Imliados. O co-
J
5 J
-I
Bhasii. d*- 0 Iton .los pcnalos. tlifo.ispo».tos, tio pais Vo- <lo I'arav;uai.
sso
l'niilos. lojio depois da guerra da Sceess.io. tr.ítaram de ctínsolidar sua moe da c de imprimir ao dólar uma estabiliilade-ouro a libra esterlina. eni constante paridade com Foi outro segredo do t
●ssos lai''.
xulto: a e formação e o desenvolvimento do par tido republicano e o crescimento do viinento abolicionista.
:
.s-Jundiai, paibvay c jos scrx iços a São Paulo, éncarecidos por uns tantos brasiregiamonte pagos cm luao lado de uma influen-
As reperEuropa foram om geral mais
"'i
o as lutás por
Povo de composição «iflicnd.» «[iirstãn. «'Iiiit.i inmtn luatj/.ul.i «■ c:n muitos c.\unpifiis.a. ilc- d. 11. >t it « t I »s I .U l.us MIS
Iluirs pr< 4 i>m ril«’s.
pi>rciu
<!«● mi in
|SCll.l(lí»S
■ lllll ili' lelrr.ltK l.lS C
i i\t tu ia Ai> l.ulo iti) .1 11.UI In.miO''.
ipi.ii pais
e vorberavam a “hipocrisia íil.uUrôpica” dos alxdicionistas do norU\ Ninguém tão pouco ousou no Bram1 procl.uu.ir. anuo “grande verdade iu«»ral o filosófica”, que a an\dição na"tural c tK^rmal do pròlo ô a escravill.U>”.
«*utr«- lu.iiu t)s «● <fi ss.i a< fil .H. ,in li.i l»
●Miljnl.» «*s
■alui ulc « tuii a do t .dorulos intcrim diã-
rins
s«i
c-oiiio projC-i‘’ vista ligião, clirtilu
(
os rc- * mas n
Nas discu.ssõcs em tòmo do espinhoso assunto travadas na .\ssemblêia Geral e no Senado deSpenderam-se. de parte a parle, todos os argu mentos relativos ao di reito do propriedade, que os cseravagistas reputavam ^xistergado, ao mesmo tempo que a conslituivão que o garantia. O Visconde de Sâo Vicente im pugnou esta tose com vigor, pois os adversá rios da emancipação dos nascituros, i\ min gua de um esteio moral c humano, se entrin cheiravam atrãs de invocações jurídicas e tentavam assim mostrar
no M*Pr.mco. que colocava. I -j SC I :í
aiilfirc.s do no ponto tle ●xc insiv u da cia filo.sofia. do alnral.
como !('<-onia o “tomar em estacU) {) \
o sidí^ração con cia nossa soca(’dad«', as da segnranos inlt'o.xigòneias "dos livres, ; da produção a condição

c,a |●í^SSl“S nunitc
que se peiqictrava um atentado inadmissível ■nsava quo. llic gisladíU’, íí<-\-cr d contra o princípio da propriedade, alegação replicavam os defensores do projeto qiio, tão respeitadores propriedade como seus antagonistas, entendiam, todavia, tratava de um racteríslicas
A essa do direito da que se direito e.special, de caoxccpcionais
nacional e não sòda raça, infelizinenc‘ativ('iro”. Kis aí suniàt'xprc-sst). sem violências mas ponto dc vista dos que jamais no parlaI
o
.scin lei. a i*c sentantes
rcdnzicla ao Ic ríainc*nt<‘ ciam a evasivas, impugnavam nicnto nacional .sc c.xtcrnaram icleias pa‘ciclas coin as enunciadas pelos repre.sulistas nos Estados Unidos
opinavam que os frutos das mulheres escravas não deveriam ção das mães. seguir a condi-
Os debates foram em geral muito elevados e nèlcs se repisaram, em todos quando gabi i riqueza das regiões vam a
■i
1 55 Oxor.^Tt*
4
*1 >
í
I
1 (
\ iVe.s tuis glU- fi i< < iiít r.i ssrin ,is tlniniii.int«'s. i>\ inpos
l«●^<●ss^●^ « c inuiitmos t s.1 linli.i tle t .iln l* i laiii s<p.ir.i‘.ã(» que «'●>() se ptidia lr.m‘'U<'dii snn < lioiptes .● lutas. Psse j„.,ls.lUMIllU loi uiuilo Ix in < ^p^e.^^O natlu puí- Canu-mi <le Càiiupu*^ di/tr. pur ocasiriu tlus cl< l.at.-s da Hio não
, pois reconheposse do escravo pelo senhor, mas
OS tüiii e coin eloquência e enjdiçSo, consoante o estilo um tanto formal da época, os princípios gerais c as li<,-ões da história relacionados com o instituto f|ue se queria extingnir gradualmente. A oposição contra a lei foi ardorosa e a minoria fre<pient<*incntc sc declarou alvo de coações regimentais fpie Ilie tolhiam a franquia das discussões. Todos pre tendiam rejeitar a pecha de escravocra tas c os üpf)netites cia medida liheradora não trepidaram em sujeitar-se a interpe lações incandescentes, pois o projeto con tava em geral com o apoio da imprensa e da voz da rua. O Norte participava cm maioria do peiísainentcí einancipador, o que colocou ein má posição os advoga dos sulistas do escravismo e aumentou a irritação prcjvocada pela pressão, ao mesmo tempo política e popular, exer cida contra a grande lavoura sustentada pelo braço escravo.
Passou finalmente a Lei do Ventre Livre, segundo golpe vital no instituto servil e suscitcju simultaneamente muitas expansões sentimentais e muitas mágoas entre os que se consideravam lesados pelo famoso ato legislativo. Na Câmara dos Deputados, composta de 122 mem bros, mas com 5 vagas, não comparece ram às sessões 7 deputados. Dos 110 que participaram dos debates, 65 votafavor e 45 contra. Dos 56 se- ram a
nadores, 40 estavam na côrte e 16 au sentes; dos 40 presentes, 33 se pronun ciaram a favor da reforma e 7 contra.
vadcjr, mérlico c propriet.ário niml; dr. juAo Níendc-s de /Xhmid.i, advogado c r«'cIalor-c hí-h- d.i "(>pmi.'io (Jonservadodr, Aniúnio Joaípum d.i Hosa, pro( nu'-er% ador.
a
Vejamos agora como se manifestou representação da província de São Paulo. Votaram a favor da lei: o senador dr. José Antônio Pimenta Bueno, Visconde de São Vicente, grande do Império, ex-ministro e um dos autores do projeto apresentado estado servil e os seguintes deputados: dr. Joaquim Floriano de Godói, conser-
i.866 para a reforma do cni
r.i prul.irid ^«'tar.un ccjutr.i: o seu.iclor dr. Carlos C.irneiro dr C;aini>os, couscllu iro de Es t.ido c rx-uiinístro «● os dc-putados: dr Antônio (la (Josla Pinto <● .SiK.i, consor \adc»r <● antigo presidente cia províiuna dr. Joaíjuitn Ol.ivio N«’l)Ías, magistrado antigo presidente da província, conscr vador; dr. Antônio da Silva Prado, pro prielário rural <● acKogado, consersador
dr.
rtir.ii.
Augusto Modrigo SiK'a. iul\-ogado dr. José CJalinon Vale N<igu«.ira da Gama, advogado e jjropriel.ário rural.
Vemos aí a definição d(? São Paulo perante a famosa Itú de 28 de setembro dc 1871, perial Regente, (pio declarou dc dição livro os filhos dc mullicrc que nasces.sem desde a data da lei, cvscravos da Nação e outros c que providenciava ainda sôbrc ção c tratamento dos fillios sóbre a lilDortação anual de Uma lei dessa natureza, quaisquer que sejain as bases luinianas em que assenta, causa transtornos. A lavoura de São Paulo, conquanto providenciasse por ini ciativa própria p^ira a introdução de braços livros, não deixou de suprir-se de escravos no norte, onde corria mesmo o rumor dc. que certas localidades paulista.s eram o inferno para os pretos.
sancionada pela Princesa Imcons escra¬ vas libertos os a enanienoros e escravos.
De 1872 em diante assinalou-se nas fazendas paulistas um intenso movimen to dc modcnniznção, a fim dc substi tuir os ])iücessüs primitivos por um aparelhamcnlo mais conscnlâuco coni as ne cessidades da produção e a quantidade de mão-de-obra disponível. Foram de saparecendo ou reduzindo-se os monjo los, os moinlios e os engenhos e gra-

m r>JCfWTí> RconAmICo
►
diialinonii- ntili/ados tnacpjinrtno^ dr l>r jjrfi« iaim*nl*> tio
'I.i .1 «.orto p.it.t o VUÍ^’. al^od.ii) «● I iti-i '-fpiipainoiiiiis. < i^.'ií) íh- < .ipit.os
p - p.M t inn
.1 pi' l ‘ in os f.
« \o4i im \ ultOM 'V
I I 11 .11'
'p IIK lll< ' I > .1 p' «»rualii/.id«), pt m» ipo "
IIII.is tl»- í iiiidn, .1' rias, f.iliru as do i u'.o i (^«■raliiionli' iiio\ id.i' .< (!i('.i\ .1111 o n.iM 1111
s< M 1 IM.I''.
j>; n(lcntc do r luixilios do ROxôrno t-vntud. Ttnlo pudisla inclinado .1 irpnMioa poilia di/or. i\nno Uni U;u«pto .uitis dl' sor ropnUlicano ora
tH>sa. toiloialista. .1
..h-
.iplu AOMOOd h> uii.d .{ MHf.lt.ll
lh.it I h.ipi l.»
(' n ( iMipinas, iprtanissor.
n.i, inonfo
.!( l|''OI I (Ol |( lol l< M p.il a i ti< Ii I sl I i.d. » ol n .is
fh● 1 n-iM 11< íar marpimas
ínst.liadas pi los sidi rui i;ia nona poq
ò\if() pola nina
A
C(>mrn(,(lo
\ ,ip<M o tpio in-iin» do *in> '●'II to l.ihril oin piituoii.i plo do'on\ ol\ il.dniiMs <lo o.il«- o .dm)d.‘io liiiiáos líiononiiaoh o a « \poi iiiiontada com I’ci\oto Sampaio.
(!<● Itti <■ n (i{'('u* (/«■
J(ulo rihiri^<í Vinitinlu^ü
(),S inu\ iim ntos do carálor rejmhlicnno contra a mnnartpna.
d.- insiirron,”0'
ou conif)
ii'pi’iblicas as nina
do 1'àpiador o do abalados, não liaxiain
piratini, d<-i\ado senão a lombrança tios olioipies podor loiíal o o rossoutinu.’nlo can() \'erdatU'iro ooni o do polas
sa ( n prt
ropressoos.
fa\-or da mmlança de regime
.^pírito oni ascoo mais, como \imos, dos desgostos
)\()cados pela guerra do Paraguai.
O inaniloslo de 1870, subscrito por noiluslrcs cpio muito se ileslaearão no poslolado luais
iiie.s do Mo\'o credo, limitou-se a artigos de impn'iisa e agitação í^iulf a id<’ia ri'pu-
a et
●rbal de clubes.
Idieaiia so dilundiu ('iii caráter mais pránm lorlo moximonlo di'
lifo o inspirou
igreiMiaçao < iii'/açi“»
!■:
cias
■ ‘ um genuíno S('iiso de orgapartidária. loi em São Paulo.
isso em virtude tias \ igorosas tt'udénautonoiuislas dos paulistas, eatla vez sensação dt' sua
emprecnciimentü, inde-
A inuRom polilioa o ;\d»nido >isi«-nu do.soj.ido onamlra\a-so na rni.u> norto-ajnorioana. adinip»!o’«.
I .ul.t piimipais \nltos jnopagan*
dist is. Sonltavain «Mos. do fato, com nin todorali\o. amiposto do Estados aipiinhoados oom a mais lavRa anUmomia
o M »!< *r
● p.'ssi\ol. animailíís tio mi'smo ponpaia as Riandos roalizacõos nas osl« ras tt'onnliigioa v oducati\a. O São
Taulo aRitiola
O oalooiro não pretendia
I oiitiimar a sor nm amiimto dc grandes piopriodailos
rnr.n.s. mas tomava como os Estados nortistas dos Esta-
(Kis Uniilos.
mpiòlos (pio concorriam para o adiantamento científico e indus trial do mnndo no mesmo pé qne os cent*'os mais cnltos ila Europa.
A C:onvt'ncão de llu, em 1873, ' intt'ligenl('menle paulistas decididos a lilit'a.

COnpreparado pelos optar pela repúprimeiro esforço para espolhou o
eia\i ololivamonto lançar um E na urdidura dessa
' os marcos de Utamlo partido, dotado dc disciplina e tomando, a lim dc modificar as insti tuições brasileiras.
eruzada apaveei'. entre vãrios nomes de subido i('lè\'o, o de João Tibiriçã Piratininga, pai de Jorge 'ribiriçá. Se tivésse mos ipu* citar todos os precursores da i(li'ia t'in Sao Paulo, seríamos obrigados a fa/er uma extensa li.sta do nomes, entre
de Campos Sa, Amerieo Brasilionst', Américo uardino de
Sou/a e nrrona
os ipiais influiriamos os t'^ e BerCampos, Antônio de Paula e muitos outros, de real \alor e projeção intelectual. Ninguém pod gar-S(' |)rioritladt' absoluta
, pi-opagaçao cie idcias (|ue germinaram siinultàneani{".Ve em muitos meios paulistas. Porém, João Tibiriçá alcançou o mérito
07 Dicesto ErosAMiro
:t ●S
mod«''lo
■i li ..1 1 i i 1
ú í
●3
mais impelidas pela acidade de cap 4 w /
de haver sido um dos mais eficientes congregadores dos seus concidadãos in clinados petra o mesmo sentimento. No terreno da doutrinarão pelo livro e pelo jornal, nos coniicios e nas tribunas, no mes houve em .Sãí) P.iiilí> rpie brilha ram com maior fulgor. Nenlmru, toda via, o supvrou, na arte de unificar fói(,as individuais e Ir.m fcjnná-las numa em¬
polgante articularão moral c política, premissa de um partido devidamente orientado para defender princípios e dis putar eleirõíís.
Foi esse, a ncjsso ver, o significade; máximo da Convearfuí de Itn, efetuada a 18 de abril d«r 1873, no próprio dia em (pie se inaugurava a estrada de ferro Ituana, em cerimônia presidida pelo pre sidente da província João Teodoro. A notável a';sembléia cm cpie se formula

ram normas precisas de direção partidá ria, firrnada.s no reconhecimento c.xpHcito do valor do esenitínio secreto c da
plena liberdade dc sufrágios, fixava cm São I^aulo as bases espirituais da re pública e traça\a os lincamcntos de um mecanismo político que, a ser convenienteinente seguido, houvera dado ao lídima escola de democracia pais urna
o de seleção de valores.
tfcular, os arh‘ptos do lr«)iio inostrar.immu tanle n ttl> nti deNtituidos ide.«h''ti;o e <le f/-. i●',lItíiU-lhes. p.ír.l (hriL'*'-‘v a opini.u) «● d^ íend- r »> Impé rio, iiiita ÍMipr< le i < iii ( <>iiiji<.õ’S de con* frab.ifer as ( tiin.is ui> ess.miemente oxlern.icl.iS pel.is folh.is i< piil>li' .in.iS e «jue fí-r.mi minamlo ei.idiMliiiente .» lidclidade tl.íS cl.is.ses III.lis eiilt.is <l.i popul.t<,ão.
d-
} loinein de menlir alicereadas prl
( on\ lei.ô- s polítiias sòlida(lesi jo de pro
gresso e pelo C'4)nlK-ej|iicnt(» dos '●istemas ch-Jiioc riitieos
() europeus João Tibirirá eiija «●\pi ri«' uei.i <!<● la\ r.ulor ciiltiir.i da caiia. na fa-
arocar, na enaeao o n cafe<-iras,
e no : benefit iaiiiento cl algodão e, uporjamaís deixou (MU váii(;s escritos dos proble mas concernentes à climatologia da pro víncia de São Paulo e nu-siuo do Brasil. Na ép<jca da dos coiihcciincnlos elelrieídade o da difusão positivos” teceu ►
várias considerações sobre o “Clima do Ücslc da Pro\'íneia
Da famosa reunião dc Itu é que surgiu o pensamento de fundar um órgão jornalísticí) porta-voz das magnas aspirações republicanas. Oriunda desse encontro de forças e de idéias, a “Província de São Paulo”, mais tarde “Estado de São Paulo”, divulgou a melhor catequese do novo regime, pela pena de publicistas sòmcnte se mostraram doutrinaque nao dores como comentadores dc talento dc todos os fatos e acontecimentos, monarepúa não contou, cm São Paulo, para defende-la, periodismo tão completa e adaptada à suma missão político-social. Neste par-
A
4< clo , salientando iis causas principais da fcrtilidadr terras c dc suas ilas i ncomparáveis nossas condi ções para o increnH.nto dos Baseado em múltiplas observações collúclas cm várias zonas do território paulis ta, descreveu minuciosanuaite os sinais precursores das geadas e procurou rela cionar as suas pe.stpiisas eoni a teoria dos jnais autoríz.ados cientistas a r('spcito do assunto. Mostrava èle o futuro da “meteorologia”, ciência (“ulão nos primórdios e que êle cpialificaxíi de nenlcmente liumanitária” em \ iiiudc dos se.-rviço.s que viria prestar à agricultura. Fxpositor de teorias próprias, aquele que se designava como o “naturalista” João Tibiriçá ainda procurou concorrer para elucidar o fenômeno das secas do norte
cafezais. U emi-
98 Dicr.sio KcoNÓMiro
l^iral ining.i, se patenteou na bricarão do })lantio por fim, no tleseiixolvjincnto cK* i tante-s fazendas dc cuidar
expressão de com uma
quando o flac'*li> at.uou ►etentrionaiv.
as províncias
lharo tlí* ^ «d um n« ''> « iitir .IS N' < IS «●
< <-iíaud o lec«T atmosf» ri( as das
1' nti-n.»-; dr mihfSii.Mj rm «-st.ilieIas impunsada
p'*rturl' n.õfs a *‘d«-\ a'tai,.*M» .uamsrplaiít.itrm .ir\»U«'S,
!
Ccntml tio Rnsil c pela Paulista. Os r.unaís quo ^lorivam dt'ssrs traçados pritu.aiov ^.u) a Mojiana. entre Campinas c Moji-Miiim; a Utiana. que liga Ilu a 1 ir.u'i*.‘al'a: a Somealia, que vai df' Sâo Ipanema, -stnle da sidenirgia. An /i>nas do litoral norte P odii .1 e sul, tão
P“si(i\ ,1 .ijiiiitaPl iiitai. pois. ar\or<s. mriis l atos«* iiiii.i il.i a
va: V cultiv.ii a « lem ia: ■ ulr.i res vitla no pr« '« nl«-. a i «●voiUlellio iio futuro sej.» o nosso
prosperas (ju.uulo o cafe >t a vegetar e
K IMS .1 rn in i,i - Ihoii seus pilt Or>nu> ainii!»» da cju leuqMis ainda recentes, ' alaslrax a pelas margens di> rar.uha. oairam em decadência." No litoral snl. Iguapc passou
m. litoral norte. Sâo Sebastião c Ubatuba. portos ot»tr»>ra movinumladíssimos c I l»'rcsccuti's ja/cm esquecidos ao pó da Inspir.ul encarando o.s s* os lismo f espirito positivo. pul,li
1873 na "(ia/* t.i dr C.unpinas*’. di rigida J^nr 1'raiK Íseo (duiiitio dos Santos José Maria Iasl)oa. nm.i stTír de .\rligos ‘'nirlbons

1) pelo ainoi a sua l<'rr.r c ptoblotn.is etun reai‘»m èle ern c das diroçõiS d<‘ respeito a
nos.sa.s <
●stradas <!«● b iro iu> oesli' de S.‘»o
e só recebem as cargas de raras tropas atr.ui's de antv's eram as e eixnstrnidas da
Serr.í estradas que pouco m.íis bem pavimentadas pnn-íneia. Cedo co meçou o fenònnmo do fcnocimenlo do 7.on;is intt'iras rapidamente abandonadas
í'm f.uor das terras virgens situadas
Ire o Uio Grande e o cortadas ai.
em a fé ca
o aprox«‘ilaineiito terra.s vista
,„r.is nprupriu-las l>;.n, . :il',i)cl:io.
, cana c dos iríK-:»
culturas do as liMu da indicação dos iK‘c-es'arios ã ligaç.ão da .Mina.s e Mato Gro.sso.
enParanapanema e lueio p,do xale do Tietê
Panio”, tral)allio qm- «locnnirnt.i o acuro a nialéria foi estiid.Kl.i, lemlo com q'tc ,
.-.um, I,;„Kloinmtcs. e objeto de Un;mlamonlos muito imprecisos. A X laçao ierrea. eomo x inios desde em „ ,, , — os dias tpie SaUlanlia Marinh
●íneia coir; prox o agromiou os lavradores c capilali.stas da , -, província para uma obra independente das tutelas e.slrangeiras. empolgou lou este senso de^ os espíritos e agi-
í/cvcni-n/t-inicn/o econômico (Ia Província dc Sâo Paulo
yY prox’íiicia fpio Jorge Tibiriçã deilando mal ingressava
prcln- xara dios
da jux’eiitude, mostra cm 1879 imantes transformações cie aspecto inaUm relance dc ollios sòbrc o dc São Paulo põe dc imediato relévo os progressos da xãação férrea. As cidades e vilas principai.s se localizam dc dois troncos dc
nos portJ teria aço que se longo
ao c-steo do sego
-idem, o primeiro ao paraíba, em direção
longo do Vale à C()it(' e o
ndo para o ooslc até Piraçummga.
São as linlias mestras formadas pela Es trada dc Ferro do Norte, mais tarde
_ iniciativa e de de¬ cisão que faz os paulistas denominaremiamjucs do Brasil e os orienta ti* SC os
sempre para a execução dc empreendi mentos progressistas, que a Paulista, Da mesma forma Mojiana e a Ituana se a plancaram e logo .^c concretizaram de pois dc entendimentos levado.s a efeito entre cidadãos atixos e dc velha estirpe pau IS a. Ias fora das áreas diretamente scrx'idas pelas mencionadas cintas, de Iciro achain-sc distribuídos, principalmonte em direção sul c oeste os núcleos para onde afluem os lavradores pionei ros, quo afastam cada vez mais as bocas
KcoN<S\nro -TO
O
t
em aberIromoOes-
do sertão <: vão deslocando as fronteiras liabítndus da prtivíncia e constituindo centros de lasfjiira e eri:u.ão destinadíis a SC convert*retii s*-ni d»-tiujra em pujantes jimnÍ<ípios. Hrnt.idos da terra xirí^em esses t»*nlros lo^o afraem. \olta de uma ou aliínutas f,t/i-ndas tas por corajosos penetradf)r< s d<- si-rlâo. traballiadf)res li\r<s, romercianles. peiros, í-!einentos d<- lõdas as profi*-sões e origens, que estabeloce-m as l>ase-s <lo po\'oainento. l^rrjsseeuc o nolá\« i 'iniento prenocado pe la cultura c afeeira e continua o prceiiciiim<nto de ●/ona'; inexploradas e entreem-s atj desbravamento exclusivo da nenlt; nacional. Bem além dos terminais ferroviãrio> encontra mos do lado sul, Boluc-alu, Lenr.óis c os Campos de São Bedro. Isntro os rios Ticlc c Mf>ji-Càia(,n, [an, Brotas, calvado, Araratjiiara c, por fim Jaboticahai, ao pé da serra do mesmo nome. Bara o oeste, em direção às divisas dc

durantt! a íjual imenso esfórço
grantes c
Minas, siiri^cin coiikj vigorosas prome.sbas, Càisa Branca, Sã(j Simão e Ribeirão Bréto. Todo.s êsses nome.s recorda .1 unia fase dc grande avanço .sôbrc o território paulista e foi desenvolvido por antigos elcancntos brasileiros, sem o eonciirso dc iiniein episódios que mcreceriani
dcvidamenle osliidados c divulgados
Na gciiesc de centenas de fazendas e vilas se putcntctni uma série dc processos formativüs que se repetem eoni a cons tância de uma regra. Adianlando-se pelo interior à procura de terras novas, à testa dc gente sua ou por intermédio dc dadeiros batedores de sertão, inúmeros paulistas mandavam proceder aos reco nhecimentos preliminares. Seguiam desintentos prefixados e não mais caminhavam às cegas como os an cestrais que cobiçavam ouro e índios, notícia de haverem sido
ser vervez com ta ^al corria a
li proccprimeiros
ap/js Icrcni acampado longos í-rinos onde dormiam
líKali'/adf>s <-ainpos tavor.iveis iiu café e {julias cultur.is rendosas, iniiiavam-se ●is pes'jnisas pf>r p.irfe df,s preleiulej^tcs a nos.ís i»|el).ís () des« jr) de p<Ksuir lir.indes es|) i(_os »● de l●●rre:^^) fér¬ teis «Icsprrtoii *● tni>ddí<ou .itilie.is an.Im.ões de ij(|ue/,i. Inúmeras f.iiniha.s. s('^ind.is íB M US eM i.i\(rs «● .^^^e^ados SC (Iniuíiaiii p.ira lte(hos intcii.nni-nto deM-rtos c ,dl. ( ●-Had.is d<is peljeos COUStaiites <lo cliin.i e dos piojiríos ohstái.-idos da ii.iture/.i, |e\.ii.im .1 termo uma obra de d<-s!»ra\.imento e de orii.ini/açru) (|uc deniandasa miiit.i teiiaci<lai!«- c resisteneia iísic.i e moral Não foram poucos os cli.-b s de lamdi.i partiram, acoinpanliados mulheres e lillios, ílípara a pela floresta «● le\antanic-nto dos a iaixa liitiilad d< iam ao ranclios, dias cm ou cm canelas de bois. presenciaram a d<-mibada a formação das fa/.i-mlas Uaçaram, orf^ani/.aram, tar as durc/.as climátic:i.s c
a 110 clião lesses liomens tias matas c qiu- id(“aram. não .sem enfren-
muitas vé/.os agressões de gente de.seonlente ou de escra\os n-vollados. as ameaças e as Asaglonicração a feição de fa/enda smi (jiie tomava corpo a naseenttí n adí|uiria ))rodiili\a, o eliele fa/.ia doação do ter ras jiara eliamar gente, agrupava tlebaixo de sua autoridade os elementos livres e mandava oficiar :i pniMuira missa para
dar imi cunho de sanção espiritual à obra eieliiada. Isra uma jíiova de sábia po lítica para lhe reforçar o prestígio.
Todos os nos.sos municípios oferecem o.'; mesmos lin(‘amontos dc formação ini ciai. São crônicas de história que, com poucas variantes, se reprodir/.eni de ma neira (}uas(í idêntica e contribuíram para dcaiiarcar os planos sociais constitutivos da n(jssa estrutura agrária.
Nesse importante ciclo de povoamento
100 Dií.r.rfo Eí:onómico
c (íf prtíi;rrss«) rntal .is rÜMS trrr.is lU* São r.mln fi/ p ira elas
iini iiitiii'To « niiMi b j .1%' 1 tb' lanniias tbj.
p.iii
r.tiii
Alt (I i'' » l ns ah 1\
,.j,il)r«nlKtratii-s«Moji.oM dlifís p.mlist.
<lcs( <)l>ríf 1 i'."s de origem.
A citl.ulo t'olonial. em que os tilhuri« o troles \inb.nn substituir os burros r nuíl.ís lios Irtqieiros, assumia uns ares ilr i>i>Mm'politismo c de ostentação de ln\o.
to. Nas ruas ouviam-se falar vãrias
« I >m'I i.’ir ● Tani i iiltiinas « sfas miiiens''** '● I IlUlt II I s provind-i'' *■'" U' i il ■!.● \!r.;ii-. (\imli i. (.ald.is. l' iiii>, iti'. 1). set'-
V 'III S' lls AlM r:ii otiM.ii.iin
línguas e a afluèneia de milhares de imi v:ianl<‘s <1« iu>la\a que a terra se prestava
11 I .i loin os M
«● ''» I a\ i>s V 1’aolista «● n a enuqu« i-er os áiKejias e a fa/or peiar tòd.i a ^<ute de negócios.
<l"ais poiii.nn
<h- pilVlltcMi)
●A Panlirt iti i'm IS7Í)
in.is ja c um.i Hor«’st,t'nt<'.
progressi>
o \aj agora rega-
prose o São Paulo atual 3
,
●y
a
Wilvaiiios um iiisl.mfe os olhos i para a I’aulií éia (lo 187í). qm- Jorge Tibiriç.'!, di-tad. ausente (piase uma oljscrvur depois de Ira/.ej os olhos lado.s

sobretiub) pelo rejii\eneseiim nto inara\iIhoso J^aris, obra do prebato II.uis-
pitai tia prmineia se libertaia iini claquclas (cições mescjuinbas aimla ●ormidamenle c.stauipadas na cidadias da guerra dcj l’araguai. jorge a os ilesfilcs dos balalliões luupielas ruas e.slreitas o
poiico tãí) P* (bnã<; ■ em <|UC, parados ã porta das dt toi da-s ‘‘ quitamla.s, vrlJ
●\os olhos do brilhante publicista, depi>is das cidades ilos jesuitas c dos pitáes-mores e da cidade acadêmica, j gira a c'idadi'
casurzaçao
l■^pl^ ■lldores ila bJiiropa c , traiisfigurava e crescia dia a dia. C
lic«)s. nos f icios. lU 1)1' VIU
O
■ Jtiptvs da população, nos edinos di\crtimcntüs públicos, que subsistiam Na numerosas igre ●_1
jas de outrostempos, som renovação ; quitetóiúca. eneontra\a-se o fino burguês 'eshdo A moda parisiense, o vclho°côuego de ehapén alto
irU , í
..4 )
os cargueiros reprea <'cna mais coniiiiii do
inopassatlos alguns povo com o Vários que transportavam milliarc‘s de passageiros,
gadas”. -
A luz plena do gás sica e.\il)iam-sc nos tlorcs <4
e no som da múrinques' dos patinaraparigas modernas, livres, alehu's, civilizadas, csbeltas, o.\igenadas ensaiar o patim c a embeber-se na hb giciic da ginástica”, com 22 i ● J
% sentavam x lnicnto urbano. Agora, aiios buniliari/ação tío progresso trazido polas í'cno\-ia.s, apare ciam outros uu‘lboramonlos complemen tares. lampião de (picroscno cedera lugar aos coinlíustorcs dc gás. Ijairros oram atravessados pelos trilhos dos carris urbanos diàriaiiu ntc 1 t: 1
principialiotéis, iios
prinoipalnionlo do lado da Luz,' onde ■ ivam a nuiltiplicar-se os peqiiepre curados por numerosos viajantes do interior e até do estrangeiI
a A cidade contava Igrejas
, o6 escolas primárias, trés jornais diários. Há
uma
i
ticlade de hotéis, sas de .-●il
repasto.
V r,Dicrsto rro.v6Mu:o 101
1
\
i 1 L
(
Onç.unos o <pie nos dl/. Américo do t^lmpos em 1S77; “Não é ainda cidad ile primeiv.i onltnn
( I MU ( >S I > llliilos
■s
A
gr.inde cidade, populosa, a transbordar de vida c do
monstruoso imbróglio das trés idades earaclcriza\-a o São Paulo de então ' eostmncs tio
quü se
(4 nos p<no. nos hãbitos domés ; Cl
, - , cocotle” de ehapelmlu) mcnvel, luvas dc trés bocauda do dois metros e botinas perna com
e a a moia saltos dc duas polc
espantosa quanrestaurantes, cafés, caceweja
, botequins e mesas de L
Na indústria, ocupa o primeiro lucrar a Fábrica d«j tecidos de alçfodãü do ci dadão Díogo de b irros, emprcirando 71 operários <■ prodiizimlo diàriamejil»' 2.800 mclro.s de patio. Há seis tipogr.iíias. fá bricas dc Cí-rveja c de vinho nacion d, ● várias fiitiílií,õ';s, serrarias e in.irccnarias ^ a vapor e uma fábrica fie “betou’', ci mento. A cidade conta 30 mil almas e destina-sü a exercer na província e etn , todo o sul do Iinj3ério l.irga e civili/.ado' ra preponderância, nas relações da in dústria, letras, ciências e políticas, re presentando salii-nte e nobilissiino pa pel nos fastos nacionais de amanhã.”
No ípje rcspi.-ita aos titular<.'s da jirovíncia, encontramos seis com grandf.*'/.a c uns trinta sem grandeza. Ê uma lista razoávc'1, em (]iu: figuram um niarfjuês e muitos Ijurões, baronesas, condes c víscoJides.
Na Assemblciia Provincial, dc 36 mem bros, quase todos conservadores, figuram, entretanto, quatro republicanos: dr. Pru
Barros, dr. Mar-
dente José dc Morais tiijlio 1’rado júnior, dr. Cc.sário Naziany.crto e fb'. Jf)iU[iiiin de Almeida Leite.
Na Academia de Direito voltaram a aparecer jornais e clubes, dominados pe las idéias mais diversas, desde o positi vismo até o espiritismo, desde a demo cracia até o pocler autocrático dos Papas. Ao lado das folhas dc tendências polítieditavam-sc outras mais consagra das a artigos .sobre literatura e jurispru dência c da autoria de espíritos que mais tarde ilustrarão a política e as letras nacionais.
tfio militar, s< >n cr.mdr?? «-olip * s.iltos nem at (ínl'-< iim titrjs (!●● uioldí* a iin])r(-'>iun.ir a opiinãn |>':1j!i‘ a.
O p'-rÍ4>do (m.d d< .●‘4ll.l«,.'n> pnpill.if »●
ser M.is \*''[)« T.iS d.i M* oljscrvoti iini
rrgnn«‘ p.is^ou si in s< UI lirilho, a n.'iO
It.-, lóblii I, (|u.mdo llnvo <!'● prospiT.fhulc
e d«- b< in-i sl.ir fm iiufiro. ('(-(inoiim .1 como a tfinfirni.ir rjiie anl«-s tl.is crises dec isivas .ij).ir<-cein n.is colet iv id.ides et)ino nos indi\ ithios .sintomas en^ ii'..iiiores (!<● euforia e boa s.iútle orgânica. Pohlicanienle, o Impi rio se limitou ao fimcionaineiito mais ou menos satis¬ fatório do sistema parl.inienl.ir. através de IrefjneiUes nmd.im.as de g.il)inel das alttTcações tnl)uni( ias entre hbtTais c conservadores, tes do j)0(ler de acórdo crpiilibrio de D. Pedro II ser liábil t
es c re\c/:id.uneiite oenpaneoin o jogo dc (pie sabia : por \'ézcs \'olnntarioso St inpro desenipenlíou deveres
mas com eltívação os de .sob(‘rano conslitncitjnal
nas províncias eseravos do por
iniia crise de inão-dt:-obra irreparável. A incerteza do porvir cí)in relação braços da agricultura atormouta\'a mui to os fazendeiros, tanto mais
aos <pic em várias zonas já se patenloavain os efeitos das terras decadentes e a l).iixa produ tividade das culturas. Nada aflige mais uma classe do (pic a perspectiva de grandes prejuízos ou mesmo da ruína. O declínio de rendimento nas glebas cansadas pela cultura intensiva do café incitava numerosas família.s mineiras, flu minenses c paulistas a correrem em de manda de terras virgens. Bem cedo, após uma
5^-: ■
Os últimos dezenove anos do Império do Im- Os últimos dezenove anos
bonança c fartura, os lavradores sc viam compelidos a mudar dc pouso, dificulda de que só podia ser enfrentada pelos ●,T &/● I
perio, de 1870 à proclamação da Re pública decorrem, exceção feita das po lêmicas abolicionistas e por fim da ques-

Dinr,STO Econômico ^
t tt > t ^
r cas 11 a»
A lavoura, sobrelutlo snlislas, importadora dt)s noile, temia ser despojada por uin golpe aboliciíinisla e colhida do súbito .t
fa.se rclativamcntc breve de
mnis í-ni-ri:My>s «● ui i omli\õ ● pr«* f.i\ nr.’i\» js. v;iin -I <)i I
lí il> il)i <1
s ixan semV« íjtu* M* ae.rav .iI>i)a «-S, 1 .ius.ul(i> pola
i ●!« S.
I’rr<l< iiíio iiii iiii nicllíf»!’* '' piijilo' (●oin iii(lií*-i' iK..í
tnu I 4 'S > ;«T <1(> p I t f ■
M is
croavain as pii»pi«.Mml. nbolií ioííi''!a. o hiip,'.j|,, mais pi la fjiri,.» d.tima <lo po\«».
.tis t>s -scíis .tp.>i() o om .íí.ulo < !il.id« s omio m.iis is I i p;;Mii .ma o I' miia .1 limar
IIli-Ji i.i ijUi pi-1.I os-
Í-: ( laro «pi‘- t m s« liavia <●' p« rar colei í\ () l'or
●inel nao
Itisiasino nmnla. n« Tii ●spa(
liaul<‘ almosfora Uiau-.Ie.s lauoes ile inioi.itiv.is ilo alejins anos a
os fatos. N';u>
injiislo negar vis.u)
on,() de nionaríjina como *jue vee«-ion o aooitoii passivamente a m.inlj i d Ilie faltaram lifínieiis lioncstos o intoligí ntos aos <]uaís m tí.i Iargin*'/a do idcaas.
1 ● in-.S(‘. conlmlo, Min istadista do rofonnas do
imprc^ssao ipte laltou pulso, fjintlo o U S(TVÍJ-se do fermenio <l.\ si(,'ão ropoldieaua p.ua .sacudir o torpor (Io p‘‘*^ * laiívá-Io na (rilha de inicia tivas mais arrojailas. TaKi*/ o Visconde (Ic Onro feitio.
o u apt<» a omjireendor opoPrelo lòss(' um hoinom desse niiiilo tardo Cdiegou. porém,
o
*'nl\-o dos ' \pifvsâo ilo voto popular, íu.iis tvjíst.íulrs osfori^xvs vlo
um i>ovo
livro, tíij.i prinoipul fòrí,*a dovia ilorivar vl-i opim.uí púMio.í c da autoridade da ;

loi
Nos .uuis sv^uintes. o |MÍs, ciijo pro- .i iiu \M> ,'cr torn.u .» eada vo/, mais ativo j no sul. lo\f ipu* aro.ir oom posadas dcsp<\sas p.u.í sooorror as provinoias nordo.slinas. Iioiriv olmonlo atingidas pola .''Voas. Ató oiToa do USSO, o govi^rno gaslim do/on.is ilo inilliaros do contos, ^ lííidos jh^r moio do omissões, pan\ ijj aomlir oom urgònoia as zonas flagela- ● das. -\j r.í.slad.i.s ilisoussõo.s cm tõrno vlo orodito aiíriool.u da assistência à la-
vonr.i o à indústria o do melhoramento ilo inoio oirmlanto as.sinalam os anais do parlamento. M.js o Império continua aos ompró.stimos, mais para oonsolid.ir a dívida flutuante e garantir o oàmhio
a rooorror (jno p.ua ohras esUmuladoras Em 1881, a chamada Lei da pro(hi(,\u).
Saraiva rolormou o sistema ele elelçÕCS.
■V lal.i do (rono aludiu ao cumprimento imparcial da lei po.silava melhorar
exatidão os resultados c íp» mo rar oom relativa das urnas.
i na (jual a Nação demolhori'.s as esperanças para a sua educação política e apu consumado o irre- - lando já eslava (liávcl. pepois da (picstao servil, intcn.sanio gUada pelos aholicionislas c olhada tôda
na coinjíIactMieía pelo Imjiera-
reforma
tííS ventclo, acusavai o outro cie cr .sIstcMiia dc um fraudes. 1^. Pedro II
tt
tc a eoin clor, o tópico ípie mais fomentou debae clesperlon paixões foi a eleitoral, pois cada partido, (jiuindo SC prevalecer viejado (‘ propício às cm 1872, procla mara que a V'erda(l(! da eleição era a base ossimcial cia forma do
Em 1888, sob a alegação dc atender necessidades dc crédito ligadas disomolvimento das atividades indus triais, loi sancionada a lei relativa bancos do emis.são fnriu a ela
às ao aos O Impcrante eoino destinada a restringi
e lamentava os abusos que* perturbavam '● o processo ('loitoral. a mencionar a necessidade cie forma que elevdn asscígurar
Em 1873 tornou uma rc'a genuína
r a
‘-ncu.içau do papol-meeda, quando, verdade, se tratava dc uma forma infeliz cíc apelar para o papclisnio.
Lntr('tanlo, cm consequência de vános fatores benéficos
'●‘‘ i-to das atividades reinava a i
rio ia renovação de vitalidade nomiea. E apesar da efervescência
se rena para o encorajae da especulação, impressão que o Impé
acusar uma ecopo-
%»■ T DfCKSTO KcoNrtNtiro 103
H gov('rno
i t
lítica e dos molindros dos mílitnrcs, o Visconde de Ouro Prt lo declarar se animava a qne o gnvêrno estava disposto
pArlo dc ].rnç4l*i. com n projeto de í sle-tiflr-l.i :;t/- o A'.nili.iiul u a. Sul) a .idiiiiiiivtra»,.'^»
<lí> dr. ]oão Ba.●●●sunnr.im ás- tist.i Peieir.i. ' 111
ISTS.
fririna de go-
combatí;r a corrente de idéias rpie desejavam a mudança da
II )astante para admi
tir c consagrar os princípios mais adian tados, definindo-se a situação do pais necessidade urgente c numa s6 frase; imprescindível de reformas liberais”. O programa do trono, agora, antecipando o da RepúVílica, seria; "plena autonomia dos miinicipios o das províncias”. Seria, em parte, a ropublicanização do Império. Mas a marcha dos fatos mudou as espe ranças e sobreveio o 15 dc novembro.
A Província de São Paulo de 1870 à proclamação da República
Sem nos estendermos demasiadamente sobre a marcha dos eventos na província paulista até a proclamação da República, pensamos rpic uma leve recapitulação dos fatos mais importantes servirá para dar uma idéia do período final do Im pério.
Em 1875, uma crise bancária no país refletiu bastante na receita paulista e levou o presidente Sebastião Pereira a dizer que "metade da renda era consumi da pelos juros garantidos a estradas de ferro c outra metade se destinava ao fun cionalismo e força pública”. Vício an tigo, como se vê.
Os melhoramentos das comunicações todos os governos, de mo- preocupavam
do que SC mencionou como inovação fuestabelccimento, pela Compa- turosa o
Jler.i f'-if,ã'«
:is ( |H>l;liraS c o
Íí>i \ inlnil.iim-nl*' lu-stilizado ( >mst rvad*'r. Como ne;i tofltis í»s atos (1 i A*í''emao Su-

pr» ' idenl' P.irt ido ll ’IO l'a‘'Sc' S iie.ao bléia Proxim ial. foi d' tmm ia<lo ])reino |M)d. r.
Tri])im.il (l<- jiislií.a por al>uso dc Híoa-rii iiiti-, rml>ora cloi;ías.sc \i\ainciitr o adiantamento da pro víncia em todos o-, ramos da atisidade in dustrial. frisando qn<- ela se a\antajava i\s outras regiões do Império, fjueixou.se muito da infraiiNií^êiu ia das lulas par tidárias, trasadas “no lerr» no incandesccnl<- das paixões”. Adilou cjuc "os periodos eleitorais são sempre de maior oii menor aííilac.ão, t:onse(|uènc'ia força da paixões (jiic; excitam e dos inlerêsscs ({uc; sobressaltam”. De falo, em 1878 as lutas c discórdias chegaram a nm auge deplorável c deram catisa a muitos conflitos e atentados c desvirtuamenlos dos atos clcatorais.
Pelo que respeitava á instrução pú blica, a palaxra oficial era que“o estado da instrução provincial era lastimoso e o proiessorado não passava dc "um refúgio para Iodos aqueles que não ti nham habilitações para qualquer outra profissão”, isto não obstante ti criação, cm 1874, da Escola Normal. Nesse mesmo íino dc 1878, os imperantes via província e inauguraram 0^ da Companhia Cantareira c de
situiani serviços
nhia Fluvial Paulista, da navegação^ rios Tietê e Piracicaba, até o
a vapor nos
Em 1880, o prc.sidcntc Laurindo Abe lardo de Brito, ao falar na transição ,sc operava, do trabalho escravo para livre, referiu que o governo geral pc^' fundar escolas práticas de agrieul' cm São Paulo, tendo dado parecer
0 sava tura
I
104 Dif.rsTo Económtco
M
M a
r.
tt
i
E frisava: Conxinba enfranão p<'la violên cia ou repressão, mas pela demonstra ção pratica de que* o regime monárrjuico tinha elasticirlade 1 s IJ
verno quecè-la e innti!j/á-la rI*-' rP*
Esgotos.
sôbrc a matéria os srs. João Tibiriçá U-
miinincn. IJrnln Krancisco cie Paula SnuIdéia Zã c Hafa» ! A'.;uiar tio llarn^s. notávol. it» is quo fu ou no papol.
f>iun.i‘« d«' usp« > »,d u ,tl J1 lu tito ,';stro fo fihras th-
ram as th- ámta à ea* d<- tlixrr^os liboipilai, c*'"* ‘ ‘aplat.ào ros na Stuia tia ( antait ira. a oonslrtit,át»

ele uni rusirvatono Consolação o a it>huat.atí t metros do oiu anamonli*s.
i^c-i.d no morro da h- mais 1-1 >ml t à)nslgna\ a São
nistncíor. h quem se deve n criação da Comissão Geográfica e Geológica c a lu^íuração tio Or\'illo Dorliy para seu primoiro dirotor. Abriu ainda 0 caminho tios ir.d>illu's oslali.sticos tnodcnilzados 0 m>Jnotn; a comissão composta dos drs. KIi.i> Antônio raclioco c Chaves, Do-
pr. o
a provínoia tio
i\a as tmtras pola sua
th- posar s. bro o t^rça-
●sidont*- «pio Piudo subropuj. renda e, longo monto naei«>nal. jã Iho fornecia fartos rcH.tir-os.
Cm 18S1.
o presidente Klorèncit) de
missãt) executar a Lfi Saraiva, leman-
Abreu. fpie ti.r/.ia por lei eleitoral, chamatla a bom tOrmo o seu encargo c i\ reconstrução do Palúvou dou proec-der cio do Covôrno. benfeitorias, do dr Nicídaii de St)U7.a Queiroz, o St;rl>ri)\iucinl tle Imigração recebeu ciávid impulst) c tomaram incremento cngrnlios centrais de açúcar dc l»6rto l’eliz, Piracicaba. Capivaii c Lo^ r<'nlretanlo, uma tiucda sensível
mingos losó N\>gtícira Jaguaribo, Joaquim ]osó \’ioira ilo Car\al!ui, Adolfo Augusto 1’intt) o Abilio Aurélio da Silva Marques, elaborou um do- graças aos quais se
t tmu-ntãrii> modelar acerca das condições gorais da pro\incia e do seu potencial oeonômitTi ás \'ésperas da República.
junlamcnle com outras I-an 1S83, sob a tlireçao fhrxos (j pi voltou a
viço apre iiovos os rciia. * p, , * los preços do cale pitiduziu graves re nas finanças provinciais. Em 1S85, esidenle José Luís de Almeida Couto ferir a tecla do ensino, decla-
Muito fÒ7. João ,\lfredo para que São r.uilo aporft'içoasse os processos dc cseolba tio otdonos. de forma a zelar pela qnalidatlo do olomcnlo luimano Inlroduzidt). Cãmi porto dc 245 mil escra\os a província diricilmenle obtinha tra balhadores estrangeiros cm vista das ^ eampanbas de difamação para apontar o Rrasil como país impróprio para os Cabe lembrar por fim as idt'ias urbanísticas do digno presidente, om tios primeiros a sugerir a canalização tio Anhangabaú c a abertura de ave nidas circulavos
curt)pt-us. para evitar a congestão
das ruas centrais.
O governo seguinte, de Antônio de Queiroz Teles, Conde de Pamaíba e sogro de Jorge Tibiriçá, foi dos mais l«'ciindos e marcou um extraordinário es- rando cm seu rt.lalório (juc era para im pressionar cpic cm inna província, berço dc prcclaros cidadãos c nobilitada por tradições gloriosas, a instrução pública houvesse sido tão dt^seurada. Acusava ainda o mesmo documento que o cafó fpiase único artigo dc cx<< o nosso cra
porlação
Ithço para incrementar a imigração e firmar nina corrente bem dirigida de A entrada de europeus bem selecionados vinha permitir a São Paulo resolver o problema da manuten ção das fazendas e afastar a idéia
A presidência de João Alfredo Correia (Jt; Oliveira mcr(’ce particulares referôncias.
nba
João
Sakla- Como Nabuco de Araújo
Marinho, pernambucanos como êle, Alfr«’do SC mostrou notável admi-
povoamento. premaluva da divisão das propriedades, nieque o presidente julgava prejudi cial à lavoura e ao desenvolvimento das culturas, quando São Paulo aparecia co mo a
dida terra por excelência do café
e Tanto mais grave se anunciava a falta
105 DtCESTO EcoNóNnco
O
I
de braços quanto o ambiente criado pela escravatura se revelava cada vez ni.iis
se fa/'''ndas. uma
fjm Ir ponto rni »jiie eess,i\ am {-ni hr as ( oir.
i>o.i causa. '
● ■●cr.i\(js cm '● lí-udiar, aind.
s«* pro¬ i rs!j'-s í.ompcli.im iinnlns donos <1^ hora allorn.i los .inti-s d
pi« inio <lí- Iji nciiif tT-nc la.
jo«- (a rdi.mu-n!<'. utn l'm I
ad'jiiírí<Io atimiido . a prfjporí.ôcs avassal.al >ras e carregado e explosivo e diàri:unent<* presenciavam tumultos nas instigados pvlos abolicionistas fa\oráv<-is à libertação pura e simples, sem inde nização. Em lõ de di z<-ml)ro de 1SS7, tendo muitos lavradores cornocado
reunião a fim de cstaljeleccr prazo para a alforria dos cativos, c.screseu o dr. Paulo Egídio fjuc, d<-píu’s dos magnífi cos progressos de São alcançados* sem a intervenção do poder central, icstemunbava-se agora mn fatc assombro so — a solução do mais tremendo pro
gosrrno íons<Tvador d. ( rcfoii do inslitut(» scr\il c liído ● dcvi<!annnt<-
un. tmi « t xtinção o pais. como c' '●loi»iadr), aídllusau a
scntinn ntai.s oão
b cotrcsjxmdcram ao .se passou na esfera (●< ouómica
lilicrlos, nial preparados para formar cm tra!>alli,id(jres lí tes, (les< riaram vres e efie as fazendas c*
A it-.
uma apressou nerosídade, praticados à diante da irresistibilidade do niovimcn-
r
I
'f'
r.' r*
c na
De novembro de 1887 a aljril de 1888 assumiu a pn-sidència da província o ‘ Con.sclhciro Erancisco de Paula Kodrigues Alves. Avolumava-se de forma impressionante a ccjrrcnte al>oIicionista, o que gerava o exaspero dos cscravocrapf. Ias cm face das fugas em massa das fai zendas. Cenas cuja e.xtcnsão alarmou o y. poder público. A insubordinação atingía as raias da subversão generalizada efjiK' nem núio;i(lcs d<- cidade i£m São l’aiilo :i ●ni cidade, situação í(ji enfrentada apesar dos pn-joizos iníIigi(Io> à classe agrícola, mas cm Mimis cia lliimincn.se, prov índebandada dos bra

ços cm propriedade d,- u-nas c-ans ulàs e rendimentos precários acarretou verdadeiia dcsolaçao. J'ic;iva a.ssini rematado outro ciclo social do brasil.
O reflexo das idáias posiüvistas cm São Paulo epidemia de gcslo.s de geúltiina hora
A projeção das idéias positivistas de Augnste Conitc cm certos meios do Brasil constituiu ouiro fator para o enfrafpiecimento do princípio
Na França, onde em tificou o célebre filósofo I
^ daram um delegado de polícia no interior porque sc recusara ,a capturar csO fato atesta
porque era anti-social e anárquica pelos escravocraÊstes, obrigados a enfrentar a totalidade da imprensa, tiveram a de editar até as vésperas de 13 adversos ao abolicionisLavrador Paulista”, de
Mas a
e Foram aulas se¬ poucos esse que não foi pro-
DiCKSTt» KcUÍ.VÓMIcO
\
com scniao.is de júbilos e bifortuoadaiiicntr ri‘gozijüS os que . pois os Sc transí
blema social pela fórça exclusiva da vontade individual. ieniiodaram
Entretanto, certos proprietários riic até liqui- violência rais reagiram coin
monarcjuico. primeiro lugar professor pone as
fügídos. quanto cravos . feria interesses agrícolas acoimada de providência a liberação doutrinas por êlc propagadas restringirain-se a inn pequeno número de discí pulos e admiradores, guidas por alguns curiosos c diletantes de cultura c dc inovações ideológicas. Mesmo na Europa, tirante unsespíritos mais dedicados aos estudos pcculativos, os limites do positivismo fo ram bastante restritos. De Comte onda de liberdade já havia pode justamente dizer
tas.quase coragem de maio jornais(( mo
, como o Piracicaba.
feU rin sua terra, mqu.anto no estran geiro MJSf ttoíi jnats enliJstasmo até pela tlr s;ia iloutim.». grialmen.1 I- 111 ile u;n eerbem tuais Lude é <jm* t..om!e se 's traiu<'s»‘S e . jmlul'4<-ntes. O
p.rte pohto a te COnsjd^T.ula uíepu !()t nt!«». (o nu-sMainstiK» t
,it(* iiiodi t II itie uto tl V (i.riion ni.iis c <> objeto <!'● au.'ibs' s mais fdósofo en illet m)o
■foniiadoi M)t lal <* n rc'ceu eiil.ii) u
(i«ia <,l.r ji.iUia etmio ( bete íle esct'ta metulo» tiisjH’U.sa<lo aos Im-
ilf umn n:»çSo nova c chcla de recursos. !\n prn.u j^ir is o. que no Briísil o po'limitasse ao onsaio auloritá-
sUiMsmo st
líO
tlo paitido castilinsla elo Kio Grando ilo Stil. onde aplie-ou normas prejudiciais à denuKTaeia Brasileira o sustentou teo ria'. avlnunislralix as cm discordância com a>. necessidades de um pais americano 0 ile uulolt' liberal.
Ü lema “Ordem o
ficou sòmente inscrito na rri'i:rt'.sso baiuleira e n.u) importou na inspiração colclivida- (le ^èllli). llieU'' de niuu>s eticientes para a Ao contrário, tabez dc\'adeturpação tardia do jx)siti\ismo a detestável experiência do Ksvordadeiro retrocesso da
A infbn-neui
● pmpalim <-spei i.iliiieul^* posil i \ ista n M
L.itJUa. o <pie e a< id.ule cal> conlineule
o estrangeiro n.i Amenea iniioso assinalar, pois a IiIomMum e táenltfica dèsso
tle naeional. mos a uma tailo Ntivo.
abaixo d;t
Xo i nlanto. lalve/. se das idéias loiulistas no Urasd
e Ias a seguranu nle çao
Iros
anál(3gas às (pu- fi/i-rain o inarxismo eon(piislar tanto eírenlos da inteligèneia rusNo império dos czares as iòrças de ●ssão xi* exerc iam solire a ni.issa do sa. opre iin» ignorante e propenso ao misti(● aos abandonos da imaginação, lalino-anuricanos, herdeiros cismo
Nos paises
cól.
tU'nuicracia para os métodos do nmito européia e d.i nui Ic-amci ieana. explique a aeeilaü OU' p.uses sul-aineneaiu)S por va/ões
cia ignorância colonial c por naturezar mais inclinados aos tlcvanoios (jue aos pc-nsamentos p-iáticos, comprcendia-se unia orientação mais apegada às reali dades da cwistèneia. Na Rússia os mar¬ xistas infundiram à fòrça os princípios materialistas, mas no Brasil, onde longe estava dc vigorar a mesma \ontado fér rea (.* conxicção dos grupos reformistas, o positivismo circunscrevcu-sc a alguns núcleos c cenáerdos dc espíritos dc csOra, excluídas as planiíicaçocs fantasistas relativas à religião da Humani dade e à hierarquia social, restava uin programa dc valor a efetivar no domínio da instrução e nas diretrizes concLmentes ao progresso material e intelectual
nossa arbilriti i' ilo caudilhismo.
bán São Paulo, no período que antece deu à Republica, as idéias positivistas li/eram boa liga com certas expressões ile ateismo c com um desejo ardente de progri'sso. Os republicanos em maioria, pii‘leiiam tomar por exemplo do novo regime a tK-mocracia norte-americana c as admivá\eis realizações que ela ofe recia no campo técnico e no vulto da produção maquinofalurcira.
Por itléias jx)siti\-istas muitos paulis tas da classe culta não entendiam ape nas a concepção relativa à lei dos Irés estados c à classificação das ciências.
Não queriam limitar-se a aceitar as concepções abstratas de Comte e pre feriam \-er o positixãsmo transposto em melhoramentos materiais, em escolas, em estradas de ferro e portos. Entre os ir.lelectuais assinalou-se uma corrente

cmpenliada cm rejeitar a x'elha metafí-' sica e cscolástica as entidades puramente lógicas da e em cultivar as inclinações para a ciência experimental. E sem dúvidii muito útil teria sido, tantas lacunas cívicas e morais, tuir um onsino
num pais de instiem que se adaptasse in-
107 PinfATO F^onAmico
As alavancas de Comto Já dfsliK-ar.un — iJfus, f.jmilia. fuundo! hasr responsabiljdades era muito aconselhável no Brasil c teria dado rn' lhores frutos
tcligcntemcnte a parte moral da filoso fia positivista, quando preconiza o de ver do homem para com seu semelhan te e dos cidadãos para com o poder pú blico. Uma cultura fjiií; ao mesmo tem-
po ensinasse deveres que preceitos
sectários de perpienos núcleos allieios à grande massa do po\o.
I*« rcira Baro-lo. n/lisica ein l-Sh-l, das mesmas i<h'ias <● íieacâo positi\a d t*Tuas do < rrehro. um dos
n iúdko, toriK)u-s«' ao voltar da semeador sustentou a das i.IS <l'-/fJÍto fui 1-MÍ em .Sáo l\,ulü mais ilustres saC( rdote s da

u,^> “S inre-
Perderam, por isso, os positivistas, ocasião rje proceder a reformas n lígião do j>roi're Ilustn inf)s agora < ssas l)reves considoraí,ões sôhre o
SSÍ). positivivino <-in São Pau cuja implantação teria certamente contribuí do para a mellior orientação coletiva do povo brasileiro.
com os versos bem lançados de \'i<!«● CJarvalh “Sonho de Pla o no
e mca existência de 0 nao O dr.
J. Felício dos Santos, arguindo o idea lismo de fabricar quimeras e entidades imaginárias, mete a ridículo as concep ções traduzidas cm termos tais como: Ordem, Infinito, Espírito, Fôrça, Provi dência. Tudo isso sáo alegorias e va gas hipóteses, ü que ó verídico desfigura a natureza c* o que se toca, vê, observa, calcula, raciocina, pesa, con fronta, analisa. O código de leis cien tíficas é que é o único inatacável, lógi co e “positivo”. O céu é apenas a vas ta abóboda que os astrônomos sondam e pesquisam com o telescópio. Brasíiio Machado, cm poesia intitulada “A um Romântico”, avisa o vate que se perde em devaneios líricoSi
Quando as asas abrindo, a ácuia da [Verdade ^ Urnndc aspiração E Dons se dcTizer ao facho da Razão - Névoa que se dc.sfa7. se
Abrigar h sua sombra l)anlia a [claridade
lo c-ente tão”:Como dissemos, a simpatia pela filo sofia positivista SC misturou entre nós de laivos de ateísmo, segundo os moldes apregoados pelo professor Tei.xeira Bas tos, de Lisboa, pois em Portugal tam bém apareceram grupos de intelectuais favoráveis à concepção comtista c que zombavam dos sistemas teológico tafísico, explicando que um Deus terno é inconcebível e a filo sofia positiva, rejeitando, dando a pri mazia à razão luimana, rei^udia o abso luto e apenas reconhece o relativo”.
Sôhre o mundo espalhar o dia
Com os raios Ijurilando
Quando sôhre o zênile o grande sol da [ciência [esplendoroso poema [luminoso um
— O Código ideal das leis da [Consciência.
Temidos pelo clero, os positivistas fa ziam fogo cerrado contra ns crenças re ligiosas e pretendiam dissipar o obs curantismo católico ]Dor meio das luzes da razão.
Católica depois; mais tarde metafísica... De resto, a crença morre, exausta, fraca, [tísica
E o mundo se emancipa aos brillios da [razãol
108 Diceíto Ecosomico
J
va o proiif '● IK cin tíj> sO p<-í,a (l.iiTi;»-
\ einanrip.u;âr) cspirilual contlicior^as«i. í-iilâo i (>:u rrlí/.uio prm(i-i u>\ 1.U a’. l\>r is-
1ST7. (!,nli*s il«' Alinrula. numa liH i>moti\ A v\. inamuÍM A s«'íi>ir

maquina, u idéia, o (pensamenti). S.iiul' inos. pois.
() m-nio do ul« al luiulo e<uuu o oceano.
Saodeoi* I'' i * n II t a loi I),. ferro. <!■- fi>mi «
e sse [loeina <'mume ● ;u.a) tio ^ramle en(^enlio Iniinano.
(^)iuT quo t«xU)> 1'onlu'çain que é preciso n O Anu>r jx>r principio, Orilem por B;iS6 (> Puicrcsso por íiin. e o paraiso.
Sõ(> TdiWo c (I Hcpública
vv ein
fittíeias entidades!.'* c-riar Como
_ Deixai de jxirle as infantis ijuimeras;
One ésle l)em-eslar e felicidades
!●: o 1*‘●oduto dos lioniims de outras eras.
Vmios tjno a Ucpúhlica procedem de \ anas causas auqugadas. prevalecendo ciu'im>tància do que o Império ten dia a acabar pov uma espécie de exlinnatmal. em vista da ausência de
a cao
eoiniccõcs par.i suslentá-lo o da dispa-'' lidaile que o renime oferecia no meio dos demais paises americanos. l”.m Sãií l\mh\ como do rosto em ou ,\/c\«'do Sainpau). tle JacariM. escre vo no\'o eullo”; 187‘) sohre tras pro\ íncias. o sentimento republica no se implantara e crescera em virtude dt f.ilòres de preponderância localista. Na terra em que se proclamara a indepiiuléncia e de onde luuiam partido tantas expressões de fidelidade ipiia. as famílias influentes conser\’avam ainda sincera amiziule pelo trono e a fi gura tle D. P<.“dro II. mas os
sando lõda a eieiniiUulc, !■; iitraves!
gt-reis li<q’e — juizes ile juizes, idos num só Ser — Humanidade. lieim
monarimpulsos
dv progresso <lislancia\am a província lia Cairle. O Império se mostraxa to emjíenado nas suas fórmulas darias
muipartie sofria os embaraços defluentes
Sõbrc o iiiicia o
“noxo dogma” talentoso ]íoeta:
assim se proli
da seniieonlralização que o Ato Adicio nal não conseguira apagar de todo. Assim que São Paulo se pòs a contemplLU os Ímpetos de avanço material mento de riqueza, fruto de sua iniciati\ a c ãs vezes x encendo
Un> dogma só existe o definível One aceita tòda a clara inteligência, pois que não aspira ao que é incrível, Mas ao lícito, real: — íi Ciência.propagar-se o sentimento antimonarquico. Pesou tam bém o falo de se considerar mais faxoráxel ao
Derrocando doutrinas ostensix'as. leis que dele emanam, para o bem. Serão leis comparadas — positivas.
Quanto ao novo regime, encadeamento de verdades dn nox'a lei,
e 0 au0 torpor do go
x'crno central, entrou a regime prestígio e à supre-
o macia nortista.
São Paulo julgava-se também dicado pela insuficiência de sentaçãü na Assembléia Geral. Um projeto apresentado na Assembléia Provin' ciai pclo deputado Abneida Noirueirã reclamava o aumento da
prejurepresua representação
● _í 109 n/C»TÜ Kco.nòmico
pauUsU na Còmara c no Senado. Jijv tificava-sc a pretensão pelo adi.tnUr^cn>
tü da província c p<*la duplic.i^.i(j <I.i ÚltÍJT>0> tf«’> (.‘jiU- população rtos elejtoradü <l.t pjo^im ia du pijnha'Se o
16 mil eleitores para a|>eiiae *r <1* putados. A êsse prop/iMto o tio Hío, consignara a probaljilidadc tl.i (J.imara náo at«*nder à aspiração ci.i A-.scmbléía Paiili la, p;r não llie tonsir nova distribuição de distnlos trif itt>r.ns, muito enilxira cin certas prosíntias oOO eleitores elegessem d'(Jiit.ifl<i,
Io f‘P r !.d ];t l-r..-■ f,' 1 ● »r 11 n
«I i í« <1* 1.1 !- ot-.d-a .! :1 prin> 1]
%
; t ● t n:I;( I l..pr. iiiI:" :■J0 ii*' tr ● t t* « ● ' ! M 1 t.ilu ivtx), O c\.1'. .1 d.t in.im-jr.i f«Tín.\ u
i: 1] lo>{ UI a\ .1 M-niprt' tes* p.udista. I .10 ( ',.1 |ll < <'■ IIU M (oui') iiiiia s II ril]< .id.{ iium.i l.iinilia do
t r« r 11.! d'»●. « t.! j
passo que em direito era Corte a 2.(K)ÍJ. dado a 1/Mi \otantes e n. 11* a‘>.
lli< I Jil M ' !'■ .ij M < '● ● ll idi it' s A t si ● IIi > d* .1111< ● 1 .1
1 .1 '● pi»e;ujçosos. d« s-^as s.ilirav jh)U-
São Paiíli; ésv; nu snio ao iiin \i'j iiu<>s t«»iuo c ]«● ●|ualili(a\a as
refere ao ritmo ascensioo in>
\ari.e. in< i.i . nuiii.i p''«.a cuiuiea, in(iliil.id I iiicdia ■■(> ( ..uiu-nlii ilu Mano", (coI )i .il'.iiit m.i), ( ii)i>s peisoiiagens ● r.im fis sfiunnt's:
Aiii.i/jui.is «' 1'ai.i — Negiieiantcs de f 1)01 r.K ll.l ( golllfOS ).
1855 a
Pelo que se nal da ritpie/.a paulista, as cifras dieum bem. O aumento j)roporcional nas rendas IcK-ais foi nos cpumpiénitís de 60, de 2H%; ISfiO a 05, de ODX; 1865 a 70, de 70%; 1870 a 75, de 01%;
1875 80, de 40%.
Em trinta anos, enquanto S. Paulo alcançava o aumento de 20-8% sòbro suas rendas, alcançavam: Baliia, 00%; Maranhão, 92%; Pernambuco, 00 1/3%; Rio Grande do Sul, 130%; Minas, 135%;
Pará, 166%.
Tais confrontos de algarismos e outros alimentavam as queixas regionalistas c as acusações dos republicanos.
M.ii.iiiliao — Prnlcssor aposentado, í .' I .11 a
Pi.iiii l’ jl.iiile ile Iel^<●s^●^)s.
I- a/.eiKleiio emli\ itlaclo p
a or — Einprcsãrio sistema.
Hio (Iraiide
garaiil i<l<>
(i() Norte sem reiid.i. Pedinte cronieo.
US.l S'<
Ser,i;ip.Peni.iiiibiieo — Leão sem juba. Paiaib.i — Ilustre desionheeiila ■slido dl- e.uida.
que
Martim Francisco denunciava que cm 549 dias a província de São Paulo dera aos cofres imperiais quase 30 mil con tos, para receber em troca a niniiaria dc pouco mais dc 4 mil contos empregados em serviços muito precários.
Alagoas — Namorada do tesouro pú blico, l-ispírito .Santo — llotcdcuro dc gados.
Hio dc jaiu-iro — \5-llu) fculor. Mmiicíjiio iKMilro
empre Rilontra e cu
ff.' poeira.
De 1884, aproximadamente, até a pro clamação da República, os grupos mais radicais da corrente federativa, (pic pre tendiam incitar ao separatismo, cuida do espalhar o sentimento dc uma Pátria Paulista”. Não se tratava de idéia fundamental enraigada no

Em 1887 vam uma
Paraná alados.
Santa Càilarina — Moça cpio promete. Pio Cirande do Sul — Curalclado do r. iida.
(loiás
'rraballiador do braços Inutilidade modesta.
f Dictrro Eco^xoro 110 i
úrittia» ne:n tais «{A. .» * i ..*r prosé^ n.uioiial. con« .10 n>C4* :i )’ a.i Mitnrr mul● IIM.!. o-j-:; ● . » I I p.ir.i a
Ntm..s i .« r.ns Cl ●SM >
Mulhrr srHa e dr\-ota. l.in.uK» scin sor- \ss.l
\ ÍÇO- 1.
11< I» t' .1. - M. n
1 ’.|ll Io .1 1 ti il'** V. I ● vu inagntfiu' i\ll hnp' i II <1( M
H.tlu.i
111.1 \ I ● I n t
I .< \ .1 j'iH
, 1 >1 .l-d' !! ●* l.M I n d i .iiteira tio Urasdl ■I u)
P..ul O SI I \ A è'sc imj’«
no. chcfos liboniis e conscn-odores, ndelií.nn om in.ísisu c imificados se incorrartido Ucpublicano. A me- j>^>rarain ao
llior desforra dos moourqoislas consistU Tá I ni fornecer alguns dos estadistas mais brilluuUes da Kepúhlica, como Uodiigius Abes, .Afonso Pena c Rio Brani\>. Km São Paulo, para não citar ou tros. dois e\-monarquislas ascenderão à pr<'sidència do Kstado e se administradores dos mais lionestos
roNclarào e ca-
pa/os — Rodrigues .\lvcs c Albuquer^ ipu' Lins.
1 '.iiubn .iot‘* ilc sp< ll*' ‘ .1 l.i \ <" 11 ■».
lo I «IS
s <● ‘ U
)i in'4i‘ in:i. u I»» <●{ í\ .»s ■ i t ! priM” ■ jirogia’>''Os <1.-
ttnm> no resto mlr.ileinpos llnnos di .IS ll.l Mi^Utuirem um .issinal.uMin e refonn.is ileuar r.i/ôes

Pouco tempo pode Jorge TibiriçA manewr solteiro na tU(lis.iniio-ulor.
t « I r,i iorgt' TtbinVd consliím* familia Na l.lis.lílos (1<> 1 |( >llOl ‘ 1 )iN‘ II <
( luiu) p-ua )iiiu :is.
11 persua torra. Ka própri.i familia cnconlmu logo, em ISSO nmlber eleita na [X'SSoa de a sua prima-
I il ic al as aos s aiulosistas do lmjn‘* acha dc c.imbio fC
■ i<>. a.- l-n
|„,,cb. nt.vKl.ul.líH'
n eaiu <lo. a L<»
iiina ip> iltlo externo e de redoSoara. iiegotaos.
nos IS 1'^stava
irma, Ana de Queiroz Teles, fülia de Antônio do Queiroz Teles, conde de Parnaiba, c do d. Rita M'Boy Tibirivá iunã do João Tibiriçã Piratinhvra.
p t <-XJ
icfipit.irain os clr 15
lítico^* aí^rav . ilitar. l u-oi soprai iiii tão .■itios. riorioso ilaíb‘
linal e os <,-\i’nlos poinlrig.is da «picslas pi los republiiatos [iara o tlia ilf noxeinbro. braganliua c. como \arrida do .solo
A sua prima, formosa moça do olhos jvnlos c cabelos castanhos claros, tipo bastante característico de muitas mm iberos do norto do Portugal, não impresapenas a Jorge pela bclez irracliaçao ícminil.
sionou Compreenderam-s por afinidades de
inonaiciiHii (pie da »» turo
concluído a sua liavia
O Império (b axax a
u .U»'
Brasil unido c pronto ●as iiisliluiçõcs, ávidas do o ●bc-r as iiox comclinuuitos cni piol tlo piovilalitladc nacionai.s. Como
erí de do, IKK) suma
, As magoas
Brasil, loi aceito o fato connl)sUinlc a surprèsa do goldos adeptos da coroa
foram logo al< niiadas pela facilidade na Em São do u(j\o regime. accitaçao
Paulo, os antigos partidários do Impó-
imediatamente
a clinaslia Aiislicle.s l.obo. lanta i ;i p <la ■nfe/.iula e exótica agorentava o fu- S. do Patrocínio Itu, 0 estabelecimento onde se forma vam as moças da melhor sociedade
cducaçao c de prefercncias iiitelectuai cada ,, --is. Eduno Colégio N d
e pau-
llsta, falava côs. mo co-
Ana porfeitamente o frane tanto pelas lições das freiras copor predileção natural, adquirira prazer no estudo, nas leituras elevadas capazes de formar uma cultura. Ma toujugaçao de tais dotes, bem partilha dos pelos dois primos, fortaleceu-se ain da mais o afeto espontâneo dos jovens Um ponto apenas os separava, bem mo aos dois cunhados, Antônio de Quei-
111 1 >tCFAT<J Kc,»NÓmUT»
roz Teles e João Tibiriçá — as tendên cias políticas. Com efeito, Queiroz Te les era franca e devotadarnente qiiista. va-Sf; c<Jin
irjonarEstiiíiava ●) reifime, consai;rasiru eridafle à defesa e ao
O so^ro dfí Til)inr,.'^i, espírito culto c políti( o de fibr.i e .itiior
mn dos melhore-, .idniiujslr.idori s S.V) I'aulo. foi .1 <la
í
I r'
ri
tiel ao
prov in< la e sit ieiíi e pr(»ere' sn. em <oiii o respeito .10 Iiiiper.id
tiluiçôes mon.ir<pij( as.
t.ilito, real(,.tr rpie [oige bli( aiirj
lo s. u presplena h-irmonia or e às insporrepuseinpre s (x>m A
nvíjii, Tibiriç.*!, .mo,
» ultivfju ,is mais aletuo>-as rel.u.õe
o lio r 'Ogro. e deu o exemplo de lo ,1 educação e a se (-oiicíliam numa família ctjm a I
<£
m.'e a
r.idicais dive rgências políticas. A espôile Jorgi- 'l iliiriç.á. <1. .àna, lambóm era católica fervorosa sa c monar(piista 1

servido do pais atrases <lo sistema moárquico, qiie reputava o melhor p.ira mais adeíjuado ao Jorçje Til)iri(.á, exemplo paterno e naturalmcnte pnjpensíi às idéias republicanas e de mocráticas, entendia que o caminluj cessário para reerguer o país seria, cm primeir<j lugar, a derrubada do trono a instauração da República, condição que se lhe afigurava iinpr(.*scindívcl bem do progresso de São Paulo e da nacionalidade.
' onv icta, o (ituisse com o marjilo
O casamento de Jorge Tiljiriçá foi consideradíj, nas crônicas da c mo cpoca, co‘ncen uma aliança de famílias pcrle
E, dc fato, mais natal. Saa família Tique aprea justiça os brasões de O Ba
d< t rença, leira sem inlelecliiai mesmo le
cm a rusga
Joriçá, republicano por formação , {H)r convicção filosófica, no mpo (jiie ateu declarado, ja mais suscitou sóbre esses assuntos o iior motivo dc cordàncias. Jorge, c|uc adnúrav’a iundami-iilc o tes do intclcc‘lo ( l:-.í.*
‘'l.tbili<lade<|ue os comortes idéias dive te.s à nobiliurrpiia paulista, entrelaçavain-se dois ramos de velha tradição e ligados à província por vín culos seculares c pelas provas da acendrada dedicação à terra bcmo.s de onde provinha biriçá Piralininga, c cabe mencionar os Queiroz Teles podiam também goar com toda vclliüs servidores de São Paulo.
, imensamente rão dc Jundiaí, pai do .sogro de Jorge 'l ibiriçá o filho do guarda-mor Antônio dc Queiroz Teles, fôra um lavrador
eoinpra/,ia-se idéias com o sogro, em quem cie des tacava uma inteligência que reputava superior à do próprio progenitor. niília admiràvelmenle unida, coesa nos afetos, na qual os círculos de idéias ín timas eram considerados como santuá rios invioláveis. f. X
«alérgico e que muito se empenhara pe la viação pública da província e o doií scnvolvimcnto das estradas na zona de rnais ativas lavouras. Membro da As sembléia Provincial, fôra sempre ouvi do como autorizado representante do eleitorado e interviera cm muitos deba tes para propiignar cfiin elevação e pro bidade questões de interesse público. Deixou um nome acatado como símbolo de patriotismo e de envergadura moral.
trocar cm Fa-
112 Dir.KSTO Económtto
mpre /eioii pe Co e filho de repiiblje
i' a nossa terra e o ' bem-estar <Io Rr.idl.
(juannobreza de caráter s mais
que- não obstou a cjuc consum lar padrão de e de afeto conjugal, prèso cada qual isas a n speitu dc política c se entenderam uma vida ina sombra d(.- uma
mec-onlcslação ou de dispropai c lhe prezava o.s clo● n cultura científica
Esposo c; pai dc insuperável ternura, forge Tibiriçá, no período que transcor re dc 1879 à República, viverá como lavrador, integrado nas atividades de fazendeiro, identificado com a terra, preocupado em organizar as suas pro-
priedades. técnito Ilcssaca.
romn srnlior niral c como agrnuínnico. Na fazeiula dc
●'íl.i n.i /ona da Mojiana, Jorhinluar.i < in |●'rlHlo-■ír eaft'-s

^^r. Tíhirií. \ (jr rjiialid.idtíntiíl»»'' '“l' piu ul !>li( ano milil.iiitc.
*● «-in apiu ai »*s i imheeii>s na Kuropa. lu-puiian s»* i-ansarA ile pre-
gnr ns suas itlcMas o dc coligar ndeptos. Nâo ó homem de comidos e praça púhlio.i. E um ctuulutor. que Irata de " tx>nverler os seus cenicidaclâos e de ni-K"» em núcliH->s desUuadüs a ampliar .1 massa ile eleitores txanscientes tríüticüs.
rcue pa-
ÜtCEATO EcONtS^Iic:* > 113
1
EQUILÍBRIO ESTATÍSTICO DO CAFÉ
Josí'. Tksía
*^ODO assunto que envolve indagação do futuro ó difícil, em jk qualquer terreno, c telvez mais auida no âmbito to ponto, entretanto, apreciações com I íuturo estatístico do café, principal mente no que diz respeito ao Brasil. ' Dependendo, como é óbvio, tan to da produção quanto do consumo, o problema deverá ser examinado sob esses dois aspectos.
econcrnico. Até errpodem-se íarcferência ao zer
jia de de.sej; r; i-, pi ineipalmcnto, envelhecimento de.s cafeeiro.^. total de 1 .000.000.000 de ai bustos Do ejue atualmente p(i.-;>-ui o Esladi) de S. Paulo, apena.s são novos, <ie mo nos de 10 anos, 200.000.000, ou seja Nos outros Es- uma quinta parte, tados, a situaçtão é ainda pior, ex ceção evidentemente do Paraná, on de a qua^e tf>lalidade dos 2OO.ÜOC.OO0 do cafeciros é constituída de plan¬ tas novas.
jf: ^ A
Não parece provável (jue o Bra sil retome a sua anterior produção, da década 1927-2G, que era em mé dia de 23.000.000.000 de desceu a 15.000.000.
saces e Nos Estados u
velhos”, (S. Paulo, Minas, Rio, sul do Espírito Santo) a cafeicultura lorna-sc técnica e se replantam al guns cafòzais, é verdade. Porém, atualmente e durante muito tempo, maior será o número dos caíòzais que entram cm declínio.
de chuvas; falta de braços; trato deficien te, durante o largo período de preços baixos; exaustão pro gressiva do, sof.^ lo, não restau-
s» K’' rado como se-
Há, entretanto, as zonas “novas”, cuja capacidade de expansão não se pode prever até onde irá. Tudo de penderá dos preços, do consumo, e da capacidade de aumento da pro dução dos con correntes. Em todo caso, esse aumento de pro dução da zonas “novas” brasi leiras não se pode íazer de um dia para ou tro. O princi pal a saber, no
f, 15.000.000 de sacas antes de 1939, passou à média de 7.500.000, a par■J., tir de 1941. Isso devido a causas várias, entre as quais as seguintes; J geadas e falta ■A' r»v ,\ «VV

7^ 0
w
Relatívsmente à produção, é sabido que ela declinou na última dé^ cada, ou mais precisamente, desde a safra de 1936. Entre essa data e 4.' 1941, as safras, no Brasil, apresentaram uma redução de cérca de 8.000.000 de sacas, devido princif palmente à queda da produção pau/ lista. Esta, nunca mais se refez desde então: de uma média de
caso, ó sü o nuim*nto paulntino da pro:lu(;;io á scr cinnpensado po¬ lo crcscmu-iu.> dn consunu'.
A área lio iivívas. rprovoilávcis paia u rafó - pi'la sua conslilujção «.● iMM rliniãticas — ó grande, nn Hiasil. Sa«.» rt*rca «.io 50.000 quilúnu-lros ijuadradits no norte do Paraná (j:i cpiast' tmio rlosbravadn) e milrn tanlo no extremo sul íle Mato CIros.so, som frlar em outras áleas nesse último Estado, bem eomo no eentro-sul do Goiás o norte tio Espirito Santo. Mas. sào longínciuas. na maioria cobertas de florestas, sem vias tle comunicação adec]undas. Desbravá-las e trans formá-las em cifèzais produtivos não é fácdl nem rápida empresa.
Em alguns países da América La(prineipaImente o Mexi- tina
co) procura-se expandir a culcafccira. Não são, loda- tura
via, grandes nem excepcionalmcntc adequadas as noregiões possivelmente ca- vas fceiras, nesses países e, muitos de les, aliás, progrediram notàvelmcntc nos últimos tempos.
Resta a África. A apreciação da caíeicultura no Continente Negro exigiria um estudo especial. Men cionemos, apenas, o seguinte: suas exportcçÕos caíeeiras, que tinham a média dc 1.285.000 sacas no decê-
nio 1927-36, passaram a 4.580.000 cm 1950. Aumentaram três vêzes e meia. Ocupavam, naquela década, 5% das exportações mundiais e atualmente ocupam 15%. Entre tanto, a expansão da caíeicultura na África não depende apenas, como no Brasil, de tempo e dc preços, mas também de terras adequadas, que não são muitas, e de água. que é
cxlgua nas poucas regiões apropria das à cultura. Acresce que, ali, o café tem maiores inimigos: mais pragas: braço operário primitivo e inferior; e qualidades piores, pois o arábica, como se sabe, apenas em poucas regiões se aclimata satisíalòriamento. A expansão africana não poderá, pois, prosseguir no mes mo ritmo dos últimos quinze anos, mesmo que as condições de preço, de aumento de consumo e de falta de concorrentes se mantenham excepcionalmcnte favoráveis.
H: sí: íií
Examinemos, egora, o consumo. Pepois do período de superprodu ção. em que 78.000.000 de sacas de café brasileiro foram incine^ radas, o que se tem verificado, principalmcnte nos últiSjM mos anos, é que a produção tem estado aquém do consu mo. E tanto assim que os es tuques têm sido paulatinamente ab sorvidos. chegando ao ponto de vem pràticamente nulos no Brasil, pois as disponibilidades ora existen tes

se11
.881.208 sacas em 30-9-52, para uma exportação até junho dé 1953 — (9 meses) ■— estão mesmo abaixo das necessidades do mercado.
A produção mundial exportável e as importações mundiais foram estimadas, de acôrdo com as melho res fontes, segundo compilação fei ta pelo Bureau Pan-Americano do Café, do modo seguinte:
PRODUÇÃO MUNDIAL EXPOP
TáVEL: 1935-39, — 36.237.000 cas; 1940-44, — 27.644.000; 1945-49
sa-
— 28.773.000; 1950, — 30.391 OOo’ 1951, — 29.862.000.
Dictrro tlcosóM.» i» 115
rr-T
IMPORTAÇÕES MUNDIAIS DE CAFÉ: 1935-39, — 27.596.000: 194549, — 29.671.000; 1950, — 29.346.000; 1951, — 30.372.000.
Verifica-se,, pois, que enquanto diminuiu a oferta mundial, aumen tou o consumo. No período acima considerado, passou-se de um su perávit de 9.000.000 de sacas a um déficit de 500.000.
E quais são as perspectivas, quan to ao aumento de consumo? Abs traindo-nos das regiões inexplora das e que, por enquanto, continuam apenas como mercados “teóricos”
Rússia, China, índia, Europa Orien tal — só 03 Estados Unidos e a Eu ropa Ocidental permitem assegurar um crescimento permanente guro, embora paulatino. A capaci dade do aumento de consumo
e senos
Estados Unidos não está, de modo algum, anulada ou mesmo limitada. Os negócios e o desenvolvimento econômico, financeiro e demográfi co do país seguem um ritmo firme, e nada há à vista que possa impor conclusões pessimistas, a menos que uma guerra ou qualquer cataclismo social possa ocorrer.
O mcfmo SC podo dizi-r <la Europa Ocidental , onde é grande, no mo mento, o consumo tie sucedâneos. Sua recuperação prfis.segue. e so mente a retomada do armaimmtJSmo, aliá.s, nece.s.^ário. impediu que a restauração econômica e. conse quentemente, o aumento lo consu mo fie todos os artigos, inclusive do café. se ampliasc ainrla mais. consumo (importações) da Europa Ocidental já atingiu sacas, mas deve-se notar que, no passado, sòmenle essa região che gou a importar mais cie 1 1.000.000 (em 1930, 31 e 3«).
ii: :{! -Ai
nos, mcnle. mais distante difícil, tervir. mínio da astrologia.
«.000,000 dc

i OicrMo Ii< osôMtco 116 í
O
/, F / ● f f ■ t. í' o L..
Segundo, pois, tudo indica, o eciuilíbriü estatístico cinda será manti do nos próximos anos, ou, pelo menão será agravado substancialDepois. para um futuro a previsão já é mais Fatores diversos podem inNão queremos cair no do¬ i-
TESES & antíteses

nj,\c iM MrNiTrs
X.icion.il de Filosofia) p
C
I
II;t iini trina (h lie.ulo. rijj.i iniporl.inria '* ‘1 t« nia i.1.1 I.benlade a (lia: rflação c(tin o tresce (lia mental em tífico. F. progresso etenuin ponto \ital d.í cultura. na re.ilid.uh-, (Ic-sem oi\ iiuento (pie nos antigo para ()hscrva-S(‘ de .S(; forma uin.i
) - _1 r.il eoinpul.sivilv”.
o s regin.e.s onl)uroi'rai-ia para dirigir
rstamos no limiar das ciências sociais, *! lyulo se tos. exerce a prc.^são dos preconcei- _1 ijue C.ilverton chanuua de “cullu
um mcio a a
subjetido observador \ i>.
o pensamento segundo uma dirt‘tri/. or todoxa, os pontaneidade dc inxc.sligar, de a c-i(‘ncia tende a
perdem a eseriar jíes(iuisa(lores petrifi('ar-se numa e
mesmo, da dade.
posição que assume na socieda educação que teve, das con>
i cscolástiea qne moximentos OS
emharaí.a ead: do “ i vez mais espírito”
É claro ípie nos referimos a uma dog mática ideohi.giea — o não à coordenação
( vista titniçíães
! fiscali'/.a(,ao dc estudos organizados á ele finalidades e interesses cias insdeuKíc-ratieas, organizados denser\'iços públicos.
eepçocs que assimilou e que lhe ensinam a \t'r os acontecimentos de certa foniu e o lexam n adotar certa interpretação. Fxatamente
a por isso é que a (< coação”
,j . , imposta por uma diretriz Ídcol(5gica i Icicrante. retira-lhe a liberdade de sar c frustra-lhe o alcance do Acpiela liberdade é ielati\'n:
mpenniciocínio. já dissemos
Iro do rpiadro geral dos Guando sc (rata di> social, onde residem e bolem
c‘studar o meio os inte-
muda muito
ciências físicas uma
Mesmo assim, já houve umas
coperniciana foi
corpos ccrumoroso tu-
●●''sses humanos, a coisa de figura. Diante cias e naturais c' bem mais fácil guardar atitude objcli\’a. tempo em c]uo sc não admitiram tantas afirmações .sobre o movimento da Tc^rra. A cosmologia entrando no ensino devagarinho, medro sa, levantando aqui e além algumas mal dições. Era uma idéia que desmancha va a antiga arrumação dos lestes. E é de ontem o multo levantado pela obra de Darwin sôbre a hipótese imprudente da origem animal do homem.
liu) mental, tratar subjelivi.sta as
pesquisa científica
Entre
a.s liberdades element
I' 3 '» -X ...y á
ares qup
em scr resguardadas em benefício dn desemoh-iniento da cultura, está ^ diu-ida, as que se referem ao científico
cle\Sem pensamento como condição sine c
da crie
e.xistcncia da própria ciência
indaga n
1
t '
n.»
Nesta esfera, o estudioso estuda (jue estA ligado por laços múltiplo.s e \ariados. Èsses laços viciam _5 perspectiva dos fatos que devem ser 'N.nninatlos; c o chamado fator A deformação \em '_1
‘pic o obserxador tem, antecii>.idamcnte mn conjunto dc fatores que Iho dá detea-mmada perspectiva. Mas ainda assim e cfa liberdade quo precisa para o trabaSó atraví^s dola. êle podb de compreender a sua Ro.sição e talvez eliminar alguns graus de deformação subjeüvista que circunstâncias lhe insinuam no espírito. Liberdade e
Mas neste caso já
Onde quer que um regime polit,-, embaraços à atividade da 0 -
no
M.
ção o espeCTilaçSo dos homens dc pensafalseamento do senPormento, começa o lido democrático das instituições, que a ciência é c-ssencialmcnle democrá tica: ela não se faz sem a liberdade de pensar c expressar o pensamento para comércio das idéias. \ que se realize* o
L' Estas são aceitas ou rejeitadas, nao ern virtude de dogmáticas ou interesses, mas em função de exprimirem dado instante de de envolvimen-
ou nao o que, ein
e mallrapíUio, cm lci;iõcs, para invadir o mundo c. por sua vez. pr rsenulr o Não opõi* idéia a .ttra\cs do pí iis.iinrnto. Por isso iiicsmo, dr tiiu inimigo da
j>fnsatn»Tito li\ rc. idéia — (pie é o mecanismo
í.ual SC desenvoKe o 1 cultura.
( II )
.A mocdfi c (i ccorwmia
ti a ecommiia (jue produz inna moeda ou a moeda «jue prmluz to liumano, parece ser a verdade que busca, cjuer no plano da natureza, (|ucr no plano da sociedade.
so (jrganr/ada uma economia organiz.ida?
A livre aceitação da verdade é, por tanto, o resultado da livre indagação c debate. Em consequência, a tolerância é o ambiente imprescindível para que C se processe o debate e a pesquisa, a troca das opiniões divergentes. Tudo ■ isso é função do nível de educação

existente.
recampo
a I 4-; r «●
Posta u (juestão nestes térmos, poucos liesilarão em respond' r pela organização da (.●coiioiiiia. .\em mesmo o tlr. Sebacht, ([liando eseresc no seu ensaio Mchr (’,chl, mchr jvchr Arhcit (p. 101, da ed. alemã), (jue *'a instal)ilidade das moedas européias é uma exprc“^sãü d.i inslaliilidadír das economias européias".
IC observa como as conferências c confalnilações internacionais para resolve rem os problemas ecomunicos aeabani sianpre na conce.ssão dc em préstimos dos paises dc moeda dura a países de moeda fracu. Sôbro uma economia desor-
mentar.
da economia nacio- A desorganização nal começa na produção rural, insuficien te, retardatária. Mas o progresso da agricultura sc fará em concomitância
desenvolvimento do parque indus- com o tridl c é errado contrapor as duas gran des esferas da vida econômica como so mundo moderno pudesse ha\’cr nações agrárias e nações industriais iiiteiraniente
DioriTo FlroNÓMico
I
liá tcmperamcTitos que não sofreram educativa capaz de suportar opi- ação niões contrárias: e em face de uma objeçcão, desejam extinguir o adversário. Quando êste espera receber uma objeção, r: cebe uma descompostura. Não recebe um tiro por causa das consequên cias mai.s desagradáveis. Porque o in tolerante deseja paralisar o cérebro dc onde saiu a idéia adversa — e desce, do plano das idéias, para o das pessoas. Dorme dentro dêle o inquisidor, que tem saudade das fogueiras e vê no de concentração um substitutivo 9'
wT/.
ganizada não sc poderá jamais estrutura monetária organi- erguer uma zada, conforme verificaram todos os eco nomistas da atualidade. Entretanto, u todo passo, surpreendemos nos dcb:itcs políticos afirmações c ponto.s dc vista acjucla verdade cle- que contradizem
ineficiente. Pensa que o meio de atingir idéia que o irrita — é paralisar o produz, destruindo o o aloja. E pelo môdo contaminação do mal da idéia desaprovada. Fo ram eles que meteram o cristianismo nas catacumbas — de la ele saiu, íruaiinto p'
a espírito", que cérebro, que quer evitar a a propagação no
io
A «nrr.mi/.içãn ila I.utjíjt.i 6 tl' Vf*n\oK imc-nlo
su.i '<●/ ilrpi iuH íip.ír*'‘ <■
fjio- p‘»r nii-oto (h* OHTc.ulii mt<*nio.
disHnt»^rríl»'*> < O.s nrordas ani;íUUí,xKidos pelos li^TOi%uuhi>i.ís. como fonte da desorçuniza* s‘.u> inti*r«;u'u)nal. voltam, sob múltiplos drsfariYS. a cogitação dos politicos, qite pilt'lain os h.m't>s |K>r mares cheios de anuMcas.
* ilo alargaNrslr j●K)ntl> |iu-slão tios inrios ilc t «nimimMçnrs. «pir lig.irãií inim \'.isto pro-
« os itHTc.ulos »-stan<|m*s cesso <Ir iroc.is.
)url' s «●
hora <ju<- o minulo \i\c c tio nina
\t> intuito de melhor salvaguardar os intoresses nacionais, os governos buscam formas que a.'isegurem o escoamento dos pri>iluto.s d«)s respiH'ti\os países: e como prt^xis inltTiuicionais nem sempre fao estxnunonto, lembra-se
prol)h‘o carandí* foiisa
cr.i enajKUí.i.s plano t)s (jue
intrrnacnuiali/.içao 11vvfeiile ile lot!t>s probl X.i ein.is. \:tl.i eetmomiea c (p t)S iinl.in (■Jnlrora. se u* \ i\ aniriil<* os sintomas. inais possucl tentar resoKer o ja <1.1 c-st.ihilidaile il.i tnoetl.i os fatòres internos c iderando ein s.-gniulo
situavam no campo inti-rnacional. Mas pers[H‘cti\as estão coinplotamenle hoje dadas.
niu
y\ finaiiçii nnimlial. com scui \cilicc na flexibilidade política da Inglate inicira grande guerra, llilaleral
*rra, iiló SíTvin ao copc a priii graças ã situação - mercio imi
O período do c*ntn;-guerra,s mostrou a dramática situação por fpic passou o
padrão-onro as lulas entre as moedas, noedas nao agcmi por si mesmas, é claro; p”*" das aparências moiietádcsenvolve-se o
nas
Serie dt* medidas artificiais, cK\stinados ã ptililica do momento: tros produtos ijue auferem lucro no catlo internacional passam a subsidiar t‘\portaçâo dos produtos sem dcbouchés.
l\mco importa o modo por que se efe tua o estratagema. O que nos interessa iujui ó o ensinamento resultante: o grau dt‘ importância do comércio externo cre.sceu tanto
os filitain uma paliativos oumera pu' o problema da estabilidade

moi'da ficou pendente, no máximo, dt» volmne das
t da exportações. Ora, nado Iteino Unido. CM I liar
voes agrárias são morce do industriais.
São
nações atrasadas, i\ j(jgo competitivo das nações nações que compram pouco, porque exportam pouco. Sendo T ● débeis, não poden
1
líi d'is fôrc ix ivif ■
^0'iiproniissos assumidos taineuto cias loiças nacionais dc produ- préstinios das ção para os mercados do mundo. capitais
celebrar o papel onde a base , agrícola é de importiini se começou a cquihbradoi cpte a iinança britânica de.sempenhara para n regulação do comér cio internacional de oiitrora.
novo as
Atualmente, enfrentam dc nações o problema das trocas bilaterais. A dificuldade dc uma inocda de i^ual
eficiência nas diversas arcas da permuta internacional conduz ao Alemanha antes da
excepcional. o
pagamentos, onde se situação <3as forças em ajustae a
.ia processo de industrinlizaÇ‘io não pode ser examinado em separafo. confiuiu para a configuração de nossa balança de b v ue refict nicnto.
Forças que radicam no solo da prouçao, onde estão as causas motrizes &«b
troca direta, acertada casos parti culares, nos entendimentos recíprocos dos interessados. 4 4 .3
ora dependendo de condições Tn-' ternno.onais. é dentro da naçSo que ” 7PQ ^ mergullia suas raí¬ zes e retira sua seiva.
Kconómico U9
1
Mas as i cumcom cmnações exportadoras de países como o iãra-JÜ Em
> A S f
que adotara a segunda guerra: à
em
A REFORMA AGRARIA E 0 MUNICÍPIO
Nkstoh DuAnTP:
CopUiilo de um Hcro (fue o ilu‘.lre j)rofcs'ior c tfrilhoutc pdrldtixcutdi baiano c.',tá eMicvcndo .sobre "A reforma aoTária”.
À uma profunda relação entre a vida - do campo e a vida urbana. A ci dade não vive sem o campo e o campo sem ela. O rjuc caracteriza certas fases lAi estágios dessa coexistência ê a forma se realiza e a maior ou menor por que
distância em que se estabelece.
Essa distância se marca não só pela distância geográfica que separa os cen tros urbanos do meio rural, como pelo grau de influência da cidade sobre o campo c vice-versa. Impossível, porém, a ine.xistência dessa relação, a não ser em casos de grave recuo ou dc situações anormais na vida social.
podem satisf.i/.cr-sc no contraste da vida urbana.
A cidade, a cidadrr <lo int<TÍGr, 6 a dc contado mais próxima única ponta
{>.ira o muriflo confinado d por isso, o centro atê onde po sa ^^'«jiar, para atingir a distância a ação das forças dc reforma c dc mu dança.
A reforma agrária significa uin con junto dc meios, fins c objetivos culturais, técnicos c ecímóniicos, cpic \em dc fora e vem de longe para alcançar c difuntáü recuado e
o campo e. da \ida rural, dir-sc nesse aini^icntc
O que importa é considerar essa dis tância para analisar o estado e o sen tido do problema. Na vida brasileira, esse problema é um dos aspectos funda mentais para a orientação da questão agrária, tido brasileiro c palpitante atualidade se o exprimirmos nestes termos: a re forma agrária e o município.
E êle ganha de logo vivo sen-
Realmente, a reforma de nossa vida agrícola não pode ser atingida ou não pode ser completada sem participar do movimento em prol da vida municipal.
comu social c a menor dúvidiação das re integração indispensáveis
difícil como é o campo, a existência ro ceira, a todos os processos modernos do informação c portanto vencer como a barreira

É tão im- de influência, distância do campo do analfabetismo. a
a pre¬
sença
As cidades do interior, os distritos mais longíntpios, sao os postos avança dos onde se possam estabelecer os ins trumentos de uma campanha de qunlAté aí vai ou ató quer profundidade, aí chega esporádica ou diluída do Estado, decadência cm que deixamos unidade político-admiunidade econômica
Mas, a cair, quer nistrativa, quer como e cultural, o município brasileiro, abriu mais longa distância entre o campo centros urbanos c agravou, ou conproblcuna agrário
como O OS o corre para agravar,
brasileiro.
Diga-se que cabe a certos males do sistema econômico de nossa vida agrlgrande propriedade dessob o regime da cola, como a povoadora, a manter-se e àquelas necessidades humanas que só
rrj ‘O ■ '
ií
t í f k, « I. ■
’
f. .
O centro urbano municipal, quanto o mercado de compra e o represente mercado de venda, o centro cultural, de educação, de saúde, de informações, a nidade de vizinhança, de atividade política, é, sem da, o instrumento de atração e de irralações de contacto e de à vida rural N.
r.tus IS pal.
chnmad.i rronomia dr coi^stimo, n*n.t das dl) i-slinl-nnrnlo «la \ id i nvjnieiA .mtnniitni.i «*i ononm*.'. d is grandes f.i/eiulas. d< s<l«- i’s ficult.iva .1 \ j»
n mpi's i t>umiais. th» j.1,1 utb.ina dl» pais. impetlia pul.M ional iiidiNprnsãnún llies e\iiiir a .itini-nlimn tiabdbo ur-
.1 t j .K.ãi > j \rl .’is cid.idi-s. pi>r \-jílade rur.il <|U «m' ban‘) iiein Ibrs prihr o neeessarto mer* irodntns Uiirícnlas.
cipio a tratamcnlo rcdulor para sii«á*!o nas extremas do nossa organiza rão pública o social.
Hedu.*imos-llie a\ilonomÍ;\ politico.^^lm^tn^tralíva. demos-llu\ apenas, as sobi.is da distribuição de rendas para que ●t' milrisse das abas finais dos orçamenairtamos-lbe as agencias dos sere das obr.is públicas, feebamostiis.
l ch- (Ins s emla (●a<Mí Ibe os caminhos do grande mundo para no ermo. onde mui- se crinfinasse que di-stinaiein esles. escondem entre serras dc acessos cliapadões centrais d©
piamlo podiam tos se por SI«,í-r \ohiiii<)M).s, ao inrrc.ulo <le ^●^poIt.^va^). as eitlades e \il.i'i. tnu.i. jxiiTUi. smuosos ou nos longos estirões, cm (jue o femnneno da social vai atingir a própria linguagem e os costumes.
sriu ri iula. pi>br»*N (li-^f.iia i s tlr \ii,!a pul)li(a, a qiii- falta a própria condição de si‘ ch.nna em termo agêiK ias, (U) cpii' coniplc'^o ci\ ili/açao. nao
segregacao
sí-iiipenhar a fórc-i
1, do osliirmlacão técnica cconóniico ele C(ue ola.
]' ra agne
)odcriam de do infhiènci.i cultuo dc lastro não prescinde a vida .Síibrrludo sc esta depende dos
Imu números, sob o ângulo da arreca dação de reflete tòda a pobreza do quadro limi tado e triste de suas possibilidades nes tas cifras que fomos buscar cm publica ções dc Rafael Xavier;
impulsos c das resultantes da economia comercial c industrial para ganhar trans formação e dcscnxoKimcnto.
passa de uin criado para faxorecer.
ta.
A organização municipal no Brasil não sistema dc desequilíbrio em contrapartida, a expansão dos Estados o da União. Desacinia dc tudo, que em certas fa vos históricas recorreu ao município co mo instrumento de derixação da federa ção ou da descentralização estadual.
Por \’árias formas c expedientes de técnica política, submetemos o muni-
Em 1946, antes da vigên cia da atual Constituição, en quanto a União arrecadava 53,69%, os Estados 31,84%, o Distrito Federal 6,48%, as Ca pitais estaduais 3,45 %, os )nuCvf7 nicípios do interior represen;3I^ ta\'am 4,35% do total das ren hir das públicas do País.
Em 1951, com a alteração quo a Constituição procurou fazer no sistema de distribuição de rendas, a si tuação ainda c esta:
A União arrecadou 47,71%, os Esta dos 35,68%, o Distrito Federal 6,41%, Capitais estaduais 4,16% e os municípios do interior 6,14%.
O passado nos aponta a razão da que da da \ida municipal na história políti ca do país. Os municípios do interior dispunham de 5% das rendas pú-
rendas, a situação municipal as nao blicas
No presente, de 1947 a 1951, no re-

121 DfCMTO n<V>KÓMlCO
\ KOS
)< >
giine desta Constituição, essa percenta gem subiu apenas a 6,96? no ano de 1950 o desceu a 6,1 1?
tra Rafael Xavier fjue a arrec.idarfio mu nicipal, ap<-sar <!o novo si.s{í-ma consti tucional, subi H revelar
cm 1951. Mospara tiescer em semiidn, uma queda cm favor da por
; centagein que assinala a rendas estaduais.
destino lnst(')rico — o d«' i antenlirid id»- d.i jv<l/r< /,.i ila-s ( ust.i o <l‘- .jirr/(i d.i Mimil.ivão
o das aveerísao Isso indica haver a r<'( ens'Mtn* nlo iie pelo distribuição de renda concorrido
representarem n.u iou.il, 0 ■pm eí»\íTl^()n)i.i<I,i (l.i (..ipil.iis, Semiii<I(i (àist.iNo í.' -.' i. i-m “O Distriltí t>.i Or'.i.mi/.É«,.'in Miineip.il", Slí iminicijnns t«■●ln nirnos de I' mais. oos nossos 20.(MK( leibil.intis. I-: I’"' o
de rtõo I eriM evcluillos \ popiilaçao ir.isileir.i
nova p ra m H(Yi d os núcleos Mi{)eiIot,idos d.is capit.iis, \i'< tu f(»ia d ts sed Ira r> nnsnio autor.
pequeno aumento da arrecadação nicipal
na.s a Coiutituição oferece.
aufjiie cc*íl<*, r-ntretanto, para a pf:rj centagein de aumento da arrecadação dos K Estados. Nao foram, pois, os miinicípios do interior os mais beneficiados : exíguas vantugcn.s que f
Os resnltados de entre 4,35% e 6,14% d; uma vida financeira arrecadação geral p. sao e.xprc.s.sivos demais para e.xigir maiot res considerações. Acrescenle-.se, porém, que a esse lôgro fiscal sempre houve, por parte da União, principalmeníe, o ^ propósito do esípiccer de assim distribuir obras xílios c subvenções aos minou
i compensar e, e serviços ou aumunicipios. Dosempre a política orçamentária
a de encargos e
serviços da União ou o cs-
\ pírito discriminativo de que os municír- pios brasileiros não são municípios nacionais, mas municípios estaduais. Nun' ca lhes deu como sistema senão a coletoria federal. Nem escola, nem higiene, nem transporte, nem comunicações, ain da que o ser-. iço de correios e telégrafos seja privilégio seu. Que os Estados fi zessem, e o fazem como podem, quase
realmente dão, sem ^ ● de continuidade.
todos os serviços públicos que existem lado dos loeais e que dessem, como caráter de plano os auxílios oficiais.
Pobres portjue não tem renda que valha, pobres porque não dispõem dc auxílios sistemáticos, os municípios do interior do Brasil parece que só têm um
es iniMiu ijatis, (leinonsIslo ('●, «ss.i gran-

percenlageiM d.i população est.i fi\a<la nas sedes dos distritos.
ein jieipicnos arraiais e no campo, lí-xislí; no Brasil esta tendèm-ia
pnlaçao e.sl;itica não revel.i atr.ição jiclas cidaile.s do interior e a popiilaçao cm
para as grandes capi tais (m reali/.a migrações internas para o jíróprio campo, rpuí ainda c a liiilia mais frequente dés.ses deslucamcnlos, co mo já assinalamos há anos cm outro tra balho. Não há c.xodos para ;*s cidad('S. Má êxodos para f) próprio campo e êxo dos para as capitais. Determinam esses moviinenlos o mercado ch* tr..balho agrí cola onde se apresente melhor e pro\’ocain as retiradas para as grandes lavmira.s de alto preço, c o mcTcatlo de traba lho induslriíd situado, de prefcrénciiv^
na.s capitais.
O siiljemprégo agrícola, ocasionando, a.ssim, exce.s.so dc população rmai e as grandes calamidadtís climáticas impul sionam esses deslocamentos naqueles dois sentidos.
São deslocamentos de grandes viagens (● a causarem, por vê/.es, violentos dese quilíbrios da população ein vastas re giões. O sintonia, porém, mais rele vante dôsses descqiiilílirios 6 <jue entre as capitais e o campo liá uma grande separação social e econômica pela au-
122 Dinr.rro FrosiSMirt» V
(h-
|S'
● aovniienlo acorre
B <
ií?’
i'i
c l; jí ■ í.
;ndft oti prl.i pi iiil).inos iutcnn''i)i.iri>'s. ms
lIltíTÍor. «jiif tl< srm
r« arictladc tli fs (iti ili* po Jr
ís i pap' l <!*● tbipi
cãnilm» nii iUpnl.n,ã(> rm.il. (ir.inci
vntros eid.uli-s tio penhar o íntcr-
ln>\ .is snt i.us p.ua a jx)-
'●s t st r.ul.is. piif Mia i\c trailn sisli iJi-i ii'ilo-frtroviá●sl.idii.il. tão nulliorando ;ts comlji.nrs <li) ti.insporh- ii.it ional.
(,a(l(l itlllilKMt
rin (● mas grandes
V nipri- no smlulo l.imlu-in tl.is rsc.dit'.
J.i «'● III.os lácil no Itrasil tr.insporlc inlcicsi.ulu.il do (pu* o ir.insporlc iiilcrmnnit ip.d. A cstr.ul.» trnvstrr teiu o misnu) sentido das arilini.is r d.is csliad.is aéreas.

O ninnieipio .lind.i é aipii i>rejudicado e pel.i teeniea moderna
o estradas III pela concepção
do transporte.
Sein \igor de \ ida loc al. por tantas li-sain ao regresso e à os niunieipios do interior condições <inc: decadência, bra.sileiro persistem mais como certas eoautònomas por‘iihum plano gec vigiliMitc dü Kstado moderno Ibes permita sistema de participação c de do paí.s.
os inidades espontâneas, ● isolatlas, sem cpie m im ípu 1 ou a inlersfnçao eon.slruti\a ra
filtrar num integração
A União parece que nao os quer, pora seu dcsgraçndo repara centra1izar, ação executora da
que gime do .só di-slnbuir que domina tóda a administração federal. A União persis te em manter todos os serviços federais, realizados pelo território nacional, cuja execução (pia.se sempre dependo das pec da presença da ação dos locais, s(jb o jugo de cordas renão Ibc devem escapar do
on ler
1'nçao c (.MS OU inmos piática. ixdas praxes
v\tp.iv\*io O òsse propAsilo. i\ quando a l» j. mais i>or influência do Concrojso» nuxlida< do Presidcnto o dos Minis tros. clrriia a drtcnninar fónmdas c c.^pnlituto^i para doscontraliz;\r e come.los Kstados c aos Municípios a exea manutenção do alguns si'r\àl«xU’iais. os agentes intonuetUários graduados da administração l^^●Sl^)l>rem meio.s e oportunidades para u'i\ indicar t' estabelecer hierarquias fun cionais qnc redundam em re^wr, pela e pelos precedentes
tias reparli(,'õt's publicas, as amarras dèssi' 1'entralismo.
Citom-so. como exemplo, acordos e con\énios entre a União, os Estados o raros Municípios, os quais feitos para tpie se tlislribuam c sc beneficiem alguns empreendimentos federais no âmbito da atlnhnistraçâo local, acabam por voltar, pela \ ia inesperada do regresso, às mãos ilondc saíram tais serviços.
Dcnnncic-sc, por fim, o complexo de superioridade que domina o mito fede ral em suas relações com o mito estatlnal e o déste cm frente ao mito muni-
cipal. Como reação de idêntica origem, o complexo de inferioridade domina o mito municipal em face do mito esta dual e èste não reage de modo diver so diante do mito federal. Uma adminis tração de centralismo concorrente, de e.xeeução divergente e de contrastes a proNoear reações.
A União, os Estados e os Municípios três planos diferentes, são três de graus desarticulados. Destes, o mais baixo, o dü
cularicdade.s (írgãos tosas qnc
do Janeiro.
Não há uin plano, um sistema de serviço, uma organização de execução de obras públicas que não revele essa preo-
niais baixo sob valor.
sao município, é realmente o nbo c do domínio na Cidade do Rio p" o criti?rio de qualquer Para certos efeitos, o municípÍQ do interior só existe paru figurar nesses perfeitos organogramas políticos e admi nistrativos, tão de uso no momento. Uma ficção gráfica.
DiGCSTO ncON*ÓMtC*^> V23
■á
I
Ilá nm;i obra, comoçaíla, aliils. pela a^âo (● pi'la prnpi^aiula dos cstiid:ovis, para rcvt-lar »● d»-'-* ii\ol\»r as sirtualidades rio n»imi< ípÍo, por'ji!<-, n i %«-rda<í<*. no fst.ido í-m fpio < alU a \ ir| I mii-
o fjiio a (;níani/a',ao
e\exerc itar
<)aí,*n) fl.i \ifi.i in«nii< ip «1. «● n;its!i.ir ondi' o miiIiK ipio < stii í.ilfatid iiidii ,it fali.
I.
ao JVM< r |i' >r < !● "II ● :;< la drssa 1, n \ 111 I:
íJl|#‘ r> íoriii I
l’ar a o nos I > 11; 11. a r a r I a l‘i
Tóda a orient i(,ão, como a.s direções da política brasileira, no .sen trabalho orgânico e na sua ação funcional, têrn sido traçadas e postas em caminho instituir uma União forte e E taches nos fracos ern detrimento do
para memunicipio,
que é o último térino de urna serpiència. Há urn jógo de tirar do outro eompelêiicia, atribuições, fontes de renda, município não tem donde (irar, a não ser que llic reste o distrito, que 6 arrancar a própria carne para nutrir-so.
O
Teru parecido à classe governante e aos construtores políticos cpic uma na ção só se institui e atinge sua unifica ção pela grande escala do nacional e do estadual, que tem proporções visíveis para o conceito e para o sentimento de alargamento e unidade. Ü município pa rece a organização do fragmentado, a redução da unidade.
Uetiram-liie todo conceito de valor já alimenta, inclusive, a idéia do que não pátria, o sentimento patriótico que gosta de aninhar-se sempre nos degraus de alguma grandeza.
A melhor obra, entretanto, de revali-
( I jvir i'il‘ a i. < < 1 11> I
i .Ita;..!. t I
1. :Sto !j/«t 1 1"mcip.i!, <-ntro nos. |M-nnanc( rm <|nas'- í-ni dorniômia as íaiii!d.ífl«-s. ;is fiin(,ô«-s. papel liistóric ín < íjin todas as possibili dades íle atnalid ifl«-.
at'- a'jiii f iiio a'.'' iil'- j>iojniKiii pl. ttiriitat da > i s' in rie, ( V,' I I r |, ,j rii I d'- dil
iii >n Ma a 1 1< o|.i.
|i’ idi t.i soil
ói'- faltar, pinlí ia a or aalii/ac,ao lia iinia das pi iii* ip iis < ondn.rM S dií f ● i I o I ● d < ● Mia I < M11 m 111 < 1 i d' ● \ o|\ inionlo de im k ad< >s
'4raseu
‘ ‘*nsuino
proxinios d;i prodiw.âo a^rit ol i, scni «’ lr. < stará I on ipt nino'ido

f'
● onóini(o da p« fpi< n i coin *'Ia a iniii^r.u,.'io, a i oioni/.u;.io
cola, so jmsM\-eis. |ioi lins.io. das tfiandes ( .ipil.iis *● nas densidade de popiil.não.
Afirmando, para lastimar, que õ \flljj a prática de I< \ar os i iimiii ipios à penú ria em “contraste com a liberalidatlc* ]c gislativa na outorga dt; tardas”, Càista\'o LesMi a de outubro de 1828
cila I.ei (Io império d^ } , (juo reorganizou as
Câmaras Mmii( i])ais <● lhes impeis nume rosas atribuições <● encargos. Iditre lunções impostas, (jiic- consliluíani dos deveres, estariam as de pioxidenciurern sobre ‘‘a plantação de árvores
essas pesaque
moassim os
124 Dif*rsTO r<“osAMir<»
St*
I'' pt ol iMidid id- iisari I- r ii I) <lr dfsen.
.i íaltoii >11 foinOne pt*d«T gi.e
a niuiiicipal üD.irda e fpic, por tradií;.‘io r por necessidade de iim território tão tenso, deverá ser clianiad.i a bituro pioprirdadf aiírb
*■●>1 lòrno n i-iót*^ tb.
o a desempenhar no brasil.
Perguntarão, porém, porque, 0, está a iíií>rrer o nmnicipio l/iasiloiro. Poderiamos resjioncler qiie só íiáo mor reu o município porípu,* encerra tantas virlualidades.
se .assim
íorem útei.s u siislnitação dos homens”, o prusâmcnto de ‘‘liulo (jiianto possa fa' ura .1 coincTcio e in voreoer a agner - ^ dústria”, compcliiulo-lhcs adcpiirir delos de máíjiiinas e instrumentos rurais, ou das artes, para (pic se façam conhe cidos dos agricullnnxs e industriosos o Iralariam “dcí haxi-r no\'os animais úteis, ou melliorar as raças existentes, como de ajuntar sementes de plantas interessantes” para difundi-las entre agricultores. ●t.
Pode-se de«-eo- Mníto insta a crítíc'a. lírir. fnníbém. ('erto saíior <le incennidade na línenif^em. (jjie o ●Ilit'ce. dess is al»‘d>'iieõcs a«si-
rjiumer »'M0 <' na {,-inoo ej)\í
II.n ,„●( ip >is s«n
cm 1 IS ã ís do C:éncse de e
IIII liar
uil^
A \<’rdadc. porém, 6 quo as exigônoias da economia moderna, em massa para atender a produção não só a maior
ois.is
ini-tèiiíMa das Càmaras MuIír'sd dos orime’nís dias do pnl>f ieo. M *s lia\a*a n*'«’se > (>b'i'li''os um acerto.
●iitido. .1
I , institiP « «●áo ino’iiriii d na pobtn'a eeode esliniulae.ão ni<*P'(íri.i. (1e ati\idade '„I1<( .1. tériiic;' jp aurícola do pais.
da bem tão nii ios para o
lUl couut cae máipiiuas des^a produção
●rcacio inlfrno on externo de consumo» para atender a outros lermos de erandeza conii) os investimentos de [utal. o alto custo dos meios, instrumen tos
intuÍ‘ ão il is finalidades , o preço «● eapaeidade dos transportes, impelem a economia a«^ricola a atingir essa escala e. por isso. não só a estimulam abrem \aza para a expansão. como Ibo
í^ndo há agricultura, subdesenvolvida ela nunca 6 nos países industriais.
dev«‘nM ser .,MP ao ti-r^ .^rrieulínra < transformações.
A rc\(dução agrícola é, apenas, lase da rc\olução industrial. Nas Sobretudo,
nma suas nas causas e consequências,
Há. não há dú\ idu, males <● ilie H ● -jdícõ«'S c I uni craves conoeonómica. ilauificiKno

('on . <lcrmo!í iièiuia'^ n
ev« seq essa ) devo ser ainda ir ã agri●ém. O ,mmicípi<K )>oi ida nulu'^lrial } ● ● íávcl insistir na in-
iiiiia ta*
fr indisjxais Itnra. (Ia agru‘1
Insliiali/ação i iiiaçan
duna.
CM ( ●orrente não peHrasil. lié n”'-^ *■ ●iiln q (le priisaiiu
agricii anet'cr on não só porque indihtria, como ■turba a agncultu-
sem «rin icola. dr\cinos i>< (|U( „,iviclad<‘ agru agricultura iiao pori|Ut* indús a tria ntisidades terão, diferentes, a da indústria, c contrários.
assim. da interés s
se sao os mesmos usar para a E
qne aquêna vida
sociais que enam ou se agravam ao prolongar-se a industrialização no canq>o. Males que femn a comunidade, a classes, a indiví duos. Mas, seus remédios r que si- usam ou se devem qui'slão social em geral, não são males maiores do les que existem e perduram .ujrieola pré-iiidustrial.
No ue contrapoe miltura e propugna retomar h .Mguns desses males. mioiia <bistiiali7:aça() a como o da ^ ceiilraçao industrial, o deslocamento populações, com adensamento dos gra des centros, o desajustamento nas atl dades profissionais podem ser remedia 1 üu anulados se houver também induT trialização que acompanhe a distribui ção municipal do pais, industrialização que se interiorize (o termo \-oga) com os municípios e entre quadro do seu localismo.
As duas li uijjo di\ c*rso, agricultura jiroccdoná a SC chocam por :
(os com
ra. fases .se visitantes ou periebegam Por vezes, alguns estrangeiros quo aqui nos pres.sa em julgar, ums sem pausa para ob.si-rvar, sustentam essa tese im própria ein ipialipier pais, alias, e dão alento, assim, a um tortuoso fisiocratismo cio nosso/ruralisxno confinante.
conde está em no
Sc a industrialização é fator de para qualquer município aonde o município contribui para anular de seus desequilíbrios ou retificar mas de suas aberrações.
vida chegue, ■ ‘llgu-
●A OiCFJiTO ErnN^Nírro ^ * - 125
o „,„niripio. p.-ln mnios ni. p-ih™,. mn insMuniento alivo de inorimifadora e executiva, da > da indós»ria. K este panei boji'. fic '"íão 1
Asflutuações econômicas e a política fiscal é
liníNAMi) I’Ajivrr
í Profcsvíjr l'hi\» rsil/iti<)'i
L 1. CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS. tííTíiis d;i;; : .ilurti*-:; fr<Mi-: ;» ><.*rom Ufí »\’rrsrílmcnt'- ; plir;tv( l. (|iníli(\'ir íi iiuc;ini<*.i ●' p ^ a nos inKuíf. paI íi roírípcn.'-;ir (■(■ífiiõmirns. n:i') t-xi tc. flulua^ncs -●\ ])nlilicn
A obra monumental do profcsí-^H' Alvin H. Hansen, da Universidade ; de Harvard, publicada pela primei ra vez em 1941, começa com um , prefácio (1) que acentua as diversidades fundamentais entre os pro blemas econômicos e financeiros dos Estados Unidos, onde foi publicada ' a primeira edição desse livro, e os ■ respectivos problemas dos países latino-americanos, para os quais se ■ destinava a tradução: Mi obra “Política fiscal y ciclo ^ econômico”, publicada en 1941, csWÊ tudiaba, como es natural, los proRi- blemas de Estados Unidos. La ediE ción actual, publicada em México, BT está dirigida principalmcntc a los &; lectores de los países latino-amcriíS canos, y por ello mc ha parecido perií*: tinonte hacer un prefacio sucinto, llame la atcnción sobre algu--
que
con¬ caso.s a
ílas aj)i oxiinaçiH s i);ir* r<‘ mt ;unda a l)M lu i<» SC as nu‘- unua posMVcl, sn didas viradas forem basea<las em nusitua(;<")cs, prò“exptTimenmerosas c di\'ersas viamente cítudadas e tüda.s”.
c}ue intei p- ctamos a tafia, fie mas
N' :dc senlulo deixer de con
, portanto, ó advertência cisiderar algucíjnclusòes .sóbri* a politica fisaplicávfd durante as fases dos aplicação universal cal, ciclo.s, como de e geral.
O congresso dos língua francesíi d(í 1934 (2) nao choconclusões diferentes, princípio derivado do bom sensf) deve presidir a tòdcs es tas soluções aplicáveis social e 6 dentro dêste espírito que desenvolvimento da fiscal duranti' as flutuações

economistas de güu a Aliás, um no campo o encaramos política
cconóniicaK.
di. COMPENSAÇÀO fiscal ANTICÍCLICA.
esp nos
ecíficos para cacerto momento dado, indicar as linhas
O professor P. A. Samuelson dis tingue duas políticas possíveis para conduzir-nos a um dos problemas da país, num Va; também
(2) Prof Hcnry LnufcMiburgor, “Rapport ('●cnmomiriups & rendo- Kur riucUinlionH incnls Ciscaux", cl«ms 1 ravaux du Conrres des óconomistes dc langue françnlse". 1934, Paris Ed. Domat-Montchrestln. pü- l-U.
!/ M■
U -
^ nas diferencias íundamentalcs cn* tre los problemas econômicos a que i deven enfrenta rse el primero y los segundos, pues Ias políticas que sidero apropiadas para Estadoíl Um( dos no Sun ílplicables en numerosos - los países latínoamericano.s.'’ espírito científico, que deve exame concreto O A f
" ' 'tirí EcòJcScaf 1945, pg. 7. f
fiscalmcnte cs compensar cões econômicas (3): , . . , '●Há dois programas principais de O primeiro, menos fifcal. politic controvérsia, tem por oblesmcnte moderar sujeito a jetivo
a a amDenomina-sc essa turio ca um de decorrer eonjuntiira. litica (ia ti-ovér-^^ui. em con.<ií^te de.stinada a do poder decurso longu nível medio do emprego de exp
riiea de ■●*A)nlraeíclico compensa.‘● ‘ou -anticic-lico". Estn politi.'u,,! <.„mp.'oencio a manutenção orçamento equilibrado no oiclo de flutuações da Ü segundo programa fiscal, mais sujeito a conuma açao a elever o aquisitivo c de todo um contração das ainda, sc for inüa-
eiedo ijtivicUlclL'3 ou
t;iluação a cionáida, visa ntinua ívcl medio CO açao o ni sitivü
no ansao c econômicas, ^
ésse programa a uma destinada a reduzir do poder aquidc um Cl-
dccc)n'ci no ciü coniplclo. Segundo diferenças
es en fi
polílícas as scrao a) enqu sas políticas equilíbrio orç gunda SC reali/.aria equilibríi)

fiutua- c) finalmente, parece que a ação inflncionista indicada. : política fiscal.
é considerada, como sobretudo pela segunda
Kao consideramos que esta con cepção. que distingue duas políticas fiscais anticíclicas. soja das mais fe lizes.
A política fiscal não pode ser
senao uma; seus instrumentos mcios são múltiplos, cal ó apenas a ação conjugada de todos êstos
e seus A política fismeios utilizados, numa combmrçào que deve ser feita no local c no momento considerados Veiemos mais adiante que é niuito difícil, senão impossível, aplicar al guns instrumentos fiscais somente às flutuações de curta duração, ou somente às flutuações a longo praAs finanças públicas oferecem aos homens de ciência ou aos polí ticos os mesmos instriunentos servem para dirigiría vida econômi ca e realizar o circuito entre a economia pública vada.
zo. que e a pnA escola da economia
●oncepçãü, as duas essas ta c anticíclicas tre scais seguintes: Enio qbc " respeitai a a ainentario levando em con-
inieira desdisciplina a se-
do econômico; ta o fiscal programa flutuações do segundo sc
b) o o vida econômica; vimento dc nossa
primeiro procurará moderar as ciclo, enquanto que proporia mesmo a dingir, com me didas de ordem fiscal, o desenVv.1-
do pleno emprego, a liberal ou ncoliberal, as socialistas e mesmo as coletivistas nada puderam inventar além dos instrumentos fiscais conhecidos des de o início de nossa civilização, e que são os impostos, o (Crédito, despesas públicas, o orçamento e a moeda. A modalidade dc aplicação desses mesmos instrumentos dá a nota especifica a cada política fiscal. Mesmo o mais liberal dos gover nos, que se proponha a recorrer uma política fiscal 100% neutra e evite religiosamente qualquer gêne ro de interferência na economia pri vada. através do fisco, mantém, sem o querer, uma certa política fiscal. A existência mesma de uma
as a econo-
127 Dror-STO Kcoxó>nco
(3) Prof. P. A. Snmiiolson, "Introdução à Análise Econômica". Rio, 1952, vol. II, pg. 104.
mia pública implica uma política fiscal.
ticamonU*.
O Estado significa, nutomàinteicomunicação da^ na apli* é'Ses ins-
dua.s economias c. portrnto, política fiscal. E a noção de política fiícal traduz-sfe. sempre, de fato. cação conjunta de todo.s trumento.s.
Mas, se a ação concomitante fietodos êsses in.sirumf-ntos repre.senta a natureza me.sma da noçãf) de jíolítica fiscal, como distinguir «_● pfaque considerar dua.s categorias política fiscal?
Um déficit orçamentário nom*í^.d não reprof-nla ;● net:;u;.'i" príndo eíjuiliiii iii o: ç;jmenlá**i.>.
de nómica.
Parece-nos errôneo pensar que a política fiscal — aoenas ela — po.ssa modificar o curso de nossa vida ecfe Sendo o fisco um do.s ins-
trumentos da coletividade, os efei tos de tal ação estão em estreita re lação com tôdas as outras manife.s■ ■ A política fiscal mc- tações sociais.
Ihor elaborada é incapaz, sozinha, de modificar o*dcsenvolvimcnto dc mundo. Pode moderar¬ as nosso
discrcpâncias sociais com uma judiciQca política de redistribuição çarnentária, mas as instituições de mundo econômico servirão de fundamento a ês.ses pro-
05. Se a vida econômica do gLias instituições e o regime

ornosso sempre perç.que tica
intranspoi^ esforço-^ „ o concí par3 ^
Político não acompanharem, r^1 omente, a evolução progressisia corresponde à moral, essa polífiscal se chocará numa parede ível, independentemenle feitos para contribuir ■etização mais rápida dêsse objetivo.
dos e
^pieta
f .tljeftatnent*- a- -> .mpostos. puhlici» (impostos iníl.af.a'» (impósto .‘'ôbro as econômicas unâ* ciclo pufietei rninailo e medido cie
ei (-diti II -s que calen-
Uenola. aie na: (ju<- <- Ie^ pe^'tivo j4o\‘t'mo. .if) riv ! * c. irrer cxflu-iva lUilixou n anlccjfjados; ficuUo). Se pe.-(jinsas < 1 iscs (● a.' íluluat; liv( s.ern levado a c. inelu^oe.s mineinente admitida.'^ e <> fles.se ser ímIetníH), com a me.-;nia laati em relac;ao ao ano do
tiãrif). pofl(T->e-ia passar a corrigir o pi incijíio de efjiiilihrio orçamentá rio anual ern fa\‘or de um ccpiilíbrio fjrçamentário eiclico. As tendências infinitas e divergente.s dc uma eco nomia privada. (}ue nem a expe-
cíjlcti vi.sta conseguiu nencia anu lar, obrigam-nos a permanecer céti cos diante das previsões concernente.s às flutuações econômicas núncia ao pi incípio de equilibri çementário anual no.s surge um abandono da idéia de organizar manifestação financeira do
c a reo orcomo a nossa
.sociedade.
A concepção organicista da dade nos impede dc conceber política zar-se cipio que consideramos ligado à na tureza
sociouma fiscal que po.ssa
ícm levar em conta uin concretiprindos processos sociais o do critério
qual. sem justa razão, afirma-se que se poderia transformar no dc diferenciação do duas políticas
fiscais.
O oriual represe., orça mentáríO ^ diferenciaçáo entr fiscais pelo motivo
ne o tar
^ cípio equilíbrio
a é inevitável. P duas de sua
O segundo critério, que poderia, .-egundo alguns autores, diferenciai' política fiscal compensadora das flutuações de curta duração da po lítica fiscal a longo prazo, não noS
128 Dicmto KroN<S>tiCo
pareço ici mais fundamento do que refutamos. o priníciro, qiu*
Assegura-sc. em essência, que a fiscal do compensação antiíUilua- política cíclica, aplicávid .lurante as dc curta .iuracão, ti*ra o objcli* \'o niod*-‘st'» tio niodorar a ;unpliludo do ciclo. Km tit'ca, a política fiscal a elevar o nivcl
goes potlorã longo prazo
n^edidos não nos parece de molde a justificar diferentes categorias de políticas fiscais.
O fisco age como um médico da sociedade, que podo dosar de várias substâncias as mesmas maneiras
químicas, segundo a situação parti cular do enfermo. A doença de nos so mundo ó crônica e sê-lo-á indefinidamento porque a condição da natureza humrna é a mesma de uma diversidade
médio do pt)dor aquisitivo e do cmf?o no dccurs(í dc todo um ciclo picgo _ d-w ativi- desigualdade, de uma dc oNpansao o ctmt.açao das atni intelectual e
material, que pansões e V'
''^:^T/ponu"aè "vista cslá baseado deve ser suportada pelos que estão " cie considerar o fisco co- cm inferioridade com o mmimo de ‘ na ,‘mnaccia de todos os males de sofrimentos possível, nosso inundo econômico. Fmalmentc, nem o fatci de que qric i fi'cal não pode transpor determinada política fiscal podeiia A certa eficien- recorrer mais insistentemente a ‘ncial No domínio das =Ção inflacionista nos leva a mcôcV econômicas, por ^EV estabelecer diversas formas tiulua^t. ^,3 cx- #BÍV de políticas fiscais, pela ra- t exem confragòcs, mas ttão de que o fisco contempodc evitá-las. O ràneo corre paralelo a inila-
„-n é capaz ^ tende a mesocialmcnte acoitá-

Ihorar veis rendas
as fisco 0 tornar çao. Consideramos qvie todo sistema fiscal deve inevitavelmente ser com pensador no sentido de moderar e equilibrar as flutuações econômicas. A compensação anticíclica represen ta apenas um dos aspectos da polí tica fiscal.
● rrrandes desigualdades das o das riquezas; nao poder-í contudo, substituir o lucro indi vidual que é o principal motor cria das rendas c riquezas. O imsôbre o capital, em suas die modalidades de
as dor pôsto versas formas aplicação, duiante a evolução de mundo, tem suas razões mo- nosso
● ni. A COMPENSAÇÃO ANTICÍCLICA DURANTE 6s MOVIMEN
TOS DE CURTA DURAÇÃO. rais, sociais, econômicas e financeipode jamais ter uma basear na idéia mas ncio ras, justificativa
de socializar todo o capital privado.
se se do para compensar ciais das flutuações econômicas e a graduação na utilização das mesmas
1) Durante as flutuações de esta ção.
Reconhece-se como um dos tra balhos estatísticos mais completos sôbre a matéria o estudo de S. Kuznetz (4), o qual considera as flu-
(●4’> S. Kuznetz, no XXII.° volume das Publicações do “National Bureau of Economic Research”.
5 Dicisni Kconómu<í
4 ]
O fisco representa também um instrumento do dirigismo do Estacontemporâneo, que intervém as deficiências soi
tuaçõcx de estação debaixo de dois pontos de vista, segundo as causas que as provocam.
O primeiro grupo de flutuações de estação será causado pela natureza e está em função das estações do ano, dependendo, portanto, das condições meteorológicas, ção influencia a A estavdda econômica
tanto do ponto de vista da oferta como da procura. A oferta está relação com a situa-,áo das colhei tas, enquanto que a seus efeitos sobre -produtos alimcntícioi. rio, aquecimento, etc.
A segunda categoria das flutua ções de estação í:erá cau-ada por fa tores institucionais como.
pio, as instituições regulamentadas, ou mesmo os diversos costumes do país. As férias, por exemplo cerão influência decisiva nos movi mentos econômicos de curta dura-
em procura exerce 0 consumo dos de ve.stuápor exem, exerçao.
Os efeitos econômicos das flutua ções de estação não são de grande envergadura, para poder determi nar uma transformação da estrutufíscal de determinado país. este, pelo menos, o princípio geral que devemos aceitar na matéria. Eis os motivos que explicam que estas flutuações têm influência bastante modesta, embora não des prezível.
efetivamente os rc^ultado.s anuais da vida ( crmómii n. Km .TorM, ‘conheco-.se dr* anlt-mão a ;:mpl tude dessa.s variações c, (io p .i.to dc vis ta do CfjUllibno, pc) um pedirlo maif>r, ou pa.ssividafie dí»s consumidores gulam<-ntanflo cí»nviT.i«. niemente proriuçãcj ou os cstoqiu-s dr,s comor« ciantes. A dinâmica econômica dc um pais não pode ser p.iralisadn lo.s efeitos negat'vns. o>: tos dc c.^itaçãí). Cí>rno também pode ser f.jitomcnte
pelo reinicio dos nogrícios. depois da r.ção baseada no principio da ace leração. No conjunto, a influência econômica das flutuaçòca ção ó quase desprezível.
Considerando as obscrvrgôes ge* rais acima feitas, como manipular o arsenal fiscal para compensar efeitos dessas variações?
Seria necessário lançar mão dos instrumentos fiscais inestno os movimentos econômicosalém dc um certo teto. qu(; nomia pode suportar sem sofrer realmentc convulsões? Responde mos pela negativa quanto o uma reestruturação do sistema fiscal em vigor, obrigado a seguir a curva ge ral dos movimentos de curta du ração.

Os diversos ramos de uma jnia nacional não são afetados -I momento por estas flutuade estação, as quais não atins setores básicos de uma sobretudo
É ra poreconono mesmo ções gem_ eco- os os ramos nomi3»
r/.as nao
Além disso, sua durase estende por longo lapso
tempo, a ponto de influenciar
Esta atitude não quer dizer que se o valor anual total da transfe rência que a economia privada d<=ve fazer à econonria pública não fõr afetado por cssaa.yílutuaçÕGs dr íação, uma modificação desta tr ferência não poderá ser feita vando em conta as situações cíficas dos contribuintes, motivo, quase tôdas as legislações fiscais dispõem que os pagamentos
Dtcrrro EcosòMtco
í^at.sfíizcr
e
Gspe-
êsle
futura »*en pc movjrricnnao influencicda d»; estaos 'guando não vão a eeo-
esansle-
Por
do impostos agrícolas devem ser fei; das colheitas, deixar de determinar tos depois da venda sem todavia
f> montante dessas rendas, cm funatividede c dos resultados
O mesmo princípio poderá ção da anuai.s.
do acôrdo quanto à natureza desses nTovimentos do curta duração.
A intensidade, a amplitude dessas flutuações não será muito importan te. E. C. Armstrong. que calculara seu índice durante o período de 1891-1935, no qual encontrou 13 ci clos com a duração de 40 meses, es tabeleceu que variara entre 95-110.
cíclicas
determinar uma mudança no ritmo de renda e dc algmnas percepções das despesas públicas, que deverão acompanhar as flutuações cconómicurta durrçao, como aconleniovimcntos de cas dc com respeito aos ce estaçao.
2) Durante as vanaçoes 40 meses.
TTm dos primeiros economistas a analisar êste outro grupo de ílutuacurta duração_ foi Joseph Desde então, uma sobretudo englo-saxòni’ flutuações, con-
de çoes Kitchin (5).
literatura inerentes de Gerhard Tintner
essas
ca. examinou sideradas vibrações nossa economia* Toshua
(G) E C. Armstrong (7), Jo^nu^ T.T \ 1 orri (Q) K Forchheimer (9) e KaUd (10) constat^am a presença e nos advertem sobre os efeitos incontestáveis dêpes fenotnenos, embora nao estejam todos
Pode observax*-se uma tendência de comparar êsses ciclos de 40 me ses às flutuações de estação. As ex plicações das vibrações do sistema econômico (com o ciclo atingindo 40 meses), da tendência da natureza, do efeito da psicologia das massas, do resultado dos investimentos e da propensão marginal a consumir disputam-se, tôdas, a primazia da revelação do verdadeiro caráter dêsSGS px*occssos, que afetam a vida eco nômica do capitalismo.
Mas de tôdas as explicações invo cadas na busca do caráter dêsses fe nômenos, a teoi'ia que parece mais de acôrdo com a ciência das finan ças públicas é aquela que a consi dera em i'elação com os investimen tos e, portanto, com as despesas pú blicas e o consumo.
(5) Joseph Kltchin. “Cycles and |^auds in cconomic Factors”. Review of Econo mie Statisties, 1923.
the ‘Prices in
(G) Gerhard Tintner, 3^rade Cycle”, 1935.
(7) E. C. Armstrong, “The Short-tei^ Business Cycle; its average riod as observed in the Axe-Houghton Index of Business Activity”, Review oi Economic Statisties, 1936.
A Model of the (8) Joshua Hubbard forty-month or Trade Cycle", Journal ox Political Economy, 1942.
The Short Cycle (9) K. Forchheimer, in its International Aspects", Oxford Eco nomic Papers, 1945.

(10) M. Kalocki, "Essays in the Theory of Economic Fluctuations", Revue d'Economie Politlcjue, 19W.
Rudolf Eckert (11), passando em revista as diversas teorias tendentes a explicar as variações cíclicas dos 40 meses, resume da seguinte ma neira o ponto de vista fiscal de Hubbard:
“Hubbard, por outro lado, consi dera-as como resultado de variações dos investimentos dinâmicos (inves timentos em capital fixo e circulan¬
jrrr 131 Dlr.F.STO I^CONÒMICO
(11) Rudolf Eckert, “Les Théories modernes de l’expansion économique", Ed. ● Stocker, Luceme, pg. 13.
te e despesas públicas) c da propen são a consumir.
Tentemos exprimir no quadro de uma concepção purrrnente íi.vcal que representa, na realidade, a po lítica econômica e financeira de compensação das variaçõf s cídica.s. Ela não representa outra coi.sa que não a busca de um equilíbrio. É política do equilíbrio econômico do equilíbrio do pleno empré^o? É tanto a primeira dessas mecânicas como a segunda. Mas nem uma outra traduzem em linguagem íi.scal estas modalidades compensacloras dos movimentos cíclicos. Expre.ssas fiscalmente, estas políticas compensadoras constituem a confirmação da necessidade inexorável do prin cípio do equilíbrio orçamentário anual, ao qual se tinha a ilusão do poder renunciar.
Muitos partidários da ‘cVonomia do pleno emprego, advogando tra o princípio do equilíbrio mentário anual, perguntam ironica mente porque não procurai- então o equilíbrio orçamentário mcn.‘íal manal ou diário 02). não é tão difícil de scr dada; que as relações contábeis das presas pidvaclas, do Estado internacionais são consideradas do ponto de vista da divisão do temp que melhor corresponda à maior unidade natural.

tt o a ou nem conorçasoA rospo.sta poremc mesmo o re-
As flutuações de estação, tão duzidas em suas variações, não po dem determinar uma modificação da unidade fiscal anual. Nem os movimentos cíclicos de 40 meses,
cujo.s índices nao vannm mais dc 15%, oíeríTcrn-fVv uma jU''liíicativo suficient*para acr;tar um exercí cio OI çamcnlário dr A' mios me ses. tjUí- devriá .-«ubsliUiii çamenlári/». '» ano or* Hc‘correr ao nal. .sí-gundf)
Nao há imjtiv 1
OI (;r tm iU* ● reet jta a Q^-íinqueS()\‘iôtica7 n< in me-nio do 1 pon¬ to fie vista eientifici
flí» pf)iUo de vi.sta d;
letiva, a não
o, : er jia
eomn nao o há I ectmomia coinieiar rus<a. Do ra uma pontradição puranienlr
tf> de vi.sta cientifico. prazo de 5 ano.s nao corre.-pondo cos movinicntfjs cícli<'os: as pesqui.sa.s foitaa aló agora, muito flivergi-ntes da extensãíj despeito .X'Kuh,riclaclo d os nao confirmam uma c
fia e onjun ciclo.s, tura de 5 anos. -
Mais longa ainda do que as vari çoes cíclicas cio *10 meses o ^ juntura dv. 7 a 10 anos. Noss-'‘O cacoiihcci- so, e com as divergências das sóbre a regularirlado dOi dos. i)arecü-nos muito fazer abstração fie
ssos ciexagorndo , . cio anos, nf» quadro <lesla políii quer fazer > - ' ●● íca. coincifiir os moviment cíclicos cf)m i
3 os a política orçamontácin Outro.ssim. nem a URSS respeita a regra do orçamento quinquenal senão no próprio país, onde a polí-’ tica dos planos cie 5 anos se acha em busca do uma tradição orçamen tária colelivista, que o país procura apresentar sob forma original. Mas, em contradição com esta política or çamentária. que se esforça em apre sentar de modo diverso dos países capitalistas, a URSS impôs aos países-satólites planos econômicos c orçamentos de um, dois, três CO anos (como é o caso com mânia, Hungria, Tchecoslováquia,
e cina RU'
Dtr.rsto K« onAmico Í.32
fi2) Prof. Jacob Viner, "Relações entre Política Monetária e Fiscal e a Políti/“●rvmprcial". ‘Revista Brasileira de Eco nomia. Junho de 1052. pág. 109 e seg.
uniformizar esses i tc.). sem poder prazos sciíundo a receita soviética.
3) Durante a conjuntura de 7 a 10 anos.
Nã() liâ unidade de concepção enoconomislas a respeito da cx- Irc í)S tensão c da regularidade desses ciHá acordo apenas quanto à elos. existência da conjuntura, como tamrcferência ao seu caráter bém com
do periodicidade; o fato de que a extensão dos ciclos não tenha sido determinada com exatidao c de‘que
tica não parece ter muitas possibi lidades de compensar automàticamente as flutuações da conjuntura.
A política fiscal deve intervir “a posteriori” e dificilmente poderá evitar as flutuações.
A obra fundamental sòbre a ma téria é a de G. Haberler (14).
IV. AS COMPENSAÇÕES DAS FINANÇAS DOMÍNIAIS.
As rc(feitas orçamentárias repre sentam um dos mais utilizados inum prazo ate 3 anos possa sempre separar dois ciclos, obriga-nos a enmccânica íi- xertar e construir uma
dices para o estudo das flutuações cíclicas. Uma estreita relação mas, ao mesmo tempo, muito com plexa os movimentos econômicos e íinanpode ser estabelecida entre nanccira e fiscal na areia movediça destas flutuações econômicas ser muito elás“iiTegulares”, que deve tica e móvel.
W. Mitchell (13) acentua mesmo da teoria outros aspectos negativos
baseia-se também nas concluu sões dêste economista, que nao encontra nenhuma regularida de na sucessão destes ciclos, duração será variável de país paia constata-se que, nos dêsses
processos economicos.
pais.
Estados Unidos
, a duração ciclos é apenas de 4 anos; na Alede 5 (mais exatamente, 5,1), Inglaterra,
Assim manha, na França de 5,5 e na de 8. de irregularidade u
Só
A influência das crises sôbre as finanças públicas é hoje uma ques tão unànimemente admitida por to dos os fiscalistas e entre os econo mistas que estudaram êsse proble ma deve ser citado o professor M. Lescure (15).
Um aspecto especial dêsse proble ma se refere à renda dominial, que no quadro contemporâneo das fi nanças públicas ocupa um lugar ca¬
(14) Prof. G. Hai’berler. "Prosperité et Dépression”. 1944.
(13) W. Mitcliell. Business Cycles. Readlngs in Business Cycle Theory, 1947.
(15) Prof. M. Lescure, “Crises Générales et Pérlodiques cie surproductlon". Pa ris, 1932.

W ]7ioKínY>
Kco^*ó^^f;o
1
●V
Não há sòmente um para- cciros. lelismo entre as duas curvas, pelas quais poderão ser representadas as evoluções dêsses dois procesOs rendimentos fiscais sos. da conjuntura de 7 a 10 anos. Nossa qualificação dada a êsirregulares Jt ses ciclos refletem as flutuações cícli cas, ao mesmo tempo que as despesas públicas podem de terminar certa evolução dos Sua
Diante desta funcionamento dêsses ' ciclos, a intervenção im¬ possibilidade de uma fiscal automática é evidente, medidas de emergência serão pos síveis e uma política fiscal sistemá-
da vez mais importante. O domí nio do Estado, que no pa.ssado era sobretudo pelas concretizado
municação. rcfleu-m imedial; ffonômicos
proa do.
Como consequência, o setor dominial representa um capítulo mui to importante no quadro do proble ma que consideramos, porque, lado das complexas relações entre a economia e o fisco, é preciso so lucionar também a questão do pró prio equilíbrio orçamentário dessas instituições dominiais que, cm ge ral, gozam de certa autonomia çamentária.
A priincir.i inri<lríh(|.-,(j,. nplicaVb a de inodifirar df) t* ;
cntc Kcrnis, i foi priededes terrenas, pertencenlc.s entidades públicas, sofreu as am pliações e as transformações <\o mo vimento .sociali/.ante de nosso munGrande número de indú.strias
un movimenlí)S «>s a tarifa dt>s pr r I >s ços deveria tf> alra\’és íia çao <la taiifa leri; visada durante os vos ciclíjs.
eços pre* umvimcnretiu_ ' penodos dos
aumento dt nobásicas e do exploração de serviços públicos se acrescentou aos antigos elementos do dominio estatal.
< ompensar » , íifpres.sao. ^ sido
Depois df constatar cic'i désle sistema do cíclica, muito rudiment; ficientemente elá.stico.
‘^f>*npcnsação c nao su_
O exemplo da Prússia, citado pe lo prof. H. Laufenburger (16), produziu-se em quase todos os paí ses e, sobretudo, na Europa:
ao orrecomo a restas,
das foram tomarias para dim^nui'^'^*' flutuações das rendas fer E. Keilpflug (17) cánica desta
cros, durante o.s anos P es, c-
a «r li¬ as !*oviárias nio- nos expõe eoinponsação a no . ^ua^KUa- ludo i cios dro de um fundo autônomo lação, que alísorverá P^i-to «>>^cedont para compensar os dcficits cios ríodoH de depresscão.
A tendência a concedor mia orçamentária às institu miniais c a enqundrar mentos financeiros niun extraordinário teve
. ‘^^tonoiÇòos dornovi^^^'Çairionto como rcsultorí apenas transpor o problema da economia nacional para
Assim, os Estados que, Prússia, possuem importantes íloqueixam-se das flutuações
vacom a nao
sous um consideráveis sofridas pelos preços de venda da madeira e sentem cer ta dificuldade em conciliar a riabilidade dessas receilas estabilidade relativa das despesas. A instabilidade da renda dominial pode ser eliminada; pode, quan-
do muito, ser atenuada.”
A Prússia tentou, em fins do sé culo XIX, encontrar os meios para equilibrar as receitas oscilantes das estradas de ferro que, como todos outros meios de transporte e co- os

se¬
tor mais limitado no qual as mesmas questões a nadas, mas dc menor ser ^^istiam solucioamphtudo benefícios dos anos excedent savam, automàticamente, mentos ordinários. Nem
Os .es pasaos
criação de anuidades fixas ^
sas administrações aulonomas d riam dar aos orçamentos ordiná-^^” pôde impedir que a diferençando lucro ficasse imobilizada, '
orça^ dispo-
134 Oir.f «iTi'1 o
(17) E. Keilpfluff, "Der Ausgleichsfnnri der Prousslschen Staatsbahnen, Arch^iv fuer Eisenhbahnwesen”, Berlim, iQie."
'^16) prof. H. Laufenburger. op. cit. pg. 141-142.
destino futuro
A
nndos. As depressões não são matemàticamcnte previsíveis e a am plitude das flutuações não è men surável de antemão. Do ponto de vista financeiro, a teoria da reser va representa uma utopia.
Mas n economia capitalista, que tinha demonstrado sua incapacida de do formar reservas financeiras, nem por isso está inapta para pos suir outras reservas. Referimo-nos às “reservas” possíveis de ser cria das pela contribuição do capital pri vado (imposto sobre o capital e cré dito) e pela ação monetária (infla ção e crédito).
I
O titulo deste capítulo poderia ser também o de “Relações necessárias entre a economia privada e a pública”. No fundo, é o as pecto mais delicado de nossa disciplina, porque o mais po lítico, senão de natureza inte gralmente política.
E. F. Schumacher (18), com justa razão, mas sem recuar diante desta nova mecânica, afir ma:

0
uma reserva capaz de compensar e equilibrar a deficiência das receitas.
Tanto do ponto de vista, mais res trito, das instituições dominiais, co mo também no quadro maior da economia nacional, não considera mos a fóiTTiula das “reservas” capaz de realizar o equilíbrio das flutua-
çoes.
As reservas dos anos de i’einício do ciclo são esgotadas por motivos que nem sempre devem ser conde-
“O fisco, quando estendido além de determinado limite, cria uma no va série de móveis econômicos, que. podem ter repercussões de grande alcance.”
5 j,*
(18) E. F. Schumachei', Les finances pu bliques; leur rapports avec le plein emploi, em “L’Economie du plein emploi” — Presses Universitaires, Paris, 1949 pág. 106.
l^lGRST») ECONÓNOCO í
sição do fundo autônomo de igualaçno. As instituições dominiais não chegaram a criar a reserva financei ra esi>erada, porque, para satisfazer encargos sociais crescentes, o Esta do moderno se via sempre obrigado íi recorrer a qualquer disponibilida de, mesmo que seu jo estivesse <lecidido. prevalecia sobre a Mesmo que os fundos autônomos de igualação, destinados a asseguo equilíbrio durante as depres sões, tivessem funcionado, de con formidade com o princípio que juscriação, a experiência ^os mostra que a reserva de vacas Sordas não pôde ser preservada con tra f ●^1 5
urgência previdência. tificüu sua não sò- os ataques que sofria,
V. OS LIMITES DO FISCO DISTRIBUTIVO E COMPENSADOR.
oiente por parte do orçamento ordi nário, como também pela ação dos próprios dirigentes dessas institui ções dominiais. Na verdade,
pode constatar-se em diversos países que, se a reserva não é focada, em virtude de objeti vos estranhos à sua constitui ção, então surgem os problenias dos investimentos, desti nados a renovar ou ampliar o bem dominial, de maneira que os coincidem inexistência de anos das vacas magras quase sempre com a
O alcance desta mecânica não se resume apenas nas repercussões eco nômicas acentuadas na citação aci-
ma. As implicações desta política são infinitas e, para melhor lefletii as suas relações complexas, inco* mensuráveis seus detalhes, téria da translação e fia incidência íiscal.
me.^mo, em todos o^ referimo-nos à maem excelente trabalho
Do ponto d(f vista jurídico, é o problema lao debatido da causa íis cal, resumido por Gilberto de Ulhoa Canto (Id), ■ publicado no ‘■Relatório Enciclopé dico Brasileiro" <'vol. VIII. pág.s. 2 a 25).
A literatura cientifica contempo rânea possui um número impres sionante de Ircbalhos, nos quais é este problema examinado de manei ra tòda especial. Para exemplificar, devemos citar, pelo menos: Margit
Hest (29;, Le.-.liad*' í30), Gcrmnin Martin (31), W,cks<I í32), I.i„dahl
F’jií.-drirh \a.n Wn-vcj- (3.|> A concepção da qu.s da integração da <-«'ofi.»niia p<da econf)mia púbhca -cente à ideol<»gia mai xista da.s experiénci; s f«-ila>. j)^.| vismo, surge como vctri;,,} larlo à idéia de liberdade, téncia das dua.- fiunur- dt — pública *● pi ivada ●-
● idjsorção o privada perlen— à luz colcli- o A <'<>exis■ ^'^'ontinua . um falo que mesmo o s»''trina ●''oviõtico e firma, a despeito <hjs esforços fo ' Ifjs para eliminá-la. dui anlt.- ' anf>s, nos cjuais a violêncic ^HUise 4o
nO) Gilberto de Ulhoa Canto "Causa das obrigações fiscais”.
(20) Margit Cassei. "Die Gemeinwirtschaft”, Berlim. 1025.
(21) R. Goldscheid, "Staatssozialismus oder Staatskapitalismus”, 1917.
(22) A. Loria. "Teoria Economlca Delia Co.stituzione política".
(23) G. Jèze. "Cours élómentaire de Science des finanees et de legislation financière", Paris, 1931.
(24) H. Laufenburger “Précis d‘Economie et do legislation financière”, Paris, 1946. vol, III.
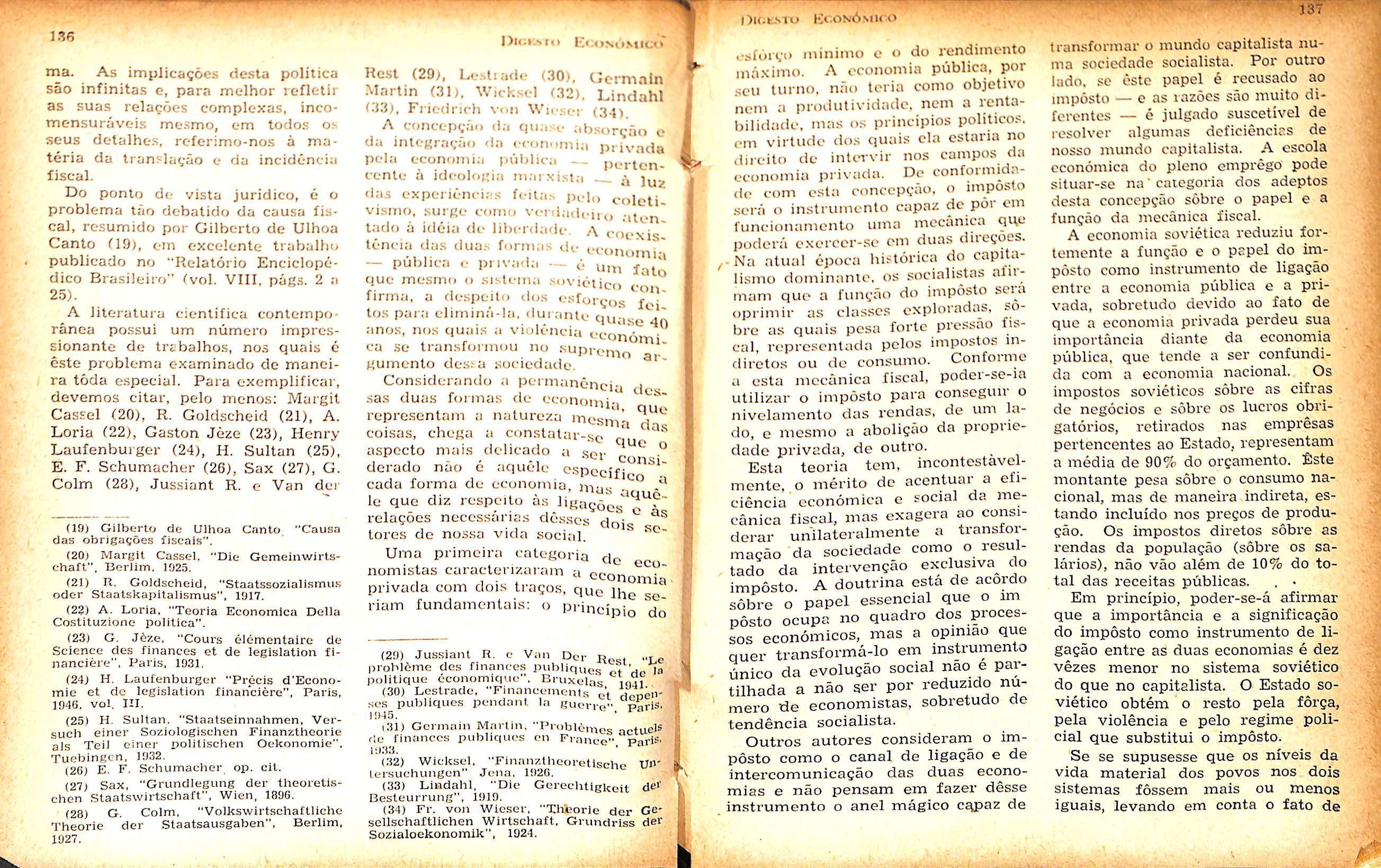
(25) H. Sultan, "Staatseinnahmen. Versucli einer Soziologischen Finanzthcorie al.s Teil einer politischen Oekonomie". Tuebingcn, 1932.
(26) E. F. Schumacher op. cit.
(27) Sax, "Grundlegung der theoretischen Staatswirtschaft", Wien, 1896. "Volkswirtschaitliche Staatsausgaben”. Berlim,
(28) G. Colm, 4’heorie der 1027.
. r ^‘unómica SC transfoiinou no .suproino gumento des. a sociedade.
ar-
Considerando n permanência dessas duas formas de ccononii.. , CiUo reprc.scntam a natureza mesm- \ coisas, chega a constatar-sc * aspecto mais delicado a smderado nao c aquele ospecífi' cada forma de economia, ° le quo diz respeito às ligaçõos*^^^^ relações neccsstirias dêxssos r1r^; 1 ● t Ro¬ tores dc nossa vida social.
que o
Uma primeira categoria de nomistas caracterizaram a privada com dois traços, riam fundamentais:
ecüeconomia quo lhe u Pnncípio do se-
(29) Jussiant R. o Van Dor problème des finanees publiques politique cconomiqno". Bruxelas inii
(30) Lostrade, ■●Financoincnts ot ríooênses publiques pondont In guorje" Paris. 194rj.
(31) Gorinain Martin. “Problòmes actucis de finanees publiques en Finneo" P-irisl;»33. ■
(32) Wicksel, "Finnnzthcoretischo XR'" tersuchiingcn" Jona. 1920.
(33) Lindahl. "Die Gerechtigkoit de‘‘ Besteurrung”, 1919.
(34) Fr. von Wiesor. “Xlieorie der Gesellschaítlichen Wirtschaft. Grundriss der Sozialoekonomik”, 1924.
.ir Iv -ONOMIC*» I )lc.»-s 11 >
Cassei (20), R. Goldscheid (21), A. Loria (22), Gaston Jèze (23), Henry Laufenbuiger (24), H. Sultan (25), E. F. Schumacher (26), Sax (27), G. Colm (28), Jussiant R. e Van der I V
dü rendimento i-sforvo ininimo o <>
A economia pública, por maximo. . .
seu turno, não teria como objetivo lutividade. nem a renta- nem a pnu .
bilidade. mas (»s princípios políticos, virtude dos (iiiais cia estaria no .lireito de intervir economia privada.
<íe eom esta cimecpcao. será o instrumento capaz dc por ein mecânica que
em da nos campos De eonformidaimpôslo o funcionamento uma
poderá exercer-se em duas diicçoes.
, Na atual época hi^tôrica do capita lismo dominanie. os socialistas
mam que a função do imposto seia classes exploradas, soísáo fis- ijprimir bre as quais pesa forte pressi cal. representada pelos impostos inConforme
as flirctos ou de consumo.
fiscal, poder-sc-ia a esta meeanica utilizar o imposto para consegun o rendas, de um la- nivelamento das do, e mesmo a aboliçao da propiiedado privada, de outi*o.
Esta teoria tem. incontestavelmente. o mérito de acentuar a elieiencia econômica e social da mefiscal, mas exagera ao consiunilaloralmente a transforda sociedade como
eanica derar o resulmaçao
exclusiva cio tado da intervenção
transformar o mundu capitalista nusocicdade socialista. Por outro lado. SC esto papel é recusado ao imposto — e as razões são muito di ferentes — é julgado suscetível de deficiências de A escola
ma resolver algumas nosso mundo capitalista,
econômica do pleno emprego pode situar-se na caiegoria dos adeptos desta concepção sobre o papel e a função da mecânica fiscal.
A economia soviética reduziu íortemente a função e o papel do im posto como instrumento de ligação entre a economia pública e a pri vada, sobretudo devido ao fato de economia privada perdeu sua diante da economia que a importância
pública, que tende a ser confundi da com a economia nacional, impostos soviéticos sòbre dc negócios 0 sòbre os lucros obri gatórios, retirados nas pertencentes ao Estado, representam a média de 90% do orçamento. Êste
montante pesa sòbre o consumo na cional, mas de maneira indireta, es tando incluído nos preços de produ ção. Os impostos diretos sobre as rendas da população (sòbre os sa lários), não vão além de 10% do to tal das receitas públicas. . ●
impôsto.
A doutrina esta de acordo papel essencial que o im pôsto ocupa no quadro dos pocessos econômicos, mas a opiniao que quer transformá-lo em instrumento único da evolução social nao e par tilhada a não ser por reduzido nude economistas, sobretudo de
sòbre o mero tendência socialista.
im-
Em princípio, poder-se-á afirmar que a importância e a significação do imposto como instrumento de li gação entre as duas economias é dez vezes menor no sistema soviético do que no capitalista. O Estado so viético obtém o resto pela fôrça, pela violência e pelo regime poli cial que substitui o imposto.
Se se supusesse que os níveis da vida material dos povos nos dois sistemas fôssem mais ou menos iguais, levando em conta o fato de
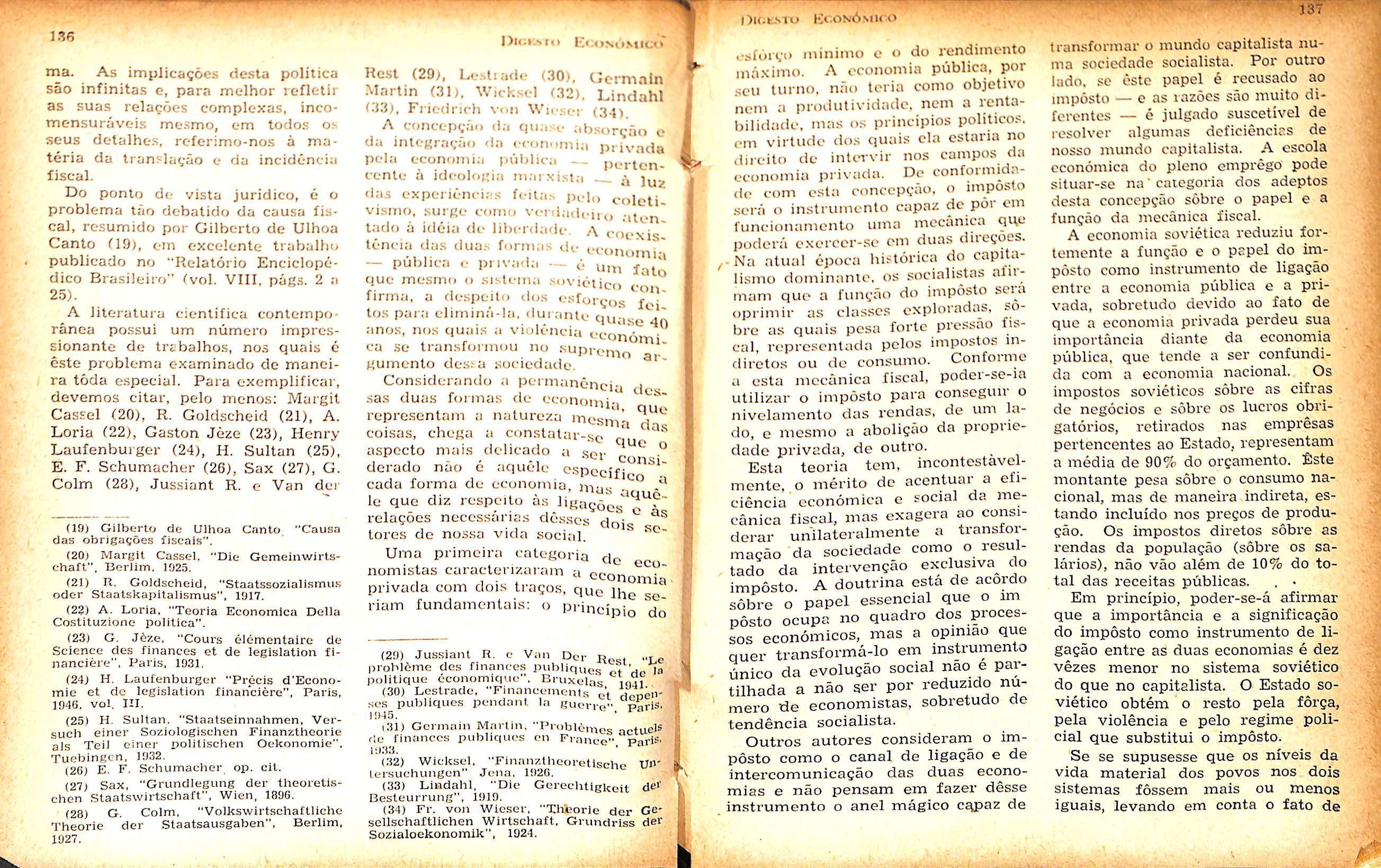
137 Kt.ONiSstu
Os as cifras empresas
Outros autores consideram o pôsto como o canal de ligação e de intercomunicação das duas econo mias e não pensam em fazer dêsse instrumento o anel mágico c^az de ● /
roa o rcfiime
te as manifestações do um indivi dualismo baseado nas que estão conformes à natureza hu mana e ao «raii de evolução dc so mundo.

libordadcs
nos-
que a mecânica fiscal soviética duziu a fiscalidade direta sóbre população a 10% das receitas orça mentárias totais, torna-se evidente que, para tirar a diferença de 90% de sua economia privada, soviético substitui a função pacífi ca do imposto por uma extorsão que contas, um capitambém porque manmes-
O fisí'o, (pu- deixa <Íe ^nanifesta rsc numa modalidadu- puraini*ntc fi nanceira. tornando-se oculto c* confi.scatório, tentando assim transfe rii- para a economia iH'iblica 'quaSe tóda a substância de uma eeononna « . . violen¬ to e se transforma em si privada, torna-se fatalmcnte mples instiumento de opressão. mo que com servidão socied;, substituído por uma mecânica ciai que já reduziu as dimensões da economia privada à fòrça dc traba lho de seus sujeitos e ao salário mí nimo, destinado a assegurar sumo, controlado rigidamente pelo Estado onipotente.
representa, afinal de múltiplo da pressão fiscal do talismo. Além disso, há uma diferença qualitativa, o fisco no capitalismo (que tém a propriedade individual
foi soo consao asse-
A elasticidade o a variedade d« mecânica fiscal do capitalismo tão em relação com uma diversidn' de de critérios e em função do u " situação sujeita a impostos ^ pois de ser taxada, deixa ainda ínaioria contribuintes b
aos em mais do que este míni cm sua nooncle E cessano ao seu consumo, a situação 6 deficiente, distributivo deve assegurar Ü fisco Um mirenimo de equilíbrio econômico ciai. No coletivismo est e soção c limitada à imposição de a 6i'aduao processo cia lecUstribuTcão' orçamentária do capitalismo se i niíesta também no domínio das des~ pesas, que são destinadas aos inves' timentos públicos, que se tornam indirotamente positivos para a eco nomia privada do país. i'rí-% ■ f ■
nos.
I3g iVJPPliPJi .. P EC0>KSNÍIC5tl !
O intervencionismo e o fisco menos duros no sistema capitalista, porque mais elásticos e mais varia dos, em função da posição individual do cidadão, que não fica à disposi ção dos representantes temporários da economia pública, sem qualquer possibilidade de resistência econô mica. A propriedade privada gura a economia privada, conside rada em seu conjunto, e cidadão por cidadão, contra o excesso e con tra o arbitrário de um coletivismo que tende a absorver completamen-
o INTERVENCIONISMO E O CONSELHO i
INTERAMERICANO DE COMÉRCIO E PRODUÇÃO /
 Doiuval TiuxFnuA Viehía
Doiuval TiuxFnuA Viehía
NUNÍA mas (híção. lendo em vista as propostas anteeipadamente apresentadas países, a situação das lino-americanas, descrita pela voz ●esentantes tlurantc os debates,
sáric (U‘ artigos teceremos alguconsidcraçücs sõbrc os resul tados da \’I lUainião Plenária do Conse lho Intcramcricano dc Comárcio c Pro-
pelos vários economias ladc seus repre os resultados aprovados cm plenário significação dos mesmos, quer para o progresso latino-americano, quer para a eficácia e talvez a sobrevivência do re-
naliílacle siT a dofosa da liberdade de . ,■ iniciativa e empreendimento nos países j da Aniérica. Sentiu-se, porem, nas rcu- .i nines plenárias anteriores, que o assun- í to merecia maior consideração, pois não mais seria possível pura e simplesmente , j condenar a inter\’cnção do Estado, em Ví
c a
princípio, mesmo porque o Conselho pre- ^ tende pautar as suas decisões cm intei- '‘'J ra concordância com a realidade cconó-. Do resultado M mica da América Latina,
desta mesa redonda tal\’cz viesse a surgir 'i profunda transformação nos métodos e ^ até mesmo nos fins daquele organismo. ferido Conselho.
O primeiro item da ordem do dia da Ucimião referia-.sc aos efeitos da cconotia restauração c fomento mia dirigida
das economia.s nacionais, incluindo o teão só os elementos causais deste discus resultados, posima n rigismo, como os tivos ou negativos, acrescentando a agenos estudos deveriam encarar o problema sob o angulo estritamente nómico c cm correlação com os ciclos ou depressão, parecia scr o tema que do Conselho resol-
dix (juc eco-
De tal de prosperidade importância Comi.ssão Executiva transformar a comissão de estudo cm painel dc debates, sob a presidência da secção estadunidense e contando com a participação do Brasil, Canadá, Oiile, México, Peru e Uruguai, cada país orador, salvo a América do Norte,
a veu com um que contaria com dois oradores, além do presidente.
O tema tem sido analisado desde a fundação do Conselho Interamericano, pelo simples motivo de aua principal fi-
Consultando-sc a documentação apre- -n sentada pelas várias delegações verificanios terem sido os seguintes os países que ’ '.h' apresentaram traballios relativos à inter\enção do Estado na economia: Estados -ffl Unidos, Peru, Argentina, Uruguai, Colòmbia, Equador, Salvador e Brasil, Todas as teses c informações, uma vez ^ analisadas, evidenciaram a existência de :3 duas correntes diamctralmente opostas c uma terceira intermediária: os Estados ^3 Unidos e Peru apresentaram-se como defensores incondicionais da livre empresa, condenando toda e qualquer tentativa de intervenção do Estado no campo da economia; a Argentina, em oposjção, afirmou o seu apoio à intervenção do Estado como um fato e uma neces- ^ sidade. Entre estas duas correntes ex tremadas situaram-se os demais países, sendo digno de destaque o trabalho do ‘‘} Uruguai, acompanhado de perto pelos informes da Colômbia e do Brasil, mostraudo que de fato a intervenção do Es-
* 1
-4“
..V
na economia representa uma det íiiinantc liistórica ínei^ável c qu<; crn cer^ situações não há como fuí»ir a el-i. Equador c Salvatlfjr colocarain-s<'jUinio plano, desconhecendo pràlicanic'nte o problema. Hcpresentantes d<. ^írnprêsas da Hepública íIo Salvad(;r cheí^aram a dizer í|ue em sen paí.s nãíj i xistia o problema da
erem ccono-
[ll.dqil d»'
di% idii. Int.
I 1 p<
<*t I aii r< I Mstf II).I ini< i.itix .1 -).i \ nl.i, pi >r diis
A l(>H'rdadc . empreemlimrj^j,, ii-i e\e tf-n. 1-1 <lf chfi reuí^as innni l.ido, « '»n(io.
S. II ir ●\primc )«
III.its .ipt<
r< > ● III.ii'' <|ii< (> I-Xl.ulo, h>
● I II.ilM ind-Uitrs liuhij. p.ipel df '.i n .men¬
I>» rmitr qur Pf“lX)rcione
a m '■tieos, ‘Knald.ulo [
n ●V tV a
tle P*»ra todos
1 aoai.i
zes SC apre senta como um imperati vo, sendo con denáveis ape nas os seus excessos tan to na órbi ta nacioná\ quanto na in ternacional, c rccoiilieceu também o interv’cncionisnio só aos poucos c to lentamenle poderia desaparecer, dan do lugar a uma economia de liberdade.
(jile imiimaior
, poderá nao sv M'U- O.S '‘^‘«■‘otados luta nu vonc
f orroneial nh;on s teid
‘■O‘i«ados o cs- ●iG por oao teroni , , d< Irar '●n .i siia mij)i-i londaiU- tlenlro do S()(.-ial a (jiii- pi-rti-Tieem.
l']sla iilH iiladc de inicia(i\;i < (u ri-neia, ésle respeito à sa não pode entretanto existir seis eondiçõis sejam atendidas os eidatiãos e leitas
K^ ‘ ‘‘ dc e re ^-ínp P«r to respeitar p^lo p
l>oonsupo onrcsein que dos ró-
pri<i Isstado: 1 a existência de um
tt de livre
teoria como na prática o sisempresa, pri\ada e conial. ser\’c à soeiedadé niellior qne

Definidos os grupos, vejamos agora, pela voz dos seu.s maiores representantes, os argumentos. A proposta dos dele gados norteniente o pensamento do Conselho Interamcricano de Comércio e Produção, nsiibstancíaclo nas decisões das níões plenária.s anteriores. Afirma uni princípio, para éles u único capaz de permitir a prosperidade e o maior Idcjuestar dos povos sobre a face da terra: tanto na tema correnoi
2 não sà virculii^'üosuino e dos
"^^‘reado livre- ' o respeito a propriedade ’ dos meios de produção como ele <;ão I- mesmo de luais de I
.'V a lilx rdacle de tre indivítluos e <?mpresas; í o estímulo do lucro, tc- contido dentro de limilevS eouf<.-rir
Ilu¬
éncia OU' .
eoncon n a liiii de nao T'
í 1 ,'i
1-^ 140 KconOxiux»
II.«dl d. te ●nanteno^lor d.ts intormia dirigida c o Equador afirmou que
rt I. Im- n,'H*s ui.in.is, ranl.i. 'i‘is e interven ção dc Esta do muitas vô- A
reprc.senla fiel- ameri canos rcii- CO
ser\'i«,'os;
aturalmeii razoáveis, , uni caráter de ii.jnsli(;a on mesmo de f'\toi-são;
econômicos e mal-estar que Latina como também contratual o fiel dos contratos assinados e. justamentos não só a América
liberdadi* 5. ol)scrváncia
(i.
Sr tlrvêssrmos
|x>r fim; a existência dc um sistema mone tário estâ\'fl e inspirador de confiança. , atribuir ao Estado um desenvolvimento econó-
0 mundo inteiro vém esperimentando. Daí o formidável libelo da Delegação dos Estados Unidos contra o intervencioA economia estatal cconómide Estado: msmo
diriçida obstaculiza o progresso
paprl ativo no , a liberdade individual e o funciona'iito das instituições dcmocn^ticas .
miro tias naçõrs, segundo o prnsamenlü (los liomrns cie negócios norte-ameriei nos. êstr limitnr-sr-ia a ganinlir a igualtodos, c a
vo. im
idaclr (Ir oportunidade para j)iannlt'nção ile nni clima e de institui ções cajiazes de proporcionar ria (Ias condições acima apontadas.
ii existén-
A obediência a este programa traria por efritos: maior estímulo ao desenvol vimento técnico; maior incremento da produção, seja pclo aumento do volume produzido sej;i pela melhoria da quali dade das mercadorias, seja pela multi plicação dos produtos, itncialiva garantiría mna distribuição ca da vez mellior e, nestas condições, pro dutos abundantes, melhores, bem dis tribuídos, além dc todo o sistema cconóservido por um instrumento
A liberdade de estar mico' , r. 1 dc trocas estável, graças á confiança dos cidadãos na honestidade dc propósitos e eficiência cios governos, permitiríam na tural elevação ‘do nível de vida das po¬ pulações.
Afirmam, por fim, que o intervenciogerandü favoritismo c distin ções injustas\ burocratiz;mdo a economia, reduzindo a riqueziv nacional e provoc;mdo a cpieda do padrão de vida das populações cm todo o mundo. Por tudo isto couclucm: “Nenhum governo deve oeupar-se da produção e distribuição da riqueza nacional”.
nismo v tan síntese acabamos definição de melhor, um esPor curiosa ou
Os norte-americanos não desconhecem afirmações se colo na realidade todas as suas num plano ideal e que qiK intervindo e restringindo Estado v’em cam o eliminando aos poucos as conantidoras da sobrevivência da . Acrescentaremos que pelo fora da alçada estabilidade estariam a
ou mesmo cliçõe.s gan livre empresa

menos sempre dos homens de negócios do valor da moeda e a equidade e etidistribuição do crédito. A ciência na
sarabanda das desvalorizações, em gran de parte oriunda da intervenção do Es tado na economia, tem provocado desa-
A tal estudo, cuja de apresentar, falta\’a uma economia dirigida, bòço teórico do dirigismo. coincidência, o complctamento deste es tudo foi apresentado pclo Perii, pais so bro o qual iria recair a escolha do novo presidente do Conselho Intcramericano dc Comércio e Produção. A Delegação Peruana definiu-a como sendo “a direção do dcsenvol\’imento econômico de um país, dc acordo com um plano traçado pelo Estado”. O seu fim, apresentado pelos homens públicos, c sempre o de melhorar o nível de vida das popula ções. Para realizar tal objetivo o plano contém determinações gerais referentes a quantidade, qualidade e disftribuição de bens e serviços em atendimento aos dese jos, preferências e necessidades da popu lação, plano èste acompanhado por outros cada
pormenorizados
, que estudam, em caso e para cada bem ou grupo de bens, como produzi-los e distribuí-los. A eco nomia dirigida pretende substituir o me canismo automático da formação dos preços, sem no entanto poder contar com
141 fc)CONÒ.VUCO
êxito porque o jôgo da oferta no mercado livre, um lado.
smo natural dos nos, o Estado i> preços, ao traçar plavai, aos poucos, desconhe cendo as exatas preferências dos midores e conduzindo a acordo com
e e não atende àquelas que reahncnte verificam na coletividade. Por tudo isto, a economia dirigida afeta o campo inter no da economia, perturba as relações internacionais,
ç procura, permite perceber, por as preleréncias do consumidor e por outro a condução a imprimir à prodiiç-no nacional. Km l„gar do anlomati . endo;rr ™'-n.ua -aativulade Jiroduçao e distril dr.ulas em determitiadus d gais e admjnistrati\os, di\ admimstrali\a realidade I^^ sao
consuprodução dc pressupostas necessidades
SC economicas aos poucos
destrói as condições imprescindíveis à existência da liberdade dc iniciativa e concorrência, mostrando-sc, pois, irreconciliável com a livrc-cmprêsa.
À primeira vista,
I. . om se tratando dc uma instituição organizada e mantida por liomens de negócios, podería que as simpatias pelas propostas americana c
parecer nortepcTuana fossem
, T . - que neniiuma divergência ocorreria. Sc al gum observador menos avisado fizesse no entanto, semelhante prognóstico fa lharía inteiramente, pois outras correntes se apresentaram, fazendo prever na fu tura mesa redonda, um choque dc idéias ■ que talvez a transformasse no aconteJiincnto culminante da Confêrencia de Li ma. A Argentina, por o.xemplo, pela dos seus homens de negócios ' ^
dade econômica, mas nem ttxlos os ccon-mistas ou homens dc nege^K-ios se tJm prroc tip.ulo em d.ir < h;un.tdo "1 «ima exata definição ^'-●fairr” d(4 ●US' Knt
enqua*‘'Ix>sitivos le-nsaiulo dreiP-‘ra Cada caso” nao se p(j,l(. se(|uer empr<í-udinunto distribuição da ri jurídicos.
d«T o ●■conoinico nque/a fora ij,. porrjuc as norm
Na compreene a <piadros
convi<‘conóini.is d Ví iicia (jiic cara< t<TÍzam a vida sciiipnjurídicos e

c ca nacioiia dispo.siti orislalizi se ini vos ‘■<P«Iam
ções íulminislrativ;
oin cntaserotn gees que, porrais, p. rmitem igual tralaincuio oos, evitando os abusos d mico. os esmagamentos d
organizações econômica
para topoder cconóindivíd c fi embora talv vista técnico.
ramenle mais fracas, ííptas do ponto dc normas jurídicas na lula pela vida, retornarem a polida pela civilização, econômica absoluta cxisli.ssc,
ou evitam um que fari; uma barl)á . ^ nao
e uos nancci'02 mais Estas
a dosumaos homens irio, ●●'■■Hla q„o bberdade c.xiste”. manter Se com a ab.solula falta do política, a aceitação da arbitrariedade homens de
●SÓ SC podoria
ou negócio
seja, com liá nos , que fecham olho.s a este scníido da iiUcrvenc-ln '
pequena diziam vozes do ju.sticiaIismo
voz que à bôsimplcs porta-
peronista, afirmou corajosamente que a intervenção do Es tado .na economia, embora venha sendo apontada como uma tendência históridêste século sempre existiu, como sè poderá verificar pelo estudo da história econômica e política dos povos, consti tuindo problema a colocar apenas o da maior ou menor dosagem desta inter venção» Muito se tem falado em liberda^
ca ser ca nt
os 'Jui com¬ por isso um lado, o2irc.ssão do concorre
mesquando
nômica c que afirmam as vantagens de uma liberdade incondicional, ^ portamento ambivalente e, mo, parado.xal. Por sofrem a
poderosos, de organizações pedem ao Estado quadramento legal da sua para a sua proteção; quando começam a
cs normas o mas, por o
e negam a anar-
mais esmagadoras, para atividade e enutro, conseguir êxito ter a sua situaçao consolidada, a posição fio Estado ç pleiteiam*
142 ly^CESTo EroSÓMICO
Ao estudarmos ,as razões do nuiiitiTvcnção econômica, verio Essendo
qtiia. mrnto de íkainos que ein todos os p.iiscs ●ste último sccido, comb.itiT privilégios inà colclivid,ide; acordos econômicos de cardes-
\ em (ado. ut chaiu.ulo para para tli\ ithíais noej\<is lutar ('onlra tfli/ação. (si'Uclo um exemplo típico ta luta a legislação anlitrusto que, mes mo nos Estados Unidos, país campoao da cli fesa da livre iniciativa, existe) p-idefemler o consumidor contra a o desmedcla ●soncsticlacle da propaganda, j-ocimento da qualidade dos produtos .anrt‘sentaclüs ao consumo; para lutar, enfim, contra fraudes c falsificações. Alas, essa intervenção não sc destina uniláleralmentü apenas ã defesa dos que produtores são fatores de poríjuc os consumidores de consomem, também produção e êlcs próprios, cm nadas circunstâncias, solicitam do Esobter os

determitado defesa para que possam seus realizar suprimentos ou cquilatiPor tudo isto do Estado tem permitido na distri-
vamente as suas vendas. a intervenção estabelecimento de justiça realizado, com o ef buição c iciência, a trabalho. proteção ao No intervencionismo é preciso ffinguir duas modalidades de ação; ceritas imedidas são de emergência, par ciais, portanto, visando a restabelecer funcionamento normal das cconodesajustadas e indesejáveis, controle de crédi-
diso momentaneamente mias, por fatores imprevistos cO racionamento, o tto e de câmbio, tteto ou de preços-mínimos constituem exemplos atuais. Medidas de emergên cia têm sido toleradas e, em muitos até solicitadas pelos homens de Não é, porém, esta forma
fixação de preços- a casos, negócios, de intervenção a que convém a um programa de expansão dos países lati-
no-americanas. Necessitam os países subdoscn\ol\ídos da Aniórica de uma planificaçâo geral da economia, conde nável se fosse totalitária e inoperante se insuficiente, mas qno, estudada com critério o le\’ada a cabo com mode rarão, j>ernntirá a coe.Kistència da ação do Estado o da iniciativa privada e fa vorecerá os programas de melhoria daa condições econômicas das populações. Planificaçâo desse tipo foi a realizada pela America do Norte, quando do reorguimento das populações do ^■ale do Tennessee.
Se atualmente as planificaçõcs tenta das tèm falhado, tais lacunas foram de\’idas seja á insuficiência de capitai, seja j\ falta de flexibilidade ou de oportuni dade dos planos, seja, ainda, ã ausência de cooperação internacional, indispensá vel a uma perfeita sincronização entre fatores de produção nacionais e aquêles que urge buscar em fontes produtoras alienígenas. Tais falhas, porém, podem ser perfeitamente corrigidas, demandan do apenas maiores estudos c melhor compreensão, quer internamente, entre as empresas c os governos, quer no plano internacional, entre países. A única conclusão a que se deveria chegar, diz a delegação argentina, a única compatí vel com os interesses das nações ame ricanas, é a seguinte: “A planificaçâo
os é conveniente e útil quando cria condi ções de estabilidade econômica.
Ao colocarmos América do Norte e República Argentina face a face, apre sentando teses antagônicas, poder-se-ia pensar que tal situação refletia apenas um fenômeno puramente político: a luta pela liderança política na América La tina. Poder-se-ia ainda pensar que a voz dos portenhos fosse isolada, sem encon trar eco no seio do Conselho. No tanto tal não se deu. Em uma das
en-
us Dicesto Econômico
79
reuniões das comissões de cshido delegado lalino-anu mo a afirmar ●ricano clicgon os países da Am
certo nií'SnoujM naeãjii.il. ela of<Tecr as vantagí-ns:
‘vognintes érica
Latina não são o»i deixam de ser favo ráveis â intem nção pí)r simples I rebeldia e sim pnrqne as <oiKh\ões eco nômicas muitas \ézes j ção do Ksfado. Dent o bom senso falí
uxo ou mipfjeni a protere estas vozes, onde I mais os intírrêsses
e as paixões, conv<Tii dar particular des taque ao judicioso (●'●tudo apresentado pelos liomens de iniciativa phvíida na República Oriental do Un iguai.
A delegação uruguaia reconlieccu que, nos tempos atuais, a intervenção do Es tado superou a livrt; tensão e profundidade. M(;smo nos paí ses lib(‘rais cot*xistí‘in boje árcais econô micas livres, ao lado doutras dirigida^ pelo Estado. Não sc pode acusar, priori e em princípio, a intervenção’clo Estado e .sim apenas numa atitude dente, depois dc analisado.s os fatos* conhecer que a eficácia e
iniciativa em exa prurcôxito dos pla-
parccem depender muito da organização burocrática ca, das hVças políiicíis ram c do acerto de sua
nos ccononucos que os apli que os ampaconcepção Não existe economia dirigida única e defini da, tipos dc economia livre onde não haja'setores dc economia dirigida. Nesta discussão, pró ou contra a intervenção do Estado, via dc regra, falta uma bús.soJa capaz de conduzir o raciocínio, ou .seja, uma definição aceitável dc dirímsestatal. Se reconhecermos mo que eco
tro a procurou.
(talivas (nnlraditórias;
«irií iítar
improv isa<;õ evitar f.O'' (leeisors;
< s im* tooril-uar e^-für<Ieterminar a prosperidade e imperlir int« rveiieioiiismo dr lotado é apresenta do. pois. como imi í lern. titu anli< i<-liro. pensamento d.i drlí i*.i, é- de tal pojíunditl.ule deixíir de acentuar, d(* verifie;
.1 de O pr<-ss.u). uruguaia jue n.u) pocífjijos prim ipalnu nt«- (lu.mimos íjiie nos períodos d
e crise os empreendedores vol tam seus ollios p.ira o I-Mado »● dél citam medidas
eeonomiea todos e SOIlviol par.i conter

im A proposta iiriigiiíua
enta a inter\-on*'acional e
quedii de preços e reelani; ção em nome do inferes^' do bem-est;ir das populações, adianl:
(jue o iiílerveneionisino de resnltados lions ou maus
c-ondições de ao Conseliio Interíimericano
ainda h-stíulo trará eonfori
● simples de nni fato
i iH- as ^«mipotc rejoio sim a
que se revestir. nao çao pura aiu-esei.lação de soluções, para que o au.xiho governamental proporcione os me Ilmres frutos possíveis. Cada país doórgão de estudos v( ra enar um d capaz
a
o rceslrulurar os nacionais (.* serviços estatísticos organizar programas harmô nicos do desenvolvimento, tudos forem examinados St- ôstos esc aceitos pelos povo, dirigentes csc dcmocráticamonte eleitos, SC as decisõ(;.s das camuras redativas aos programas de descnvolvinuMito econô mico SC calcarcin em
nípresenlantcs do clarccidos íuformações segu nomia dirigida significa economia orga nizada, afirmaremos que fugir ão dirigismo significa estabelecer o caos denda vida econômica. A livre empre sa, ao fugir aos riscos, tem pedido proteção do Estado e não pode, por isso, condenar o dirigismo que ela mesma Definida como a ação do
, en tão poder-sc-á ter por certo o êxito do dirigismo, principalmente nos setores da Estado no sentido de organizar a eco-
I
lU l)lr.K*>'IU l’À l*
ras; SC as finalidades dos planos forem claramcnto determinadas; se o Estado obtiver os meios necessários à realização dos programas mínimos; se, ao mesmo tempo, os organismos executores forem dotados de aparelhamcntò e pessoal efi cientes e burocratizados ao mínimo ■ _I
r<.on6mÍc.t onde a iniciativa ativid.idr
prívad.i M- mostro omissa ou insuficiente, podi* omdi-nar n.t ownomia o m.m «ISO tl.is faeuldatlos
41 O íjin* se <Iiriiíi(l.i o pn'>prias ilo
PNt.uhi.’*
A t sfoiM do aç.ão do Estado no eanqx» rcmiónuoo oomproondo as seguintes .«tialvaguardar o interesse da (j«ial determina sejam cmisiderados
v'idados: 1 sa cülefl\id.ule. ra/fio p« la (jUC e<ltOS s«T\'1ÇOS
dc utiliilade p«il)Iica: 2. imix'dir. no da produção, que a livre emdescn\«)lva num .sentido antínapiilibrar. no campo da disfribniçãt). a posição entre os dotados dc ● os qm* apresentam menor força di/er. proteção aos de ●1. fortalecer a em-
campo présa se cional; 3. (●( maior t econômica. qiuT menor rcmlimiaito;
presa prixada. dentro do seu campo de açao.
A delegação uruguaia, por fim, chea duas eonelusões as quais, segunmcTceer o maior
O Estado e a livre em-

gou do julgamos, devem, acatamento; I ● (< eoexistirem, asseguram a mo- presa, ao Uior liannonia e equilíbrio ele fôrças Istí) conduzirá a um afrou- eeonômicas.
xamento dos eonlrôlcs do Estado, pois não .SC pode esperar sua total e imediata abolição”.
2. “A coordenação do uni dades nacionais dc\'c fundar-.sc no vigor dc cada economia, considerada em seus fatôres bumanos c materiais, bem como na técnica oconómicos dc produção e de comércio. A Colômbia e o Brasil, em infonnes à Secretaria cio Conselho Interamericano dc Comercio e Produção, tiveram opor tunidade de descrever objetivamente quais os aspectos da economia dirigida seus respectivos países e imparcial mente indicaram que esta interferência do Estado em certos setore.s foi benéfica e até mesmo necessária, principalmente no campo da produção. No que se re-
aplicada em seus processos tt cm
frrr à distribuição dc bons c do soni(.●os. diidn a maior delicadez;i do mccados nuTcados. òste dirigisnio foi anlos nocivo quo benéfico. rrconu'nda<,'õos finais, ombora nenhum lios dois países aprosontasso estudos poruuaiorizados sòbro a intorxenção econósiderandos e rcco-
msnu)
Em suas miea
nu'1 juan
«'Xpiiseram eon idações quo aeoinpanliam de perto o ivnsamento consubstanciado nas propos tas urugnaias, isto é, o Estado não podo deve afastar-se dos empreondimen-
tos econômicos quando ficar rcconhcciinsuficiencia da ini- da a omissão o\i a cialiva privada o. além disso, deve sem pre velar pelo principio do justiça plano econômico, pelo amparo ãs inieiati\as. pelo respeito ãs normas jurídi cas capazes de proporcionar sadias nor mas do coux ivcncia c atividade. A Co lômbia chegou mesmo a concluir: 1. que a ('conomia dirigida foi imposta ao seu pais de\ido a obstáculos que a omprêsa privada não linha podido
no remoN^er;
2. (pie o dirigismo, cm muitos casos, vi'm atuando como estimulante da eco nomia privada, sendo condenáveis ape nas os seus excessos, ao limitar o Estado, sem necessidade, o li\Te empreendimen to, fato éste que, no entanto, pode e tem sido corrigido pelo governo colom biano.
Tais estudos e informações, cuja sínte se acabamos dc apresentar, faziam supor que os debates a serem travados no dia ^ 17 de novembro p.p. em Lima trariam novas luzes para a solução do magno problema da América Latina contra o subdesenvolvimento. Os resul tados seriam ainda mais significativos ao se considerar que as discussões seriam travadas entre homens de negócios, com inteira abstenção e sem nenhuma res ponsabilidade dos governos dos países a qiie pertenciam. O painel, entretanto.
a luta
145 !●*< ONÒMK »» DiGtMO
não funcionou. Circtilou o boato que a Argentina protestara por não estar re presentada nas discussões ficadas, a serem venprineipaímente levando
-sc cm conta fjiie a Diretoria Executiva do Con selho recebe ra com grande antecipação o seu estudo, fato nnt. i 1 1 > SC dera com norte-americana, cuja conn niiçao oi apresentada por ocasião da abertura dos traball.os da Conferência, flouve rumores de q
to dos congressistas, representante da DelL^nç.âo Hrasilcira na mesa redonda. Dr. Brasilio Machado Neto. laincnloii semelhante decisão, afir mando íjvie f) Conselho, afastava da realidade
«joe se o V (jpiin
ohstáculos à livre discuss.m de idéias, ia para o seu d(;serédito; os defensores da lilx rdadc de dimenlo

a a incsma sur giría mais limpicla, i\ lu/. das discussões travadas, ou então, o Conselho rá para defender circunstancias, olhos
cxislic, nestas seria abrir para os fatos e redefinir
uma utopia melhor os as atitudc*s.
contribuind(j ou .í empreon«slavnm e concorrência com nesse caso, verdade o, ue a delegação norte-amcncana, temerosa de uma derroa evi o ao número de países que acei tavam a intervenção como mn fato c alguns mesmos que a defendiam como necessaria, conseguiu impedir a rcalizaçao da mesa redonda. Pondo de lado
^is insinuações, é certo que a Comissão xecu iva do Conselho Interamericano de Comércio e Produção percebeu gravidade do problema o se deu conta que os estatutos da instituição deveríam ser revistos, caso liouvesse maioria favo rável a defesa da intervenção do Estado; por isso preferiu fecliar os ollios e i pedir a livre manifestação do
a - - impensamen-
Ao concluirmos éste remos salientar um f retrospecto, ‘‘gudamento queato, ● sentido por todos Conferência: ÜS qnc partici,wr.^m cia Os Estados
Unidos, na populasirva do c simpatia. Que isto naçao amiga pa , posição política mica dentro do continente
América Latina, vêm perdendo ridade advertência à
I i
CT h' 146 Dicesto Econónocò
ha
Cmn muita razão o na inctiula em i
redefina a .sua ra quo u econóamcricano.
Cândido Motta Fujio 'j
0 nervo da sociedade shakespeareana j
OS cscritorc.s marxistas puseram pola unilateralidade seus pontos de vista, o aspecto social das obras literárias. Plckhanov fêz vários c importantes estú dios. Porem, isso que os marxistas Puseram cm rclêvo já era preocupa ção comi»m na do mundo moderno.
rclêvo. cm concepção cultural Não escapa nos sociólogos, como nao escapa aos não escapa ao políti co, até mesmo aos economistas, ao envolver o
política, social ou histórica, forne-'M cc uma documentação sobre o es- ^ pírito das épocas. Ainda agora, o V velho crítico italiano Borgese vai 9 buscar em Ésquilo o dualismo oriente e ocidente — para traduzir m o seu pensamento sobre o antagonismo entre a Rússia e os Estados Unidos.
juristas, como O íTiundo do espirito, mundo da natureza, é tocado por cia o faz surgir uma visão mais am pla das coisas, àquela "anarquia de convicções”, a que se referia Dilthey.
que se sobrepõe
Com efeito, em “Os persas”, de "g Ésquilo, diante dos olhos da rainha ^ Atosa, filha de Ciro, viúva de Câmbises, esposa de Dario e mãe de Xer- ^ xes, "toda a Ásia, empunhando espada, marcha dócil à ordem do te mido rei”, para deòtruir o mundo ,"?aj livre dos helenos. -9

Êste grande mestre da razão his tórica encontrara vantagens meto dológicas insuperáveis no exame das vidas c das obras dos grandes poe tas, porque nêles há a intuição glo bal das verdades fundamentais.
Outros que seguem caminho di ferente chegam às mesmas concluRoger Picai'd, em nossos dias, soes.
estuda o pensamento social dos es critores românticos de França e lembra Baudelaire, no prefácio es crito em 1852, para as "Chansons”, de Pierre Dupont, sustentando que a arte é inseparável da utilidade e atacando a superstição da forma, que chega a fazer desaparecer a no ção do verdadeiro e do justo.
A arte vale, como expressão, co mo maneira de dizer as coisas e por f isso. mesmo que não tenha inten.cionalidade, mesmo que não seja
Porém, todo o teatro grego é, an- ^ tes de tudo, teatro, isto é, palco de emoção comum do povo. Basta terse, em conta o final dessa tragédia, quando a vida se torna uma orquestrada exclamação teatral. O que 'M se percebe, pela eloquência dêsse íi- ^ nal, é o desejo de traduzir um estado de espírito nas linhas de um aparato sinfônico. Xerxes, embria- ^ gado, quer transformar as lamentações num hino. E, para isso, não há que baste. É preciso que se transformem os gemidos da derrota êj^ito. “É preciso gemer com mais fôrça”, diz Xerxes na sua exaltação. çS Mas, nessa teatralidade há uma concepção do mundo, uma expres- ■ S sao das emoções que a vida não po-
^ de ocultar.
Shakespeare, seguindo suas gran- j des linhas, conseguiu, entretanto, ao ^ transformá-las em movimentos bar-
.'.<r
i»
.
■■[Ú 0
. -..v-
i
rocos, traduzir as grandes preocupa ções do despertar do mundo modcr-
no As gargalhatém
r , ao mc.smo tem po uma amplitude homérica c rabelaisiana. devem As dúvidas de Hamlet ser tao expressivas quanto
. O seu teatro é um modo genial de ver a vida viver, das de Fal.staf
i as convicções de Antígone.
Por isso Shakespeare é o mundo
r k no palco. E, nesse mundo, tudo o que é humano está presente, principalmente aquilo que se refere aos fundamentais conflitos do Renasei mento. 1Em t
suas tragédias ouvem-se os
I
●
primeiros pas sos da dúvi da e os pri meiros rumo res da crítica, ao lado das novas es peranças as últimas resistências no desenlace do feudalismo.

10 da triste ligura e como o fidalgo pobre, êlo aparece como uma conse quência da niplura da concepção da vida medieval. O fidalgo pobre 6 o fruto da desintegração do uma cultura, que Cervantcs da Espanha barroca, que não conhecera tensões nooclássicas do as preRennsci-
II a "sansc como mistóQUe os es
fomeados voltam.
Mesmo a de vastação mana nada pela
^0 século te XIV, foi interpretada como tigo de Deus, porque cada seu lugar no mundo e éste com peso e medida. Os p
tim casser tem ô feito ensadoe artistas da estirpe de Shakespeare adiantam-se porém mens cie seu tempo para
para compor a que só adquire sentido
Plekhanov, nos seus estudos das obras literárias, só percebe os fun damentos econômicos, kespeare, entretanto, , um dado necessário sociedade, diante da razão moral e política do homem.
Nas suas comédias e tragédias, os dados econômicos se mostram acentuar, — quando a economia meça a passar para a linha de fren‘ te, na vida social, — que nem tudo é economia.
ves «los hoprocurar emoção nos problemas, como antes procuravam no mistério. Muníord tem razão ao dizer que a gente dieval “lembrava-se demais do menos”.
para co-
No feudalismo não havia real mente o problema econômico. O que havia era um problema religioso. A pobreza não constituía uma preo cupação porque ela resultava da própria concepção religiosa.'Quan(lo Quixote aparece como o cavalei-
meG via Shakespeare via muito porém, via o que o vulgo não via na época da rainha Isabel, entre a indiferença da burguesia puritana. E o que viu, em meio das primeiras dúvidas, das primeiras brechas no edifício feudal, foi a absorvente am bição humana, na sua complexida de, ambição que dá o tom patético de suas tragédias e, principalmen te, o cunho de autenticidade. Basta ter-se, diante dos olhos, a ambição de Macbeth, de Wosley, de Júlio Cé-
148 Dk.kmo Ect>S(SMic<>
menlo, podia ver, na Idade Media. A pobreza é um destino. É ta pobreza”. Muito embora cia mostrasse terrível, tomava, diz liuizinga. o brilho de um rií) divino. para Deus
se huocasiopesL.
L'
rf' i'
Para Sha-
a economia e
snr ou de Ricardo III. para avalia1q. Essa ambição está em tôrno do Poder, dn Rlória e do dinheiro ou ainda iios jntriíianlcs shakosexploradores Ostá Penreanos. isto ó, nos da fraqueza das ambições.
Através dessa impulsos primordiais. atmosfera v>ropicia aquela aos que porém mais revela a nova con dição social ó o dinheiro. Na ópoShakesneare rcalmente a econômica está em Surge, como diz Von Alar-
lura medieval custa a compreendei essa nova concepção, que a sua li berdade está na sua iniciativa, no poder transformado em dinheiro, no dinheiro transformado eni podei. Em “Romeu e Julieta”, frei Lourencela, medita sòbre os ço. em sua

mistérios da terra, mãe de todos os sères e que tudo produz como utili dade. enquanto Romeu vai procurar do mercador. E ao pagáNão é tua vono veneno lo
“O laço que une om o seus
ca de transformação marcha, tin. “uma burguesia que sc apóia na força do dinheiro", os homens, escreve Brentano. é pago dinheiro contado." Aquilo que velho rei Lear representa, quan do, em sua decrepitude se despe de bens para se tornar um pobre louco, Timão de Atenas representa também, mas de outro modo. como 'expressão da generosidade explora da do homem abastado, que sc transmuda num misantropo.
. tem esta frase: tade que eu pago. mas tua miséria. Assim, a todo instante encontra mos, na obra de Shakespeare, o di nheiro e a ganância, como persona gens de seu teatro. Elas surgem na de uma épocà de incompreensão trânsito cultural e podemos niostrála principalmente em duas obras: "O mercador de Veneza” e lano". No primeiro encontramos o problema econômico sugerindo um dos aspectos mais cruéis da alma luimana. No segundo, o problema econômico, pondo em prova a argú cia política.
Coriohomem libertar-se das exi- Para o gências e das subordinações medie vais é necessário o poder econômimelhor, o poder do dinheiro. CO, ou
O mais surgiría como consequência. Como diz o sombrio Hamlet: After “To this effect, Sir, what flourish your nature will.”
(i
Logo no primeiro ato da comédia Measure for measure", um dos perprocura revelar a nova da humanidade que o Os grandes gênios
sonagens concepção cerca, dizendo:foram criados para efetuar grandes A Natureza é uma divinda- coisas,
de econômica: quando oferece uma partícula qualquer de seus atribu tos, quer obter proveitos."
O homem assim prèso pela estru-
“O mercador de' Veneza”, que Ihering marcou como um documen to indispensável para o estudo da relação entre a moral e o direito, é justamente a expressão dêsse anta gonismo entre a mentalidade de ne gócios, assegurada pela concepção contratual do direito, e a mentalida de medieval, anticomercial, assegu rada por um sistema de privilégios e polo direito natural.
co-
que
149 Economico ÜICE&TÜ
O judeu aparece com esse espíri to de negócio, ardiloso, melífluo e desumano. Nêle está o comporta mento que o “Marido parisiense", por volta de 1393, já veiculava mo recomendado pelo demônio: diabo recomenda ao avarento O
f cuide bem do que é empreste sem lucros.
y
O judeu medieval,
, . . . perseguido e aviltado, emissário da peste e da fome, proscrito adorador do bezer ro de ouro, surgia, para Shakesjjca
seu e que não rante a Ju.stiçn. dos moRistraclns, confirma a sua cxifiéncin: ‘‘Náo
Diíinte do Dux e ocultei à Vossa Graça
Jurei
re,
como um egresso do gueto fa lando alto, porque já conta com o amparo das leis da República ve neziana.
A situação de fato judeu, marcado desprezo, sente, daí
era outra. O e perseguido pelo por diante, que seus perseguidores dependem dêle O dinheiro teria seus pecados
também suas virtudes. ducaao res-
, mas Êle era o meio de se obrigar o reconhecimen to de certos valores. Quando Antô nio pede a Shylock três mil este
quais os minhas intenções, pelo santo do dia do sábado que exigiria o que mo ora devido pela pena estipulada no convênio, gais, desgraçadas sejam vos.sa cons tituição c República!
Se mo ncas liberdades da vossa I'
E acrescenta, libra de carne
, me perten ce; comproi-n a bonL preço
om seguida: “E.sta que poço
c a que- ro. caiam os oproOs decrca nao terão, força algu
Se ma negais,' brios sobre vossas leis!
tos do Senado de Venez daqui por diante, Esporo que me façam
^ , justiça.”
acentua: it posito de meu dinheiro e do uso que dele faço. ^ Agora, pelo que posso ser útil e vindes buscardizendo: Shylock,
Fre, a pro-
vejo, mo, queremos dinheiro!”
mas, parece: quero dizer
, , garantia. Mas ela deve ser de tal ordem poderá garantir uma vingança pleta contra o cristão saído das tranhas do medievalismo.
Em torno d e um interesso ciai nasce uma .situação d Os heróis não porem mercadores gados e juizes, so dü interesses
sao e as leis
príncipes
G judeu.s, A atmosfer
ma. coincrramática. e reis, advoonclicsu
dos por empréstimo, ponder ao pedido, quentemente me deformastes rgem para regulá-los.
Shylock, é
qu en O lucro para
e com-, um uom do céu, Porém, a le-
Em “Coriolano” a situação 6 nn lilica. Por isso, Shakespoaro esc^ lhe o ciclo romano, porque Rom'i foi o gênio do poder e do direito A legendária figura de Caio Már cio serve de pretexto para um dra ma empolgante. Nêle não é o mer cador que fala. Náo é o judeu que protesta, mas a plebe, numa das “secessiones plebis in montem Sacrum”.
quando é legítimo, gitinaidade é um acôrdo de vonta des, um compromisso entre as parPor
Ao encontro dos amotinados par te Menênio Agripa, figura patrícia e amiga de Coriolano. Êste era um homem acostumado a dar ordens, a se fazer obedecido
e Menênio
Agripa é o intelectual capaz de com por os antagonismos, que narra aoS sublevados a fábula dos membros sublevados contra o estômago. Con-
isso, tendo Antônio dado em garan tia a própria carne e tendo faltado à mesma, quer Shylock cobrá-la pef;:"V Já
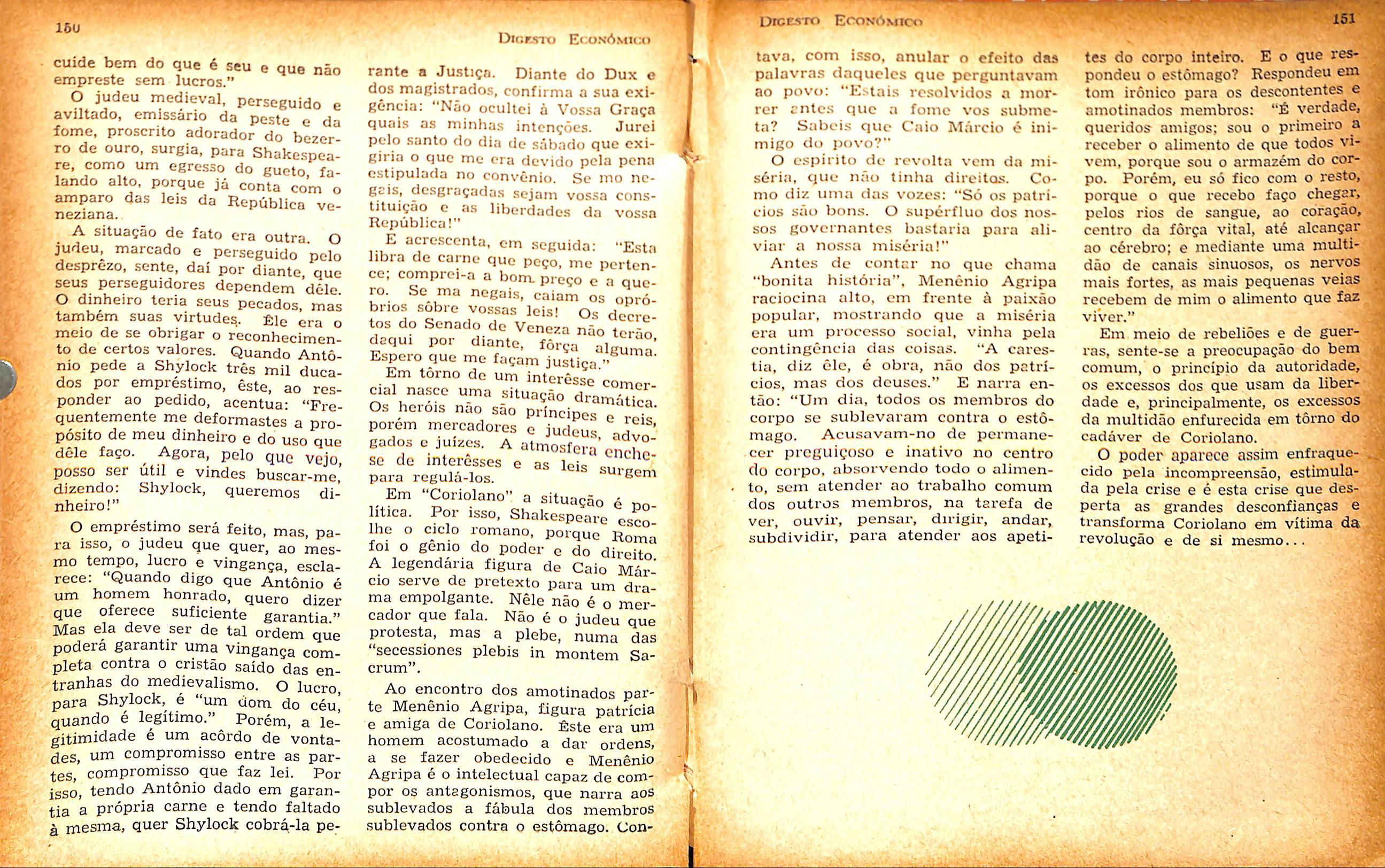
15U Dtf;r.‘ntj E<oNrtMic<»
X-'
t»
J
r
H
O empréstimo será feito, ra isso, o judeu que quer, ao mes mo tempo, lucro e vingança, escla“Quando digo que Antônio é um homem honrado, que oferece suficiente W I'" - i
compromisso que faz lei. tes
tava, com isso, anular o efeito das palavras daqueles que perguntavam ao povo: *‘K>tais resolvidos n morrcr ^ntes que a fome vos subme ta? Sabeis que Caio IVIárcio ó ini migo do j)o\‘o?”
O espirito de revi>lta vem da mi séria, que nfu) tinha direitas. Co mo diz uma das vozes: “Só os patrí cios são bons. Ü supérfluo dos nos sos governantes bastaria para ali viar a nossa miséria!'*
Antes de conter no que chama “bonita história”, Menènio Agripa raciocina alto, em frente à paixão popular, mostrando que a miséria era um processo social, vinha peln contingência das coisas. “A carestia, diz êlc, é obra, não cios patrí cios, mas dos deuses.” E narra en tão: “Um dia, todos os membros do
corpo se sublevaram contra o estôAcusavam-no de permane- mago. ccr preguiçoso c inativo no centro do corpo, absorvendo todo o alimcn● to, som atender ao trabalho comum dos outros membros, na tarefa de pensar, dirigir, andar. ver, ouvir, subdividir, para atender aos apeti-
tes do corpo inteiro. E o que res pondeu o estômago? Respondeu em tom irônico para os descontentes e amotinados membros: queridos amigos; sou o primeiro a receber o alimento de que todos vi vem, porque sou o armazém do cor po. Porém, eu só fico com o resto, porque o que recebo faço chegar, pelos rios de sangue, ao coração, centro da fôrça vital, até alcançar ao cérebro; e mediante uma multi dão de canais sinuosos, os nervos mais fortes, as mais pequenas veias recebem de mim o alimento que faz viver.”
É verdade,
Em meio de rebeliões e de guer ras, sente-se a preocupação do bem comum, o princípio da autoridade, os excessos dos que usam da liber dade e, principalmente, os excessos da multidão enfurecida em tôrno do cadáver de Coriolano.
O poder aparece assim enfraque cido pela incompreensão, estimula da pela crise e é esta crise que des perta as grandes desconfianças e transforma Coriolano em vítima da revolução e de si mesmo...
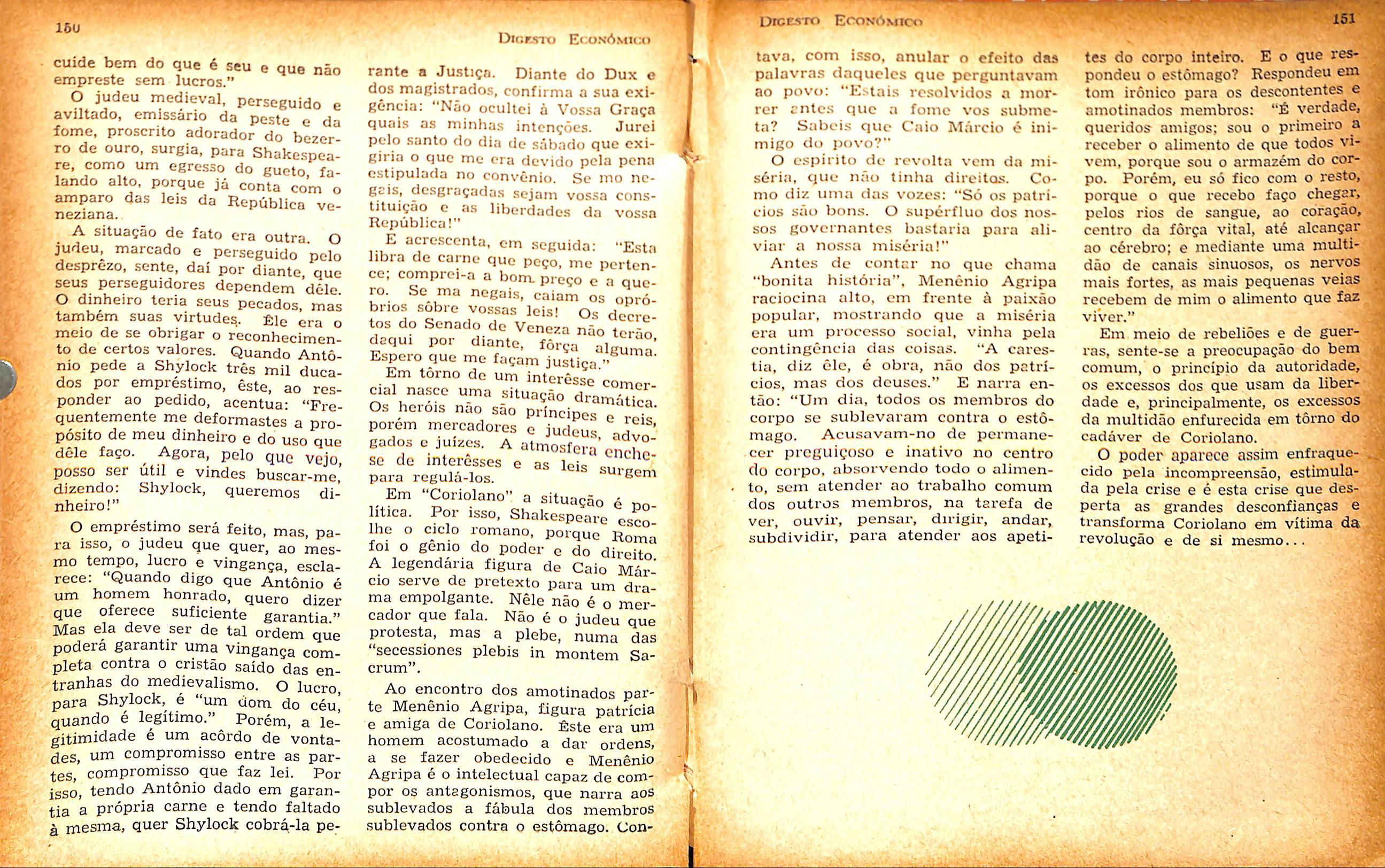
151 UTCC5TO ECOVAmICO
«i
S. PAULO NA CONSTITUINTE DE 1891
 Or i«. l^tAZrnKs
Or i«. l^tAZrnKs
PRUDENTE JOSÉ DE MORAIS E BARROS .'i«io ●■scolhifio |){iia joto cio ri'l;ilor <iu pro-
tn\ iaclo à Càma{)clü Cic>vôrno Provisório V que ra tudo faz crc-r lenha .sido da autoria Francisoci CíHcório.
Foi como relator que êle tüu ao Senadc apresenna vés- o trabalho
■
-t a da primeira constituição republicaEra um homem bem conheci do, pela sua austeridade c energia, pelos seus companheiros de propa ganda republicana na Província de S. Paulo.
na. , pera <la abertura .solene do C so, e.xpiicandc ^%
ongrcsa necessidade da sua aprovaçao provisória para que hou vesse uma certa ordem no começo
O Congresso faria ições que julgasse foi aceito, depois de e traballio apresen-
dos trabalhos, depois a.-; alterj Sabiam Francisco Glicório e Cam pos Sales que Prudente de Morais era o homem para o delicado cargo convenientes, ligeiro debate, tadü. ou que os seus predicados serviam bem à natureza da missão que teria de desempenhar. Os seus companheiros de comis são do Regimento, por êle presidi da como relator, _srs. Eliscu de SouMartins, Joao Pedro Berfort Vieira, Dionísio Manhães Barreto Jose Avelino Gurgel do Amaral e Gabriel de Paula Almeida Maga lhães, aceitaram
A prova de que acertaram está no fato, bem significativo, de Prudente, terminada a elaboração da primeira carta republicana bra sileira, foi o escolhido candidato à Presidência da Repú blica, em oposição a Deodoro, ten do perdido a eleição por ro de votos bem diminuto, considerar o momento político que se realizou o memorável pleito.
S. Paulo tinha por principal preo cupação fazer com que a lei básica da República fôsse decretada í j. V-
ft r* -
que para ser o um numese se em quan
to antes, evitando-se que o Con gresso demorasse no cumprimento de sua importante missão, cuidando de outros assuntos.
era um
za o parecer
marcar o
Por êsse motivo, o Regimento conteve, cautelosamente, fechando a série de seus dispositivos, um arti go declarando “que a eleição do Pre sidente e do Vice-Presidente da Re pública seria feita segundo o modo
í-
►
f
|■t“Rlmonto
Prudente de Morais foi Ihido para ser o Presidente <la Aj sembléia
o <;seo V Constituinte incumbid l
Muitos membros da Constituinte, dando a esta uma soberania ilimi tada, queriam que fôsse desde logo eleito o Presidente da República e um pleito dessa ordem prejudicaria de muito, já se vê, a imprescindível atmosfera que deveria ambiente de uma assembléia desti nada a estudar e a votar a lei prin cipal do país. 5»
Prudente de Morais não brilhante cultor de direito e nem se revelou um perfeito conhecedor de direito parlamentar, apesai’ de ter
fós.se adotado pela constitui* que vão.
A questão ficou adiada, portanto, para o momento ))rôi)rio.
Nem jjor isso, porém, mais tarde, decisão foi Inmada de modo claro a <● calmo.
(c a opigrafe do documento) íeita por cícrilo e publicada na ata de 5 j do fevereiro de 1891, Ei-la:
No momento da votacao sòbre s<.' eleição presidencial deveria direta, pelo sufrágio popular, ou in direta. ct>mo nos Estados Unidos da América do Norte, dúvidas foram levantadas. Pediu-so a contagem (* feita pela Mesa, acusou 88 vo-
ser a esta,
tos pela eleição direta o 83 contra. Duvidaram cia contagem c Barros, congressista, irmão o sr. Morais do Presidente, pediu outra votaçao. certamente iDclo métodc' que seria nominal.
Prudente de Morais ia atender à reclamação quando Cc.sar Zama, o agitado representante da Bahia, opôs, declarando que a con tagem estava exata e convi dou os partidários da eleidiieta para se retirarem, dando número para as A retirada foi ini-
sc çao não votações,
ciada.
Sentiu Prudente de .Morais nova contagem podería pre- que a judicar, de muito, pelas consequentivesse, os trabalhos do cias que
Congimsso Constituinte e deu como boa e perfeita a passagem da elei ção direta por 88 votos contra 83. Safou-se dessa forma do escolho que surgia.

Embora Presidente e sem direito de voto, Prudente não deixou de dar a sua opinião no momento em necessário explicar atitudes. que era
Dá bem uma segura amostra des sa afirmativa a declaração de voto
"Se não estivesse presidindo a ^ sessão do Congresso, votaria on- s tem contra a emenda dos si^s. i Lauro Müller e outros, estabele- ' condo o imposto adicional de ,● 15% sobre a importarão em beprimeiro,
ncficio dos Estados:
\ i im-
porque S. Paulo não precisa dês.<e aumento de imposto; segundo, porque determinando a emenda que o produto dos 15% adicio nais arrecadado na alfândega do Rio de Janeiro (Capital Federal) seja repartido entre os Estados ’ do Rio de Janeiro, Minas Gerais \ o Goiás, dará em resultado que S. Paulo contribuirá com o im- j pòsto c 0 Tesouro dêsse Estado i não receberá dois terços do seu produto, correspondente à portação que para aquêle j Estado é feita por intermédio da alfândega desta Ca-
pitai, visto que só um têr- J ço da sua importação é fei- 'ii to diretamente pelo pôrto de .1 Santos. 'J
Votaria igualmente con--
tra a emenda do Sr. Batista da ’ Mota e outros, que suprime a ü" berdade de cabotagem, o que re- ] presenta uma conquista liberal j feita há cêrea de trinta anos.”
A declaração deixa a desejar quanto à redação,, mas mostra bem que Prudente de Morais não ficou ^ atrás da Presidência do Congi*esso, bom abrigo para esconder votos ou maneira de votar.
E’ um traço que completa a figura do grande filho de Itu, embora
l>u;r>n’
Económici>
1
18
J
^ TI
j|
●- t.ACil
ià bem e tão hon : nhada na história pátria. rosam
O grande < !' renovador da V guardou no
ente desetanlo, senão scRuir o deliberado la bancada.
Nem por i
E PAULA - alves
pcfrancisco RODRIGUES O .^^so estão ausentes dos Anais das Consíiluinios traros íirme.s da .suí lhe íóra publicano.
e o grande Capital da Rcpúbli tr, te uma atitude
Conta Ar^♦* que discreta. f
í
í pes.soa no mandato cjuc outojRadü por s. Paulo reencontj-ar pela
^ COS, que tão b^ ‘‘“balhos biográfi- ^ ° bem esclarecem c fi- xam
'■
- valho , °
■. 11. * Personalidades, ' desempenhado
■ CO de Paula Rodríe
^ cola de Direito í reihado
'
emp
fa"ihdar‘? c"íura e
ílavia porém, um duplo motivo r ^5^ >?
Rodrigues Alves > nao fora um republicano histórico, í. Era um adesista. Muito embora c dfs"hiJ?- absoluta confiança t
gode S. Paulo, que bem t ra?s grandes dotes mof n5 f '^‘electuais, éle sentiu que t' CoLrrf'“ vistosa no , Congresso, porque podería ser tido Á,; como suspe.to pelos que desconheCiam o seu belo caráter.
, Por outro lado, í lientado em como temos sa-
Rodrigues Alves não podia, pori' i!
1J^opois ripor FrancisUGs Alves na Esde S. Paulo, com Rui Barbosa, -/ o estudos jurídicos r
cs. assinan« ^^rclino de ic sorteio militar, que subscrever emenda cio Sr. Morais e Bnv. terminando que a constituição fu' gissc a sançao presidencial o promulgada pela Mesa. ’
, a emenda de Ber Campos sòb Fui dos
Não se sabe se o intuito emenda, que se tornou depois xe brasileira, foi devido não haver
do am a dessa prafato de F no momento
resiregularmente ^esejo a inter¬ e o e,
dente da República investido no foi o de afast cargo ou s ar, sempr vençao do Poder Executivo na do cretaçao da lei magna, como se pas sou a praticar posteriormente ' ’ país. no
Rodripes Alves apôs a sua assi natura à declaração de voto contraà emenda que incompatibilizou os Governadores dos Estados para a eleição a ôsse cargo depois de pro mulgada a constituição federal
na
Entendia êle, como entendiam muitos Congressistas, que tal in compatibilidade deveria ser estabe lecida nas constituições estaduais e não na federal.
Realmente, a proibição apareceu mais em virtude de considerações

: 164 OlCí.^TO lv‘ONOMICO i,
r i
Vamos %
ca Constituin-
o papel b
, r. r. primeira o seu nome firmando a dccl■açao de voto da Inmcada paul sla contra a emenda, tnanho.sa t ■ s ‘c como cp.sodio, equiparando o ‘ ubs.dio dos Deputados ao percebido pelos Senador- " i^^-itcbido
aquer em quer assuntos vain " í““a-
+ 1 ^2is de uma ocasião nestes despretensiosos e ligeiros estudos, a bancada paulista interviera o menos possível, com a finalip' dade de conseguir, o mais depressa possível, 0 término da constituição, pois que o país tinha necessidade de, quanto antes, entrar na normaíf lidade, afastando o provisório. . .
Políticas cstíuluais do que de ordem constitucional. Mais calma houves se na solução <io rnento qu(?
COS União.. .
as.simto o certasoria aceito o principio de a limitação de direitos politJdevi* estar traçada na lei da a
t^irmancio outras tunendas. Rodri gues Alvos opinou no sentido dc caber aos Estadcís a correspondên cia postal e Iclcgrãfica; de afastar intervenção federal nas policias estaduais; de tornar eleitores e olcgíveis nas eleições municipais os ^ estrangeiros, de acordo com a legisiação que cada Estado decretaria; que a União sòmcnle pudesse mo bilizar as milícias cívicas dos Esta dos o não as forças policiais.
Finalmcnte, votou contra a emen da Epitácio Pessoa, que exigia ato expresso ou dcclaratório dos es trangeiros para serem considerados nacionais.
JOÃO ÁLVARES RUBIÀO JÚNIOR
O representante paulista João Alvares Rubião Júnior foi um dos que mais de perto cumpriram o resolvido pela bancada de evitar o mais possível qual quer debate, para que fôsse votada quanto antes a cons tituição. Um único aparte que pronunciou durante os debates foi assinalado como não tendo sido ouvido pelos taquígrafos.
Deu, porém, a sua assinatura a diversas emendas, com o que reve lou o seu pensamento em matéria constitucional.
Rubião Júnior tinha, entretanto, valiosos dotes políticos, conforme depois demonstrou, bem merecendo
o aprôço de que gozou em S. Pau lo. um verdadeiro paredro, têrmo Coelho Neto para desig- que usou
chefes políticos de importância.
A primeira emenda assinada pelo representante de que nos estamos ocupando nas presentes linhas foi a do Bernardino de Campos, estabe lecendo o modo por que deveríam ser nomeados os membros do Poder Judiciário em seguida à constitucionalização do pais.

Em seguida, apoiou a emenda do Sr. Morais e Barros determinando que a constituição fosse promulga da pelo Congi*esso. Foi dos que acharam, assinando uma emenda do Sr. Adolfo Gordo, que o direito substantivo deveria ficar, como nos Estados Unidos da América do Nor-
nar te, com os Estados. A União deve ria legislar tão somente sôbre o di reito substantivo que precisasse ser rigorosamente uniforme em todo o pais ou em assuntos ein que a mes ma União fosse a maior interessada.
Acompanhou a bancada no pro
pósito de evitar que os poderes fe derais interviessem ou pudessem
as polícias esta- requisitar duais.
Votou no sentido de que a eleição do Presidente da Re pública (emenda Almeida Nogueira) fôsse feita pelo sis tema indireto, modelo norte-ameri cano, passando ao Congresso Nacio nal a escolha entre os três candida tos mais- votados, caso nenhum obti vesse maioria absoluta na eleição feita pelo colégio especial.
Dissemos acima que o único apar te dado pelo representante paulista sôbre a matéria em debate está as sinalado nos Anais como não tendo
1Ô5 nirrrm rroNóxnro
íiido rotíistrado polo oorpi» taquigráfico.
/Há, porém, uma pergunta de Rubião Júnior que figura nos referi dos Anais. Quando se votava uina emenda í-übre correios e telégrafos, se federais ou estaduais, a contagem deu quase o mesmo número a fa vor e contra.
RODOLFO NOGUEIRA DA ROCHA MIRANDA
Hodr)lfí) Noguru”
Pernambuco, sr. José Mariano, diu verificação, pedido, salientou que éste não sig nificava pouca confiança à Mesa, à qual dava todo o seu aprêço.. .
— Então por que pede nova con tagem? indagou Rubião Júnior.
IVotou contra o adicional de 15% sóbre o imposto de importação favor dos Estados, achando que S. Paulo ficaria prejudicado, confor me a declaração de voto do sr. Pru dente de Morais, transcrita quando tratamos do papel desse respeitado congressista da Constituinte, meço do presente artigo.
Manifestou-se em voto, apondo sua assinatura em documentos par lamentares, a favor da completa li berdade de navegação de cabota gem, ou seja, libertação de trans portes.
O representante de peFazendo, porém, o em no coa
Ainda de acórdo com o procedi mento da bancada paulista, foi tra a emenda do sr. Epitácio Pessoa, que exigia declaração para
estrangeiros pudessem ser conside rados cidadãos brasileiros.
Embora o material seja exíguo para traçar uma personalidade, colhido e exposto acima dá traços nítidos da personalidade de Rubião Júnior, que tão alto e merecido con ceito logrou ná política paulista.
t ‘ia R se pode com tin e quer na alta adm
ocha Mi¬ cra o (JUC ciialura o politicü. vida puliiica repuvalia. quer <}ucr no em São
jaiula. c(»n.'-^tituinli; de !)1, clij.sMfifar <ie alraenU-. JciUjso. teve clepoi.s, na blicana. papel de Congress(j Federal, Paulo
inistração
POKS foi Ministrr> da Agricultura, (onfoime trataremos ineis adiante Não era orador e fácil lhe foi r .cumprir o programa da bí cada paulista, no sentido de i vir o
po tanto, inte monos possível
¬ mrnos debates ípressar a Constituicom o fim de i ção.

Insistindo no seu progranvi i.u ledcralista do dar menores vccuríT a União, o sr. Júlio de Castilho apoiado pela bancada do Rio n ' de do Sul, propôs cm emenda aüõ os impostos novo.s, não incluídos no discriminação constitucional ’ das, cabcriain aos Estado União. A questão ' grossistas, tendo votado constituintes
de ren^ c não à apaixonou os a favor 103 cone contia 123
. , . Caiu, portanto, a proposta Júlio de Castilhos. A bancada de S. Paulo vidiu-se na votação, dia em que esta se procedeu, Rodol fo Miranda mandoú à Mesa, no dia seguinte
diAusente no uma declaraçao de voto
conque os contra a proposta sul-rio-grandense.
Foi dos que opinaram no sentido de ser dado à União unicamente o direito substantivo que tinha, pela sua natureza, de ser federal. Subs creveu declaração de voto contrário à emenda que equiparou o subsídio dos Deputados aos dos Senadores. Acompanhou a bancada de S. Pau-
160 I)ir.KArr> Kí-íinVimu t*
0
lo na votação da.s proposições que vedavxmi ao Govêrno Federal intcrou requisição das polícias Di‘U sua assinatui*n à vençao e.Ntaduais.
emenda firmanclií Bernardino de C'ampos conas mimeaçôes feitas pelo Federal e que dependiam Votou c propôs Cíovêrno de voto <lo Senado, a eleição do Fresidenle da Hefôsse feita de modo indireTrmbêm
que pública to tii)o norte-amerieano. se opôs ao adicional de 1571- sôbro os impostos de importação a favor dos Estados, julgando que isto seria prejudicial a S. Paulo. Foi a favor da liberdade ele navegação dc cabo¬ tagem.

Foi pequena a intervenção oficial dc Rodolfo Miranda na Constituin te, mas, revclando-sc desde logo hábil político, tornou-se um dos Deputados mais pogrande Assem- pulares nn bléia.
Mais tarde. Ministro da verificou que Agricultura,
Departamento do Administra- esse ção, apesar dc o Brasil ser classifi cado de hã muito, como um país essencialmentc agrícola”, não estasendo considerado com o devido
va
apreço.
Muitas das nomeaçoes para os cargos, faltando titulares habilita dos, ou mesmo ligeiramente conhe cedores dos assuntos, como veremos com o episódio com que encerro o presente artigo, eram de causar es panto, senão risos.
Rodolfo Miranda desejou mostrar aos Deputados e Senadores a im portância do Ministério de que era titular. Estava, porém, esse Minis tério, “fora de mão”, instalado na praia Vermelha, em prédio de vas-
tas dimensões c dos mais belos ou mnis clássicos da cidade, ne e a condução fazia-se então, qua se exclusivamente, de bondes.
Era lon-
Lembrou-se, então, Rodolfo Mi randa de realizar duas ou trcs ve zes por semana, ruidosos chás às cinco horas, bem fornecidos por uma confeitaria conceituada. Havia em profusão frios e bolos. Mesmo nos dias em que os chás não tinham a imponência dos dias marcados, o sortimento de bolos era variado. A despesa não tinha um vulto despre zível. mas saía do bòlso dp Minis tro. O resultado íoi bom e os chás de Rodolfo Miranda assumiram, pois o papel de verdadeiro salào político e pôde êle, de tal forma, chamar a atenção da Câmara 0 do Senado para o impoi'tante papel que convinha dar ao Ministério da Agricultura. Os chás foram um valioso
meio de propaganda oficial. Era indispensável tratar o novo Departamento com a serieda de que bem merecia.
Essa seriedade nem sempre era
um fato, como veremos pelo suges tivo episódio que vamos narrar. Moeu então num pequeno prédio da praia de Botafogo, desto escritório, situado no andar térreo, dava para uma área aberta no meio da casa e o meu quarto de dormir tinha janela ma área.
rava
O meu mopara essa mesr Certa manhã acordei ou-
vindo barulho no escritório, poderia Não ser uma das empregadas, pois estas estavam proibidas de pe- ' netrar no aposento, para não me xer nos papéis que eu, à noite, cos tumava deixar arrumados, cada um' no seu lugar. Somente depois do
'n« *r 157 !●'< oNííMiro DiCKSTC»
c<
●-
meu trabalho da manhã poderíam as empregadas fazer a limpeza. Ouvindo
janela de cima:
Quem está aí no escritório?

0 barulho indaguei da voz, que se tratava pouco letrado e não
— Sou eu, primo, Conheci, pela de um parente pude compreender l
. . . -. a sua presença ^ no escritório, abrindo estantes fe chadas de livros. Fóra justamente a abertura de uma dessas estantes, emperrada e causadora do barulho, que me fizera sentir a presença de alguém no balho. meu aposento de tra-
— O que voc6 cslà fazendo ni? um (iicio-
— Estou consultando nário...
— Con.sultando um Para que?
óicionário?
— É que fui nomeado cntomologista do Ministério da Agricultura c estou procurando o termo saber o que isto significa.
Rodolfo Miranda tinha, zão, realizando os
para pois, ra-
praia que 0 era uma
158 nirrsTo Econômico r
r
K
(
1 famosos enas das cinco no edifício da Vermelha, para convencer Ministério da Agricultura cousa séria... |N í ¥, í*i lí CT'1 A
Cia. ele Aiitcméveis
DIÁRIO I DO COMERCIO
Distribuído diariamente a todos os as sociados da Associação Comercial de São Paulo, além de muitos assinantes, conta com numero certo e elevado de leitores, apresentando em suas paginas notas e co mentários sobre assuntos economicos, com pleto noticiário das atividades desenvolvi das pelas entidades que o editam, e dados e informes que interessam de mais perto as ciasses produtoras.

Diariamente divulga a ORIENTAÇAO
LEGAL — secção de que se encarrega o Departamento Legal da Associação Co mercial, e em que são respondidas todas as consultas feitas por associados àquele orgão.
Publica todos os dias, com exclusivida de, a relação de títulos protestados.
.1 Automcvcis c Caminhões Concessionários > ●!
SAO PAULO y» OFICINAS: RUA CLAUDINO PINTO. 5S Telefone:
POSTAL.
— SAO PAULO — Escritório, vendas ● secção d« peças RUA CAP. FAUSTINO LIMA, 105 Telefones: Escritório e vendas .. . 2-8738 SoeçãQ de poças . 2-4564 fi 1 I .T
Alexandre liernstein
2-8740 CA^XA
2840
um veículo de propaganda e in formações para o comercio
_4 J '4
e um repositório p^recioso de informações guardadas sob sigilo absoluto e confiadas exc/usiira e direlamen/e aosin/eressacfo.^
RUA BOA VISTA, 51 ANDAR FONE 3-1112

f f o DEPARTAMENTO \ ●'
Y ■»* í?" i i' ● ( h irt/ü-Se noSSe p-. (● ■4 Ç
i Il i '1 li I i ●iü-





































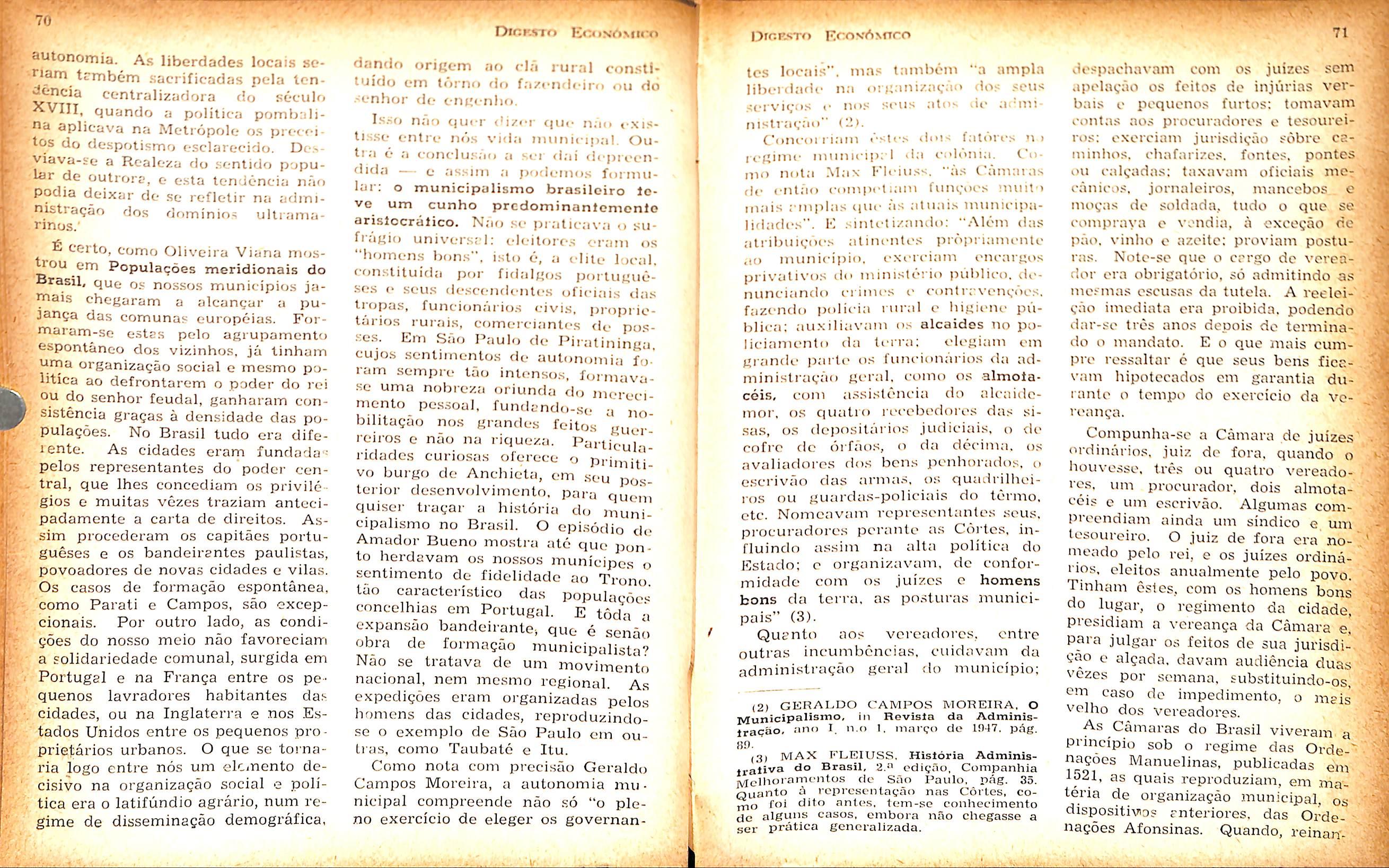






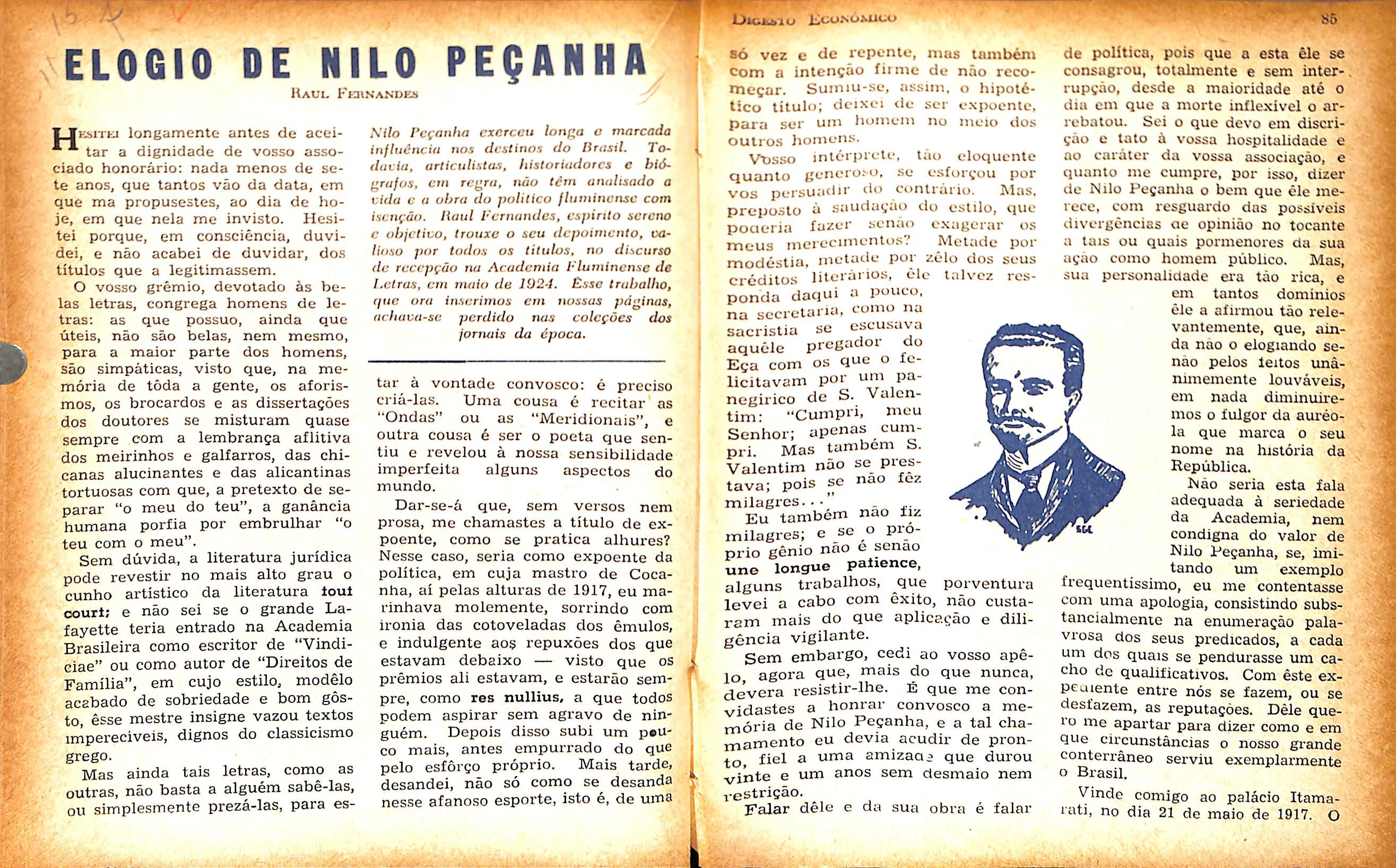 HaUL KmNANDEa
HaUL KmNANDEa



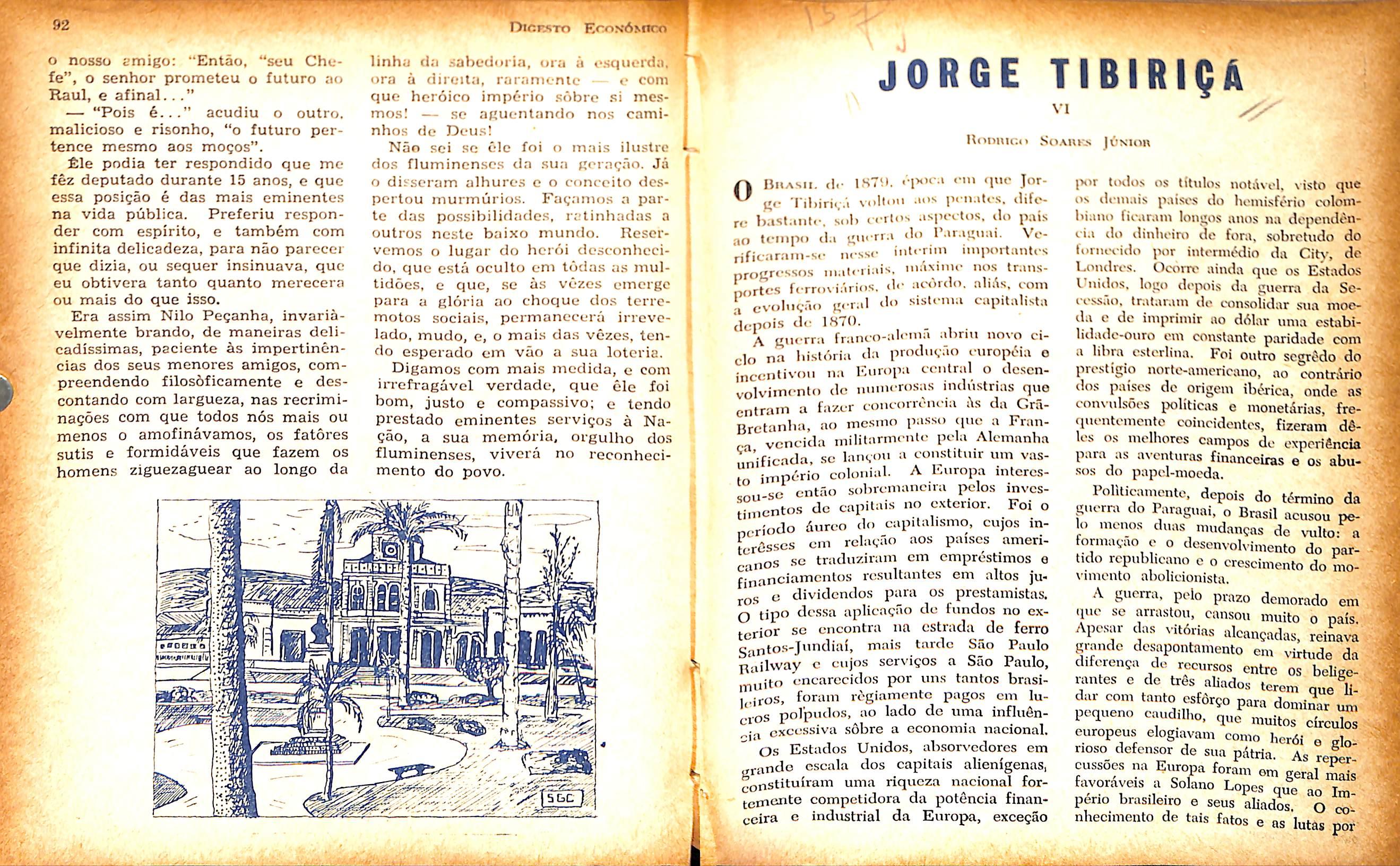





















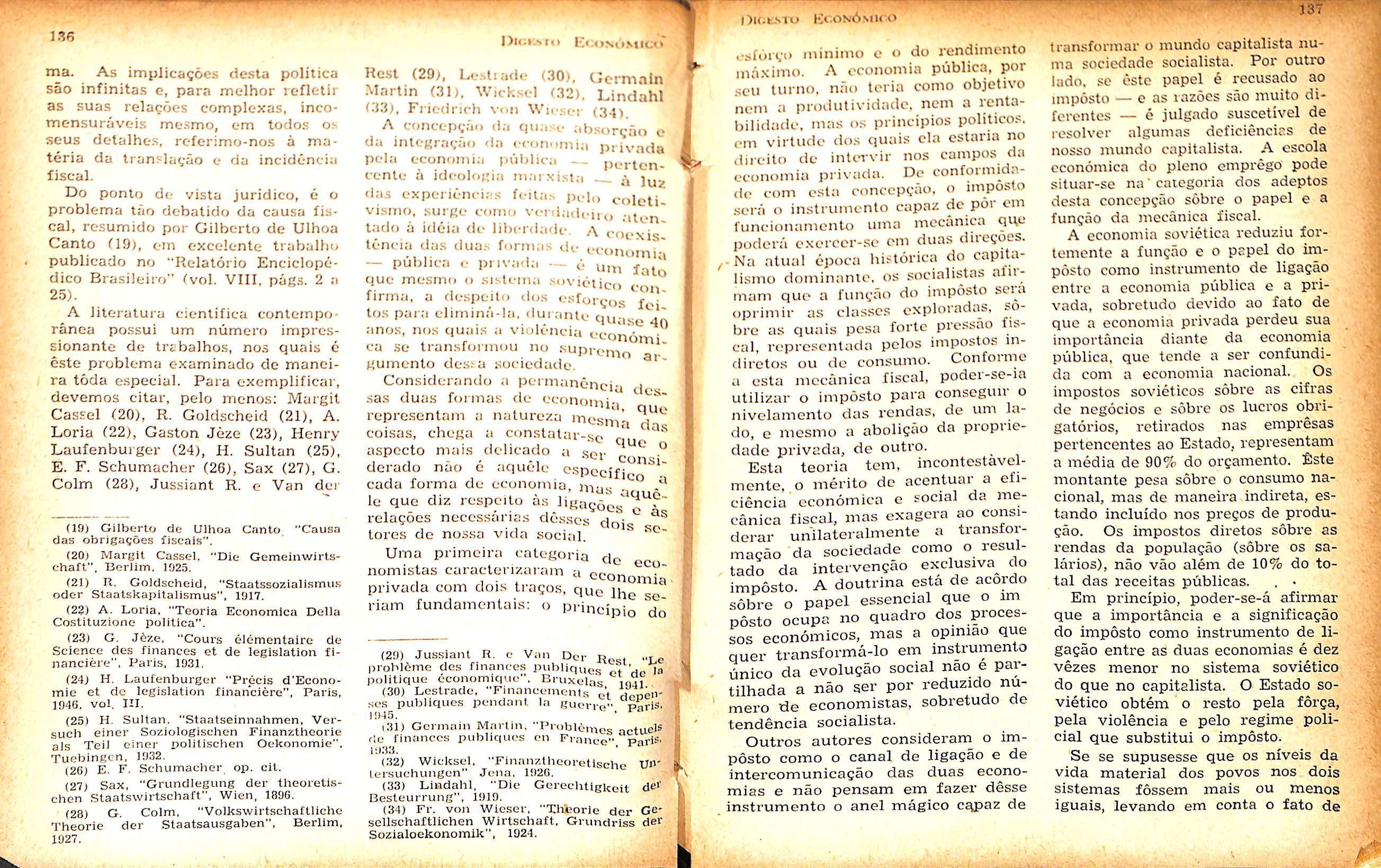






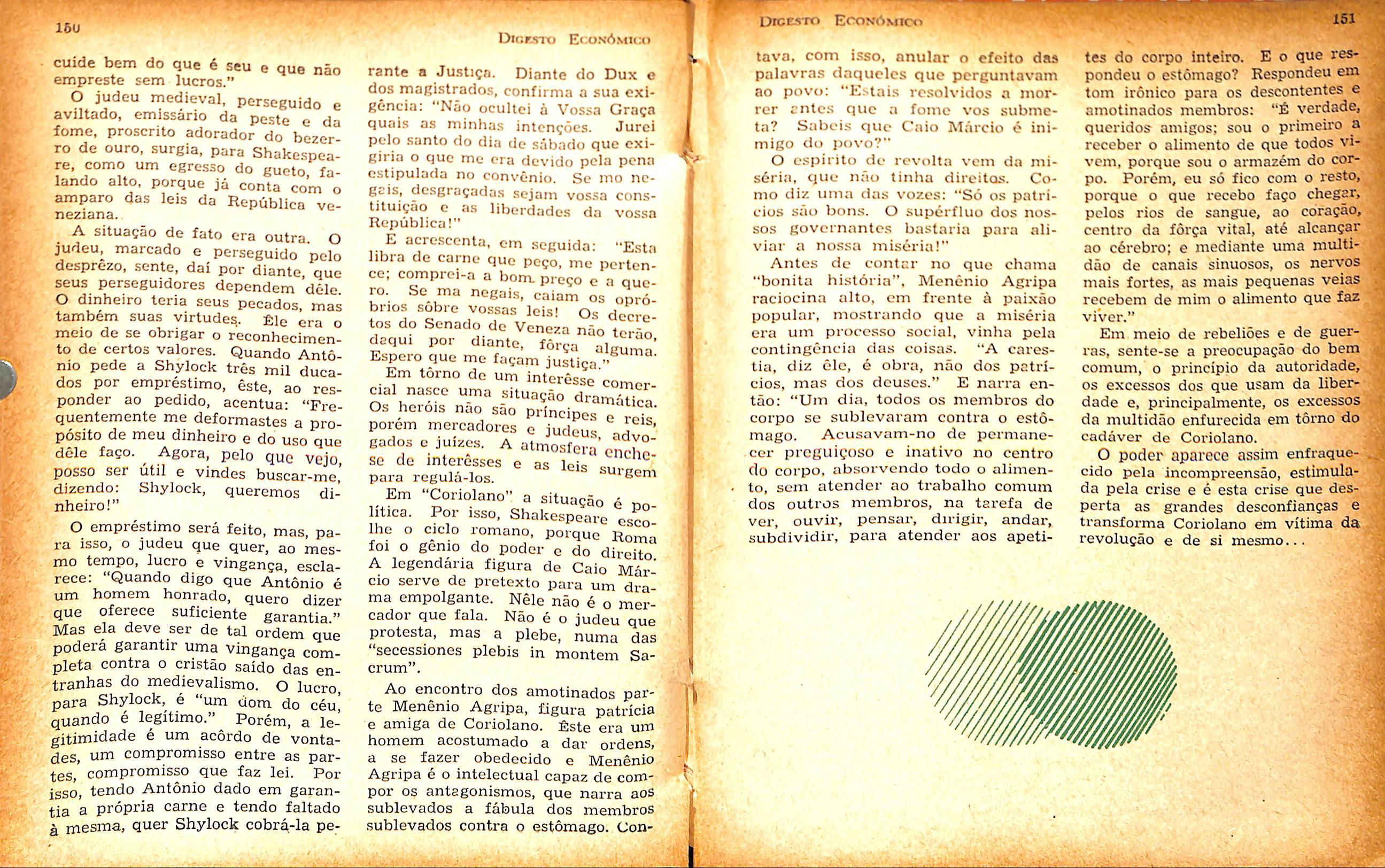
 Or i«. l^tAZrnKs
Or i«. l^tAZrnKs



