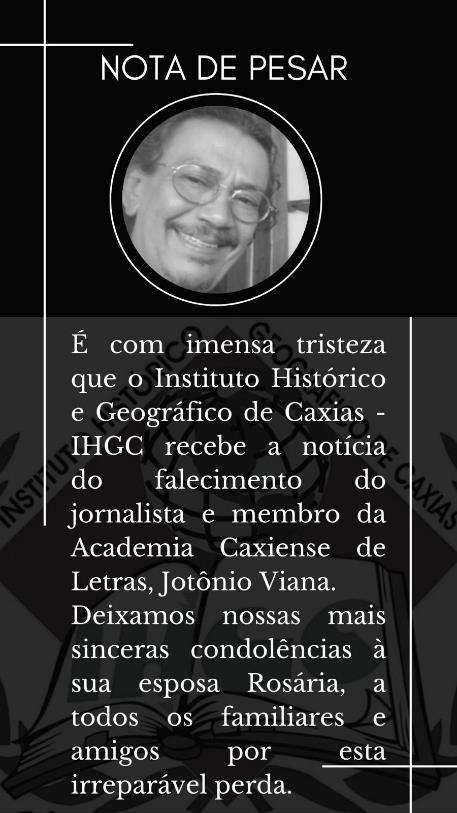2 minute read
A LINGUAGEM DE JOSÉ MARIA NASCIMENTO NO LÉXICO DE RILKE
FERNANDO BRAGA
Gostaria de pedir silêncio a essa estúpida e inconseqüente monja da morte. Gostaria de sentir se esvair de todas as minhas emoções, e dissecada toda a gama de que tenho de sensibilidade, a ter que escrever por outra vez a um amigo morto. Estio de um último verão de flores. Mas o imperceptível, nunca se justifica por não ser domável e a criação se alvoroça e se e se revolta em meio à fogueira do incansável, muito mais perene contra as ameaças das cinzas do que pela própria impetuosidade das labaredas, e se deixa que “a última rosa murche em seu canteiro” para que a necessidade orgânica do tudo que se diz bendita arrebata de surpresa a lança das mãos de quem tem a incorrigível precisão de escrever e com urgência, “não pelo instante que é aquele ambíguo momento em que o tempo e a eternidade se tocam, e esse é um deles, tão cheio de advertências e tão denso de sugestões para os que ficam e buscam interpretá-lo em sua realidade”, mas pelo depois, que é mais cruel e terrível. Digo de um amigo e companheiro morto, sublimado pela realidade das movimentações, pelo humor das charges e pela plasticidade de tudo que lhe fora estético e real. E ele está no mito do que pouco somos, mescla impressionista de virtudes e pecados. E meu amigo Genes Soares está terrivelmente morto, terrivelmente integrado ao nada, resistível somente à consciência que será [num sei até quando] por ter sido bem-aventurado à morte, o que espanta e aflige na sua imobilidade natural, pois diante do terrível está o momento, com a mesma ardência do fogo. Em holocausto ao seu talento, do mesmo tamanho da sua certeza de ser amigo e da sua boêmia, irmã gêmea da minha. Escrevi certa vez que para o passeio da morte todos os dias são domingo. Conta de um verso, dualíssimo e tirano, lembrado por alguém que escreveu a notícia em jornal, no roda-pé do seu último clichê, deixa do entre vinhos e sorrisos para as lágrimas do tempo, imutáveis em diversos rostos enquanto houver prados para o aconchego do choro, dando-me neste planalto distante, onde não há “pipas”, mas céu, a doída noticia de sua morte. Bebi e tomei banho de chuva, fugas reconciliáveis que encontrei para levar-me, por instantes, a seu companheirismo em madrugadas altas e delirantes E que dizer agora, quando pedaços inteiros de palavras que não mais direi são jogados fora do papel por este nó que nos aperta cada vez mais a garganta, neste momento que tenho de tecer o terço triste para quem só tecia cores, a esconder a base fundamental de todas elas, e do preto tétrico e do amarelo palidecente, para não tingir de nada a ilusão dos que precisam do verde como “genes” ou para não contribuir com o desamor maior as amarguras dos que se alimentam da “celesticidade” de seu nome, disfarce óptico em que se jogou de corpo e alma para sua poesia de riscos. E que dizer agora quando este amigo e companheiro rabisca as asas dos anjos e pinta o rosto de Deus? Adeus meu velho e querido Genes Celeste Soares1... *Esta crônica foi escrita em Brasília e lida no programa “A Difusora Opina”, pelo jornalista Bernardo Coelho de Almeida, em São Luis, no ano de 1974.
Advertisement