
15 minute read
O samba reverente de Noel Rosa: o feitiço, a oração e o problema Mayra Pinto
R M
Pastiche Crônicas de Noel Rosa III
Advertisement
O samba reverente de Noel Rosa: o feitiço, a oração e o problema 1
Mayra Pinto
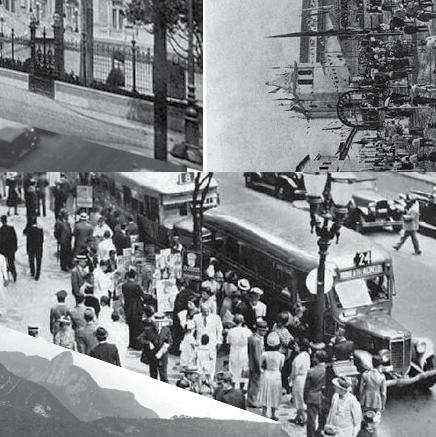
Na década de 30 do século passado, período em que se consolidaram as bases da canção popular urbana, sobretudo as formais, a obra de Noel Rosa foi um paradigma que apontou para diferentes possibilidades discursivas. A filiação ao humorismo – que alia o discurso coloquial a um tipo de humor mais crítico e sofisticado – é, sem dúvida, uma das mais marcantes. Além disso, sua obra tornou-se paradigma de uma visão que imprime um olhar crítico no alegre e descomprometido universo da canção popular − o sambista pobre de Noel fala sobre seu lugar tenso na sociedade; não é só o cantor afável e alegre da festa, ou o clown inofensivo; é também o crítico mordaz que denuncia que o mundo o “condena” exclusivamente porque ele é pobre. A marca de rejeição é exclusivamente por sua condição social precária. O jovem compositor contribuiu, assim, para fundar um modo de dizer na
canção brasileira: o do sambista desprovido de qualquer tipo de poder ou força cujo único trunfo é o amor incondicional à sua arte. Se pelo viés do humor o artista fala disfarçadamente de seu lugar social precário, não há necessidade de disfarce para se declarar em perfeita conjunção com seu lugar artístico: o da produção de sambas. Por isso, essa voz assume um lirismo singular na obra de Noel – nas canções de amor, em sua absoluta maioria, mesmo sendo líricas, quase não há conjunção alguma entre locutor/interlocutor e ou objeto. Nas canções em que o tema é a louvação ao samba, há rigorosamente um tom que indica o orgulho, o prazer e uma espécie de reverência pelo fato de pertencer ao universo do samba, seja como compositor, como diretor de escola de samba ou como simples habitante de um bairro conhecido por ser reduto de sambistas, como é o caso de “Feitio de oração”, “O X do Problema” e “Feitiço da Vila”, respectivamente, para falar apenas de três dos mais belos sambas em que Noel rende homenagem ao gênero. Algumas outras canções não tratam especificamente do louvor ao samba; falam mais particularmente da conduta apaixonada do sambista. Aí é o humor que dá a tônica. É o caso de “Rumba da MeiaNoite”, de 1931, em parceria com Henrique Vogeler, em que a declaração de amor ao samba é feita não no ritmo de samba, mas numa impecável inversão cômica, num gênero musical indefinido, sobretudo porque não tem acompanhamento percussivo:
Ele: Bateu meia-noite agora E não queres ir embora Jamais parou de sambar Sem ver o sol despontar. Ela: E o que queres tu que eu faça Se o samba é minha cachaça E a tristeza passa? (...) Ele: Ó morena feiticeira, Coração de tamborim Quando canta a noite inteira Sem talvez lembrar de mim. Ela: Se tu és bom brasileiro E dançares bem assim Seja alegre e prazenteiro Venha pra perto de mim. 2 (...)
Embora não caracterize exatamente uma oposição, não deixa de haver certo tom de queixa, uma das marcas mais características de Noel, nesse samba-rumba em que o locutor masculino comenta a alegria incansável da companheira de samba com um quê de lamúria ciumenta. Outra canção com viés humorístico em que Noel faz a “defesa” do samba e aproveita para mandar um recado aos sambistas “antigos” é “Você é um colosso”, de 1934:
Você é um colosso, Comeu sandwich Falando bem grosso Que samba é maxixe. Eu disse: ‘Caramba! Não sou vassalo’ Falou mal do samba, Pisou no meu calo!
Noel alude provocativamente à diferença entre o que Carlos Sandroni chamou de “estilo antigo”, o samba feito por Sinhô, Donga e outros na década de 1920, e o “estilo novo”, aquele criado pelos sambistas do Estácio, para quem o “estilo antigo” era mais um maxixe do que samba propriamente. 3
Nas canções de louvação ao samba, Noel vai comentar liricamente, deixando de lado qualquer traço de humor ou ironia, diferentes faces do universo do samba. Em “Feitio de Oração”, de 1933, em parceria com Vadico, cria uma definição poética para o gênero:
Quem acha vive se perdendo Por isso agora eu vou me defendendo Da dor tão cruel desta saudade Que por infelicidade Meu pobre peito invade.
Por isso agora Lá na Penha vou mandar Minha morena pra cantar Com satisfação... E com harmonia Esta triste melodia Que é meu samba Em feitio de oração. Batuque é um privilégio Ninguém aprende samba no colégio Sambar é chorar de alegria É sorrir de nostalgia Dentro da melodia.
O samba na realidade Não vem do morro nem lá da cidade E quem suportar uma paixão Sentirá que o samba então Nasce do coração.
O ato de sambar – que pode abarcar todas as suas possibilidades tanto de produção como de fruição − é definido como produto da emoção somada à técnica musical: “Sambar é chorar de alegria / É sorrir de nostalgia / Dentro da melodia”. E, ao mesmo tempo em que define a beleza artística do samba, Noel passa vários recados nesta letra. Primeiro, sintetizado na rima precisa “privilégio/colégio”, há se-
manticamente um jogo de opostos bem construído nos versos “Batuque é um privilégio / Ninguém aprende samba no colégio”. Os valores estão invertidos, dado que no consenso geral a condição social que possibilita frequentar um colégio é que é privilegiada; no entanto, nessa inversão do mundo do samba, o privilégio é de outra ordem, não passa pela educação formal e, sobretudo, não deixa de significar o domínio de uma técnica, o que é comumente o objetivo da escola. Há um valor diferente aí, de formação, de criação cultural, que se consubstancia fora do mundo da cultura oficial. Na última estrofe, outro recado dialoga diretamente com a temática, muito comum à época, de associar a produção de samba aos bairros ou morros mais frequentados por sambistas – o próprio Noel fez várias canções de louvação a um bairro: “O samba na realidade / Não vem do morro nem lá da cidade”. No fim das contas, a origem do samba não é um lugar geográfico, mas o lugar bem mais universal da emoção do apaixonado sambista: “E quem suportar uma paixão / Sentirá que o samba então / Nasce do coração”. No entanto, em “Feitiço da Vila”, de 1934, também em parceria com Vadico, Noel volta a fazer a relação apologética entre o samba e um bairro carioca. E aquela voz frágil − às vezes crítica, às vezes cínica, tão característica das canções em que o humor ou a ironia estão presentes − do sambista em confronto com um mundo que lhe é só hostil dá lugar a outra voz, surpreendentemente segura e afirmativa:
Quem nasce lá na Vila Nem sequer vacila Ao abraçar o samba Que faz dançar os galhos Do arvoredo E faz a lua, Nascer mais cedo! Lá em Vila Isabel Quem é bacharel Não tem medo de bamba. São Paulo dá café, Minas dá leite, E a Vila Isabel dá samba! A Vila tem Um feitiço sem farofa Sem vela e sem vintém Que nos faz bem... Tendo nome de Princesa Transformou o samba Num feitiço decente Que prende a gente... O sol da Vila é triste Samba não assiste Porque a gente implora: Sol, pelo amor de Deus, Não venha agora Que as morenas Vão logo embora! Eu sei por onde passo Sei tudo o que faço Paixão não me aniquila... Mas, tenho que dizer: Modéstia à parte, Meus senhores, Eu sou da Vila!
Diferentemente de “Eu vou pra Vila”, de 1930, cujo tom provocativo cantava um sambista que se achava melhor do que outros porque pertencia à Vila Isabel − “Pois quem é bom não se mistura” −, em “Feitiço da Vila” não há nenhum tipo de comparação e/ou provocação. Ali, o tom afirmativo está totalmente a serviço de louvar, muito mais do que o bairro, o poder transformador do samba. Essa energia poderosa se estende desde a bela imagem que personifica o samba com um poder mágicopoético “Que faz dançar os galhos, / Do arvoredo / E faz a lua, / Nascer mais cedo!”; passa por ser uma grandeza equivalente àquelas riquezas econômicas brasileiras consagradas à época: “São Paulo dá café, / Minas dá leite, / E a Vila Isabel dá samba!”; e essa energia termina por transfigurar o próprio princípio da magia que deixa de lado os motivos escusos que porventura a movem e passa a ser uma espécie de “prisão positiva”: “A Vila tem / Um feitiço sem farofa / Sem vela e sem vintém / Que nos faz bem... / Tendo nome de Princesa / Transformou o samba / Num feitiço decente / Que prende a gente...”. E, para sublinhar que o que importa liricamente é a louvação ao samba, o locutor só chama a atenção para si mesmo na última estrofe, para dizer orgulhosamente que pertence a esse universo: “Modéstia à parte, / Meus senhores, / Eu sou da Vila!”. Se em “Filosofia” Noel fez uma síntese irônica sobre a relação tensa entre o sambista e o mundo, em “O X do problema”, de 1936, 4 ele fará uma síntese lírica e mais uma vez surpreendente, entre tantos motivos, porque é o locutor feminino quem está em total conjunção com o samba, o que é raro na obra de Noel:
Nasci no Estácio Eu fui educada na roda de bamba E fui diplomada na escola de samba Sou independente, conforme se vê. Nasci no Estácio O samba é a corda, eu sou a caçamba E não acredito que haja muamba Que possa fazer eu gostar de você.
Eu sou diretora da escola do Está-
cio de Sá E felicidade maior neste mundo não há. Já fui convidada Para ser estrela de nosso cinema Ser estrela é bem fácil Sair do Estácio é que é O X do problema.
Você tem vontade Que eu abandone o Largo do Estácio Pra ser a rainha de um grande palácio E dar um banquete uma vez por semana. Nasci no Estácio Não posso mudar minha massa de sangue Você pode crer que palmeira do Mangue Não vive na areia de Copacabana.
Mais uma vez a origem do locutor é um bairro, o antológico Estácio, conhecido reduto de sambistas. Nesse belo samba, gravado pela primeira vez por Aracy de Almeida em setembro de 1936, Noel define, com a costumeira síntese poética milimétrica, o que significa pertencer ao universo do samba; nada menos do que a felicidade: “Eu sou diretora da escola do Estácio de Sá / E felicidade maior neste mundo não há”. Novamente aqui também, como em “Feitio de oração”, a formação nada convencional é mencionada com um orgulho sinônimo de independência em relação às convenções sociais: “Eu fui educada na roda de bamba / E fui diplomada na escola de samba / Sou independente conforme se vê”. As oposições contribuem para enfatizar o alinhamento axiológico do sambista; neste caso, a figura feminina abre mão de ser “estrela de nosso cinema” ou “rainha de um grande palácio”, dado que tanto um destino quanto o outro lhe impõem abandonar sua condição; configurase então o verdadeiro “X do problema” porque, para o sambista, é claro que isso é impossível: “Não posso mudar minha massa de sangue / Você pode crer que palmeira do Mangue / Não vive na areia de Copacabana”. Noel faz referência, nesses belíssimos versos finais, ao canal do Mangue, próximo do bairro do Estácio. Mais uma vez, reitera que os valores dominantes não fazem parte do mundo do samba, onde o prazer, o orgulho e a felicidade do sambista estão amalgamados; não há sentido fora desse universo. No caso feminino, para uma habitante do subúrbio carioca, as poucas possibilidades de ascender socialmente se restringiam mundo burguês. No viés das canções líricas de louvação ao samba, Noel sublinha essa dicotomia pelo elogio incondicional às diferentes faces de tudo que faça parte desse universo. Assim, não é por conta somente de um modismo lançado com “Na Pavuna”, como afirma Almirante, que os bairros do Rio de Janeiro passaram a ser cantados desde a gravação desse samba inaugural. 5 Pelo menos na obra de Noel, há uma enunciação marcada pela necessidade de valorizar esse universo desde os bairros onde o samba era comumente produzido – Estácio, Penha, Vila Isabel, Salgueiro, Mangueira, Aldeia, Osvaldo Cruz, Matriz, para citar alguns dos tantos lugares mencionados em sua obra – até o significado transformador que o samba pode ter na
à carreira artística ou a um casamento com um homem rico; no entanto, a sambista, que exerce a importante função de comando como “diretora da escola do Estácio de Sá”, justamente por isso não precisa de mais nada que a valorize: pertencer ao mundo do samba, e ser reconhecida nele, é o valor máximo, ou seja, não há conciliação possível, tampouco desejável, com os valores dominantes. A voz que se apresenta como integrante do mundo do samba necessariamente não pode pertencer ao vida de quem é ligado a ele de alguma forma. Noel sabe que o “poder do samba” está na possibilidade, para o compositor pelo menos, de sair de um lugar social totalmente desvalorizado, e até mesmo perseguido por ser sinônimo de marginalidade, e entrar em outro em que o reconhecimento passa pela construção de uma identidade positiva. Nessas canções de louvação ao samba, a contribuição para a construção dessa identidade passa por várias dimensões, portanto. Uma delas é a
dos bairros que contribuem para consubstanciar o sentimento de pertença a algum lugar com uma tradição, com uma história de produção coletiva do samba que se dá geralmente no espaço público: carnaval de rua, cantorias e serestas pelas ruas, bares, associações, clubes, etc. O elogio a um deles, a qualquer um desses bairros, é nada mais do que o reconhecimento positivo de um lugar social onde a população dos subúrbios e dos morros cariocas produz uma cultura que merece ser conhecida; e o sambista Noel afirma categoricamente que essa cultura está no mesmo patamar de importância dos valores socialmente consagrados: “São Paulo dá café, / Minas dá leite, / E a Vila Isabel dá samba”. Outra dimensão dos sambas líricos de Noel é aquela que contribui para reforçar a imagem de um sambista apaixonado incondicionalmente por sua arte; tanto é capaz de qualquer renúncia para permanecer ligado ao universo do samba porque só aí existe o que verdadeiramente importa, isto é, a “felicidade” – o X do problema −, como pode projetar o sagrado num samba em feitio de oração, ou mesmo cantar o samba com um poder transformador tão visceral que pode mudar até os fundamentos de um feitiço. Apenas o samba terá o privilégio de ser tratado como uma positividade inquestionável em sua obra. É por intermédio de seu ritmo alegre e dançante que o locutor fala de suas vicissitudes em inúmeras canções; por mais que o prazer da vida seja restrito por dificuldades financeiras e sociais, o sambista não deixa de fazer o que lhe dá mais prazer: samba. Certamente, a opção por ter o samba como o centro emanante de positividade tem relação com sua trajetória pessoal: em 1931, aos 20 anos, Noel abandonou a faculdade de Medicina no primeiro ano para se dedicar integralmente à carreira artística. Foi o compositor branco da classe média que mais frequentemente fez parcerias com os compositores negros oriundos dos morros e dos subúrbios. Além disso, teve uma morte em tudo semelhante a muitos desses parceiros: morreu jovem, aos 26 anos, de tuberculose. Numa vida tão curta, marcada por constantes dissabores pessoais 6 a experiência artística foi, talvez, um contraponto de realizações positivas, concretizado numa produção intensa de canções em pouco tempo. cc
Mayra Pinto é doutora em Educação pela Universidade de São Paulo.
Notas
1. Este artigo é parte da tese Noel Rosa: o humor na canção defendida na Faculdade de Educação/USP em maio de 2010, sob orientação do Prof. Dr. Celso Fernando Favaretto, com apoio financeiro da Fapesp. 2. No acervo digital do Instituto Moreira Salles (http://acervos.ims.uol.com.br) encontram-se disponíveis para audição todas as canções mencionadas neste artigo, em suas gravações originais. 3. Carlos Sandroni, Feitiço decente. Rio de Janeiro: Jorge Zahar/UFRJ, 2001, p. 132. 4. Segundo seus biógrafos, Noel fez essa música literalmente de um dia para o outro, por encomenda da atriz Emma D’Ávila, que iria cantá-la na revista “Rio Follies”, feita para homenagear diversos bairros cariocas. (In: João Máximo e Carlos Didier, Noel Rosa: Uma biografia, p. 370.) 5. O samba de 1930, parceria de Homero Dornelas com Almirante, louva a relação entre o bairro e a produção de samba: “Na Pavuna tem escola para o samba / Quem não passa pela escola não é bamba / Na Pavuna tem / Cangerê também / Tem macumba, tem mandinga e candomblé / Gente da Pavuna / Só nasce turuna / É por isso que lá não nasce ‘mulhé’”. (In: ALMIRANTE. No tempo de Noel Rosa, p. 71. Ao que tudo indica, o maior mérito desse samba foi o fato de ter pela primeira vez, na gravação, acompanhamento percussivo típico dos blocos de carnaval: pandeiros, cuícas, tamborins, surdo e ganzá tocados por instrumentistas de escolas de samba (cf., Jairo Severiano e Zuza Homem de Mello, em A canção no tempo, p. 100.). 6. Tinha um problema físico – o fórceps, usado no parto em seu nascimento, fraturou-lhe um osso no queixo, o que o deixou com o rosto um pouco deformado.;Além disso, a avó paterna e o pai se suicidaram; foi forçado a se casar com uma moça menor de idade chamada Lindaura, e teve um caso bastante conturbado com uma prostituta chamada Ceci, a quem dedicou sua última canção “Último desejo”.
Referências
ALMIRANTE. No tempo de Noel Rosa. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1977. MÁXIMO, João & DIDIER, Carlos. Noel Rosa: Uma biografia. Brasília: UnB/ Linha Gráfica Editora, 1990. SANDRONI, Carlos. Feitiço decente. Rio de Janeiro:, Jorge Zahar/UFRJ, 2001. SEVERIANO, Jairo & MELLO, Zuza H. de. A canção no tempo. v. 1: 1901-1957. 5.ed. São Paulo: Editora 34, 2002.










