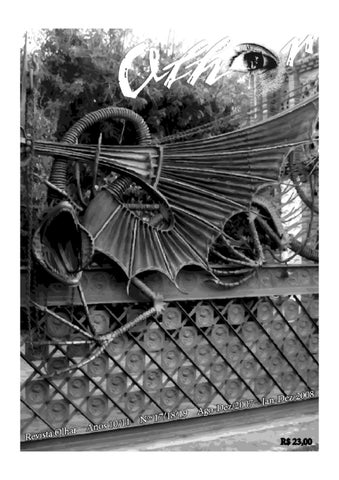Dados Internacionais de Catalogação na Fonte (CIP) Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) Olhar/Centro de Educação e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Carlos. Ano 10/11. Números 17,18, 19. São Carlos: UFSCar, 2008. Semestral ISSN 1517-0845 1. Humanidades - Periódicos. 2. Artes - Periódicos. I. Universidade Federal de São Carlos, Centro de Educação e Ciências Humanas. CDU 168.522 (05)
ANO 10/11 - NÚMERO 17/18/19 – AGO-DEZ/2007 – JAN-DEZ/2008 CECH - CENTRO DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS HUMANAS
Revista Olhar Ano 10/11 - Número 17/18/19 - ago-dez/2007–jan-dez/2008 Publicação do Centro de Educação e Ciências Humanas (CECH) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)
Administração Superior
Benedito Nunes (UFPa) Bóris Schnaiderman (USP) Prof. Dr. Oswaldo Baptista Duarte Filho Bruno Pucci (UNIMEP) Reitor Carlos Alberto Ribeiro de Moura (USP) Profa. Dra. Maria Stella de Alcântara Gil Cecília Almeida Salles (PUC) Vice-Reitora Celso Castro (CPDOC – FGV) Prof. Dr. Valdemir Miotello Débora Pinto (UFSCar) Diretor do CECH Diléa Z. Manfio (UNESP – Assis) Prof. Dr. Bento Prado Neto Eliane Robert Moraes (PUC/SENAC) Vice-Diretor do CECH Fernando da Rocha Peres (UFBa) Flávia Seligman (UNISINOS/RS) Coordenação Editorial Flavio Loureiro Chaves (UFRS) Editores Franklin Leopoldo e Silva (USP) Gilmar de Carvalho (UFC) Bento Prado Jr. (in memoriam) Haroldo de Campos (in memoriam) Josette Monzani Irene Machado (USP) Isabel Limongi Batista (UFPR) Editor-Assistente Isabel Machado (jornalista) Ismail Xavier (USP) Profa. Dra. Marina Cardoso Jerusa Pires Ferreira (USP e PUC) João Carlos Salles (UFBa) Jorge de Almeida (USP) CONSELHO EDITORIAL: José Euclimar X. de Menezes (Universidade Católica – Salvador) Conselho Executivo José Leon Crochik (USP) Lucíola Paixão Santos (UFMG) Antônio Zuim – DEd (UFSCar) Luiz Cláudio da Costa (UFRJ) Arthur Autran – DAC (UFSCar) Luís Cláudio Figueiredo (PUC) Cibele Rizek – Escola de Engenharia de Luís Roncari (USP) São Carlos (EESC/USP) Manoel Carlos Mendonça Filho (UFSE) Fernão Ramos – Multimeios (Unicamp) Marcos S. Nobre (Unicamp/Cebrap) Gelson de Almeida Pinto – Escola de En- Maria Aracy Lopes da Silva (in genharia de São Carlos (EESC/USP) memoriam) João Roberto Martins Filho – DCSo Maria das Graças de Souza (USP) (UFSCar) Maria de Lourdes Siqueira (UFBa) José Gatti Jr. – DAC (UFSCar) Maria Irma Adler (Unicamp) Júlio César Coelho De Rose – DepartaMaria Helena Pires Martins (USP) mento de Psicologia (UFSCar) Maria Lúcia Cacciola (USP) Luiz R. Monzani – Filosofia (Unicamp) Maria Magdalena Cunha Mendonça Manoel Dias Martins (UNESP/AraMaria Sílvia Carvalho Franco (USP e raquara) Unicamp) Marco Antônio Vila – DCSo (UFSCar) Marilena S. Chauí (USP) Maria Cristina I. Hayashi – DCI (UFSCar) Mauro Pommer (UFSC) Maria Ribeiro do Valle (UNESP/Araraquara) Mercedes Cunha Mendonça (USP/ Nádea R. Gaspar – DCI (UFSCar) Faculdades Ruy Barbosa – Salvador) Richard Simanke – DFMC (UFSCar) Nara Maria Guazelli Bernardes (PUC/RS) Sidney Barbosa (UNESP/Araraquara) Newton Bignotto (UFMG) Tânia Pellegrini – DL (UFSCar) Newton Ramos de Oliveira (UNESP) Wolfgang Leo Maar – DFMC (UFSCar) Oswaldo Giacóia Jr. (Unicamp) Marcius Freire – Multimeios (Unicamp) Oswaldo Truzzi (UFSCar) Paulo Micelli (Unicamp) Conselho Consultivo Renato Mezan (PUC e Sedes) Renato Franco (UNESP – Franca) Adriano Soriano Barbuto (UFSCar) Roaleno Ribeiro Amâncio Costa (Fac. de Alexandre Figuerôa (UC/PE) Belas-Artes – Salvador) Arley Moreno (Unicamp) Roberto Romano (Unicamp) Arlindo Machado (PUC e USP) Rodrigo Naves (Cebrap)
Rubens Machado (USP) Suzana R. Miranda (UAM) Urânia Tourinho Peres (SPsiBa) Zélia Amador de Deus (UFPa) Consultores Internacionais Sônia Stella Araújo Oliveira (Universidad Autônoma del Estado de Morelos – Cuernavaca/México) Saulo de Araújo Freitas (Convênio DAAD/Alemanha) José Serralheiro (Página da Educação – Portugal) Vania Schittenhelm (pesquisadora – Londres) Jorge Mészáros (Sociologia – Inglaterra) Esther Jean Marteson (Londres) Catherine L. Benamou (University of Michigan – USA) Assessores Massao Hayashi Mark Julian Cass Ana Paula dos Santos
Equipe Técnica Redator-Assistente: Fabrício Mazocco (MTb:29.602) Projeto Gráfico: André Pereira; Luís Gustavo Sousa Sguissardi e Vítor M. G. Lopes Editoração e Arte Final: Vítor Massola Gonzales Lopes. Impressão: Depto. de Produção Gráfica – UFSCar
Os artigos assinados são de responsabilidade exclusiva do(s) autor(es). Permitida a reprodução parcial ou integral dos textos, desde que mencionada a fonte.
Permuta e solicitação de assinaturas: UFSCar – Universidade Federal de São Carlos
EDITORIAL EDITORIAL A revista Olhar está completando 10 anos. Este é um motivo de alegria e orgulho para nós. Nesse momento, queremos agradecer a todos nossos colaboradores pela confiança depositada e dizer que almejamos dar seqüência a esse trabalho que buscou sempre editar pesquisadores consagrados e abrir espaço para os iniciantes, assim como prestigiar obras de artistas gráfico-fotográficos que muito contribuíram para a alta qualidade visual do periódico. Vale aqui lembrar também do apoio institucional e acadêmico recebido – por parte dos pareceristas que compõem o Conselho Editorial, da Reitoria e Pró-Reitorias da UFSCar, assim como dos colegas e dos alunos-bolsistas que conosco trabalharam, sem o qual a Olhar não teria sido possível. Como nos escapou anteriormente, vai aqui nosso obrigado especial a Guilherme Mansur que, em várias ocasiões, nos presenteou com capas maravilhosas. Nesses anos todos, procuramos contribuir na função integradora e transdisciplinar realizada pelo Centro de Educação e Ciências Humanas (CECH) da Universidade Federal de São Carlos, ao receber contribuições locais e de todo o país, assim como do exterior, e disponibilizar esse material intra e extramuros dessa instituição. Nesta edição, como em todas as anteriores, a Literatura, a Filosofia, as Artes, a Sociologia estão aqui juntas, dialogando, em busca do objetivo comum de buscar lançar um olhar crítico sobre a sociedade e a cultura contemporânea, no esforço por atingir uma sociedade mais justa e uma cultura mais viva – finalidade a que sempre nos propusemos. Bento Prado Jr. (in memoriam) Josette Monzani Editores Capa: fotografia de Francisco Vecchia, USP-São Carlos. Dragão de Gaudí, Barcelona.
Sumário ALÉM DO PRINCÍPIO DE PRAZER: CONSIDERAÇÕES FILOSÓFICAS SOBRE O PROGRAMA TEÓRICO DA METAPSICOLOGIA Oswaldo Giacoia Júnior O GROTESCO NA ESCULTURA DE ANTÔNIO AUGUSTO BUENO Marcus Fabiano Gonçalves WILHELM WUNDT (1832-1920): PASSADO, PRESENTE E FUTURO – UMA HOMENAGEM AOS 175 ANOS DO SEU NASCIMENTO Saulo de Freitas Araujo
10 22
29
XINGU, DE EDITH WHARTON: UMA REDE DE SENTIDOS Maria das Graças Gomes Villa da Silva
34
EL LABERINTO DE LA GUERRA: TRES DERIVAS HOBBESIANAS Omar Astorga
43
TULIPA: SUBSÍDIOS PARA UMA ETNOPSICANÁLISE DA POSSESSÃO José Francisco Miguel Henriques Bairrão
53
O LUGAR DO HOMEM EM AS PALAVRAS E AS COISAS. (LAS MENINAS DE VELÁZQUEZ) Augusto Bach
69
POR UMA FENOMENOLOGIA SOCIAL DO CAMPO ARTÍSTICO: HABITUS SILENCIOSO E APROPRIAÇÃO-CRIAÇÃO DE PINTURAS Kadma Marques Rodrigues
85
OS MODERNOS E A TRADIÇÃO CRÍTICA Eneias Forlin
108
EMMANUEL LEVINAS E A INTELIGIBILIDADE DA EXPERIENCIAÇÃO Marcelo Leandro dos Santos
120
ROBERTO MANGE E A RACIONALIZAÇÃO DO TRABALHO: A PARTICIPAÇÃO DE UM ENGENHEIRO SUÍÇO NA CONSTITUIÇÃO DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL Daniela de Campos QUERO SER DR. MANHATTAN: A PERCEPÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL COMPARTILHADA ENTRE DR. MANHATTAN E O LEITOR Rogério Secomandi Mestriner
128
139
O CEGO FEZ VER A PORTA Susan Blum
152
O CHAMADO DA MÍDIA EXTERIOR Regiane Caminni Pereira da Silva
160
POEMAS E CONTOS Paulo R. Licht dos Santos, André Marins, Guilherme Mansur, Josette Monzani
173
DE COMO DANTAS RETECE, EM COIVARA E CORDEL, RAMOS E ROSA Antônio Donizeti Pires
190
LINGUAGEM SIMBÓLICA COMO EXPRESSÃO CONCEITUAL. AS PERSPECTIVAS DA HERMENÊUTICA E DO NEOESTRUTURALISMO Wilma Patricia Marzari Dinardo Maas
211
ANÁLISE E TRADUÇÃO DO EPITÁFIO DE GÓRGIAS DE LEONTINOS Aldo Lopes Dinucci SOBRE CONTRADIÇÕES E DISSIMULAÇÃO EM SPINOZA SEGUNDO O ARTIGO DE FRANCIS KAPLAN, LE SALUT PAR L’OBÉISSANCE ET LA NECESSITÉ DE LA RÉVÉLATION CHEZ SPINOZA Sergio Tiski DOSSIÊ CINEMA UMA POSSÍVEL TENDÊNCIA NATURALISTA NO CINEMA BRASILEIRO ATUAL Alfredo Luiz Paes de Oliveira Suppia A CRÍTICA DE CINEMA, A CHEGADA DO SOM E O FUTURO DO CINEMA Luciana Corrêa de Araújo CULTURA, IDENTIDADE E DIVERSIDADE CINEMATOGRÁFICAS: O CASO SÃO PAULO, O CINEMA JAPONÊS E AS SUAS SALAS DE EXIBIÇÃO André Piero Gatti CONTEXTO E FLUXOS ENTRE LINGUAGEM AUDIOVISUAL, NOVAS MÍDIAS E SOCIEDADE Vicente Gosciola
223
228
236
261
268
282
A CRÍTICA DE PAULO EMILIO NA REVISTA CLIMA José Inacio de Melo Souza
292
A DIALÉTICA ENTRE O NÃO SER E O SER OUTRO NA CRÍTICA DE CINEMA DE ROGÉRIO SGANZERLA Samuel Paiva
297
A ESCRITA FÍLMICA E A PÓS-IMAGEM NO DIÁLOGO DO CINEMA COM A PINTURA Eduardo Peñuela Cañizal
304
Além do Princípio de Prazer considerações filosóficas sobre o programa teórico da metapsicologia OSWALDO GIACOIA JUNIOR*
É
inegável que, em diferentes momentos de sua obra, Freud pronunciou-se de modo diverso a respeito das relações entre Psicanálise e Filosofia, por vezes aproximando esses dois domínios teóricos, outras vezes contrapondo-os até o absoluto distanciamento. Sintomático e emblemático, a respeito dessa ambigüidade, é o testemunho de Freud a Fliess a respeito da filosofia. Pois bem, o que disse Freud para Fliess sobre a filosofia, no momento crucial de invenção da psicanálise? De maneira curta e grossa Freud afirmou que estava finalmente realizando o seu desejo de ser um filósofo com a invenção da psicanálise. Ao lado disso, enunciou ainda, para o espanto dos leitores, que nunca tivera talento para a terapêutica, apesar de sua atividade médica. Espanto relativo, seguramente. Isso porque Freud teve uma formação inicial como pesquisador em anatomia do sistema nervoso, a qual teve de abandonar por falta de recursos financeiros, dedicando-se então à clínica neurológica. Portanto, no contexto de constituição da psicanálise, Freud aproximava esta da filosofia e a afastava da medicina. Enfim, a psicanálise nada tinha a
ver com a prática médica e não tinha qualquer pretensão terapêutica, estando bem mais próxima da filosofia.1
Apontar ambigüidades e persistência, todavia, certamente não é o mais importante. Fundamental é que Freud concebe seus trabalhos teóricos como metapsicologia, ou seja como uma espécie de super-estrutura teórica. Ora, não se pode ignorar que a palavra metapsicologia é evidentemente derivada da palavra metafísica. Ao denominar o saber teórico da psicanálise numa derivação imediata e incontornável, da palavra metafísica, Freud identifica naquela algo que a aproximaria desta. Mas o que poderia tangenciar a psicanálise com o saber da metafísica? Não parecem existir dúvidas a respeito disso: a psicanálise seria um saber fundado na interpretação e no que esta implica, qual seja, o psiquismo seria construído em torno dos conceitos de sentido e significação, na medida em que a interpretação apenas seria possível se estivesse remetida ao mundo do sentido como o seu correlato.2
Ora, uma das partes constitutivas da metafísica, como saber filosófico, é constituída pela ontologia, que podemos caracterizar, muito esquematicamente, como a parte geral da metafísica, que se ocupa com os predicados universais de todos os entes existentes ou possíveis. Toda ontologia, enquanto parte geral da metafísica, tem como ponto de partida ou faz necessariamente asserções a respeito de um conjunto de elementos seminais, entidades básicas, que são os dados ou pressupostos fundamentais de toda teoria, como no exemplo paradigmático dos quatro elementos (fogo, água, ar e terra) da cosmologia présocrática, ou as essências inteligíveis (as idéias) de Platão, que constituem o verdadeiro ser de todos os entes existentes no universo. Ora, se há uma relação entre metapsicologia e metafísica, então a Psicanálise tem também de supor uma ontologia como dimensão necessária do conjunto de seu edifício teórico. É nesse registro que se poderia inscrever a relação entre a clínica psicológica e a metapsicologia de Freud. Com base numa análise imanente de Além do Princípio do Prazer, com uma comparação metodológica global com Totem e Tabu, procuraremos demonstrar que o dualismo entre pulsões de vida e de morte pode ser caracterizado como a base ontológica da Metapsicologia e, por consegüinte, também de toda super-estrutura teórica da Psicanálise de Freud. Tomamos como ponto de partida um dos principais resultados consolidados pela especulação levada a efeito por Freud em Além do Princípio do Prazer: a postulação de uma analogia constatável entre os jogos infantis, a neurose traumática, os casos de ‘eterno retorno do mesmo’ e os fenômenos transferência observados em situação analítica, – todos eles denotando uma compulsão a repetir vivências de desprazer, que derroga o domínio irrestrito do princípio do prazer sobre o psiquismo. Assim, a compulsão à repetição atestaria o caráter coercitivo, indestrutível, próprio do elemento pulsional. Ora, se, diante disso, perguntamos sobre a natureza da relação entre o pulsional e a coerção a
1 Birman, J. Freud a Filosofia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2003, p.12. 2 Birman, J. Freud a Filosofia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2003, p. 45.
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
11
repetir, teremos a impressão, segundo Freud, de estar seguindo a pista de um um caráter desconhecido das pulsões, talvez mesmo de toda vida orgânica. Isso tornaria irrecusável a conclusão de acordo com a qual toda pulsão é uma força inerente ao ser vivo, cuja meta fundamental seria na restauração de um estágio anterior de desenvolvimento do organismo; trata-se de um impulso tendente à restauração de um estado de coisas pretérito que a entidade viva foi obrigada a abandonar sob a pressão de forças perturbadoras externas. Toda pulsão poderia ser caracterizada, então, como uma espécie de elasticidade orgânica, um modo de manifestação da força inercial inerente à vida vida orgânica.3 Tendo em vista os compromissos epistemológicos ínsitos à idéia de ciência presente em Para Além do Princípio do Prazer, seria necessário, então, buscar uma legitimação teórica, no campo da biologia, para a hipótese concernente à existência de uma pulsão de morte, como componente de toda vida orgânica. Tenhamos presente que, de acordo com o programa epistemológico seguido por Freud, o essencial do procedimento metodológico empregado nessa obra consiste na derivação dos fenômenos a partir de um elemento que permita encadear sistematicamente os fatos cuja explicação se busca, remontando a um ponto originário, que ancore a série inteira dos fenômenos - analogamente ao que ocorre com as séries causais explicadas nas ciências empíricas da natureza. Para provimento dessa condição, Freud recorre a relações sistemáticas de analogia estrutural e funcional entre séries de fatos sem conexão aparente. Procedimento que guarda estreita relação com aquele empregado em outras investigações especulativas de Freud, por exemplo em Totem e Tabu, que permite apreender o ganho epistemológico possibilitado pelas construções auxiliares metapsicológicas. Em 1913, por ocasião de Totem e Tabu, Freud também procurava legitimação teórica para suas especulações nos estudos de antropologia e biologia daquela época e, combinando-os a partir de uma perspectiva nuclear, advinda da Psicanálise, ponderava: a derivação psicanalítica permite resignificar os fenômenos do totemismo a partir da interpretação antropológica da refeição totêmica, conectada à hipótese de Darwin sobre o estado originário da horda primitiva. A interpretação metapsicológica, nesse caso, ensejaria uma possibilidade que cumpre uma função heurística fundamental. Ela permite uma compreensão mais profunda, a formulação de uma hipótese que pode parecer ‘fantástica’, reconhece Freud, mas que oferece uma vantagem essencial, que consiste em estabelecer uma até então insuspeitada unidade sintética entre séries isoladas de fenômenos, com base em relações de analogia. Veremos como a mesma vantagem heurística é visada e conquistada, em 1920, com as hipóteses especulativas de Além do Princípio do Prazer. Em busca dessa correlação analógica, Freud empreende uma retomada da descrição tópica e da função do sistema Percepção-Consciência no interior do aparelho psíquico, que, como o reconhece o autor, tem sua plausibilidade sustentada nos estudos de anatomia cerebral. Esse primeiro passo metapsicológico pavimentará o caminho para a asserção de uma tese a respeito da necessidade prévia da ligação, como condição de instalação e funcionamento do princípio do prazer. Em seguida, Freud efetua a derivação do princípio do prazer a partir do princípio de constância, extraindo dessa derivação a inteligibilidade da tarefa imposta ao aparelho 3
12
Id. p. 47.
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
psíquico de reduzir as quantidades de energia ou excitação afluentes em seu interior (ou mantê-las num limiar constante de excitação) como princípio funcional do aparelho, cuja meta ótima seria o grau zero de energia (Nirvana). Ora, como o proto-estado de repouso necessariamente correspondente a esse grau zero de excitação não pode ser outro, com toda evidência, senão aquele anterior ao incremento de excitação eletroquímica, que deu origem ao surgimento da vida na matéria inanimada, segue-se disso que o optimum resultante do funcionamento do princípio do prazer seria idêntico à meta final de toda pulsão: o restabelecimento de um estado anterior, todo impulso implicando, portanto, em regressão. Nesse ponto, não há como não reconhecer que os resultados parciais desse périplo especulativo transtorna todas as nossas idéias tradicionais a respeito do telos (da finalidade) da vida, entendida como movimento de crescente aperfeiçoamento, complexificação e evolução de suas formas. Os resultados até agora alcançados ensejam a penosa conclusão de que a meta final de todo impulso é a redução ao grau zero de quantidades de excitação no organismo, o que mostra que a morte é a meta, ao mesmo tempo, original e derradeira, da vida. Postas tais conseqüências, torna-se necessário, então, procurar uma indispensável legitimação junto à biologia para afirmar o caráter ontologicamente originário da morte, em relação à vida, uma vez que o Pulsional seria o signo de uma inscrição da tendência à morte no coração do vivo. Ou, numa formulação ainda mais radical, faz-se necessário recorrer à biologia para garantir a plausibilidade da tese de uma prioridade ontológica da morte sobre a vida, a partir de teoria que vincula o princípio do prazer à natureza regressiva do Pulsional, manifestada nos fenômenos de compulsão à repetição; ou, pelo menos, autorização para uma versão minimalista dessa tese, a saber: uma permissão negativa por parte da biologia, que consistiria em constatar sua não inviabilidade nos marcos teóricos da ciência biológica. De conformidade com tais exigências, tudo se passaria aqui num plano essencialmente ontológico: se toda pulsão tem um caráter regressivo, seu sentido consistiria, então, no restabelecimento de um estado anterior de desenvolvimento do organismo. Ora, dentre seus estados, o primeiro não poderia ser, considerado logicamente, senão a primeira perturbação ou aporte originário de energia eletro-química que produziu a passagem – tão misteriosa quanto se queira – do inorgânico ao orgânico, do mundo mineral para o vegetal e animal. Sendo assim, se a natureza regressiva da pulsão remete para uma tendência a restaurar o grau zero de excitação, então seu ponto originário seria o retorno ao inorgânico, ou seja, a morte – sendo esta, pois, o elo mais recuado e originário da vida orgânica. Daí o extraordinário valor epistemológico e heurístico do recurso feito por Freud à tese biológica de Weismann acerca da virtual imortalidade dos organismos unicelulares. Se a teoria de A. Weismann é correta, se ele tem razão suficiente para afirmar que as formas elementares de vida, como os protozoários (organismos unicelulares), são virtualmente imortais, então partiria do campo da ciência biológica um veto poderoso à hipótese especulativa que joga com a precedência ontológica da morte sobre a vida orgânica – veto que alcançaria, portanto, a possibilidade de asserir a existência originária de uma pulsão de morte, pois esta seria um acontecimento secundário, ocorrido no curso da vida, derivado da complexificação das formas vivas, a partir do surgimento dos organismos multicelulares – em particular da divisão e especialização entre células somáticas e germinativas.
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
13
Um novo ponto de vista é introduzido pela ponderação dos resultados obtidos a partir da crítica biológica, que derroga in totum os resultados teóricos das experiências de Weismann. Essa crítica põe em dúvida a consistência da hipótese de se investigar a originariedade da morte a partir das formas elementares de organismos. Sua organização incipiente e primitiva poderia ocultar condições e processos que só adquiririam visibilidade em formas morfológicas mais complexas. Como argutamente observa Mezan: Depois de examinar as hipóteses então vigentes na Biologia acerca da ‘imortalidade’ dos protozoários, Freud conclui que o exame empírico da questão é irrelevante para estabelecer ou falsificar o princípio que propõe, pois, como em outros casos, tendências opostas poderiam estar camufladas sob a indiferenciação do organismo unicelular, só surgindo com plena evidência em seres vivos mais organizados, cujas funções se houvessem dispersado por vários sistemas e órgãos. O caráter transcendental da pulsão de morte fica assim confirmado, uma vez que nenhum sistema específico tem a seu cargo a efetivação desta finalidade pulsional: trata-se do fundamento de outros fenômenos, não de mais um entre eles.4
Desse modo, Freud vai introduzir seu procedimento analógico para explorar metapsicologicamente a semelhança entre a distinção weismanniana de soma e plasma germinal, por um lado, e a separação psicanalítica entre instintos de morte dos instintos de vida, por outro. Tal aproximação será direcionada a partir de uma outra analogia biológica, desta feita tomando como pares analógicos os processos vitais baseados em pulsões de vida e pulsões de morte, por um lado, e as funções biológicas de assimilação e dissimilação, por outro lado. Baseando-se, desta vez, na teoria preeminentemente dualística da vida instintual sussentada também por E. Hering, Freud distingue dois tipos de processos constantemente em ação na substância viva, operando em direções contrárias: um deles de caráter construtivo ou assimilatório, e um processo destrutivo ou dissimilatório. Por analogia, Freud aproxima, ou mesmo identifica essas duas direções tomadas pelos processos vitais com a atividade dos dois impulsos ou pulsões fundamentais: as pulsões de vida e as pulsões de morte.5 Essa analogia entre os instintos de vida e de morte, apoiada nas funções biológicas de assimilação e dissimilação, remete, por seu turno, a uma analogia ainda mais outré, a saber à dualidade que permite a Freud aportar na baia metafísica de Schopenhauer, para quem o impulso sexual (e de auto-conservação, convém acrescentar, a bem da verdade) é manifestação da vontade de viver, enquanto que o verdadeiro resultado, e mesmo a meta da vida é a morte. Essa transposição da analogia biológica para a metafísica impele a especulação a dar um novo e importante passo adiante. Trata-se agora de examinar esses resultados à luz da contribuição essencialmente psicanalítica da teoria da libido; porém esse exame é, mais uma vez, levado a efeito a partir de uma extensão do raciocínio por
4 Mezan, R. Freud. A Trama dos Conceitos, 3a. Ed, São Paulo: Ed. Perspectiva, 1991, p. 262. 5 Id. p. 60.
14
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
analogies. Agora a analogia se estabelece tomando como termos, de um lado, a relação libido-objeto; por outro lado, a relação citológica entre cédulas de tipo diverso. Uma analogia reconhecida entre o dualismo das pulsões e a economia libidinal das células orgânicas permite o estabelecimento de um novo paralelo, desta vez entre a atividade das pulsões sexuais ou de vida com a atividade de ligação simbolizada pela divindade mítica Eros, tal como descrito pelos filósofos e poetas, como empenhado em instituir unidades a cada vez mais amplas, do organismo individual, passando pela família, até a grande união da cidade. Ora, essa identificação coloca a especulação metapsicológica diante de uma dificuldade aparentemente intransponível, que força Freud a passar em revista toda sua teoria das pulsões. Esta se afirma como rigorosamente dualista. Dualismo que, de início, se traduzia na oposição entre pulsões do Eu (impulsos de auto-preservação) e pulsões sexuais (cuja energia, era por isso denominada libidinal) era investida em objetos diferentes do próprio Eu. Tratava-se da versão psicanalítica da primeva contradição entre fome e sexualidade. As descobertas propiciadas pelo aprofundamento dos estudos a respeito do narcisismo levaram Freud a modificar substancialmente essa primeira versão da teoria das pulsões, sem abandonar seu irredutível dualismo ontológico. A exploração especulativa do conceito de narcisismo representa um risco considerável, do ponto de vista da ontologia com a qual tem de operar a metapsicologia. Esta é, como Freud não cessa de reconhecer, eminentemente dualista. E, no entanto, essa extensão da libido arrisca comprometer o dualismo, projetando a metapsicologia para uma proximidade perigosa em relação à Psicanálise de Carl Gustav Jung – como se sabe, fundada no monismo libidinal, que considera a libido como sinônimo de energia psíquica. As novas descobertas trazidas à luz com os estudos sobre o narcisismo primário revelaram que a libido pode investir e desinventir objetos, que objetos podem ser investidos sucessivamente por impulsos eróticos e hostis. Revelaram também não apenas que o Eu pode ser objeto de investimento de libido – o que se atesta clinicamente nos casos de pacientes narcísicos, ou enamorados de si; mas também, e isso é de uma imortância capital, que o Eu é o reservatório originário de toda libido. No curso do desenvolvimento do indivíduo, parte dessa libido é subtraída do Eu e canalizada para os investimentos de objeto. Ora, a teoria da evolução da libido individual comprova que investimentos libidinais podem ser efetuados e retirados. Sendo assim, nada impede que o investimento de libido possa partir do Eu, canalizando-se para objetos, bem como retornar ao Ego. A concepção do narcisismo primário põe em cheque a leitura da auto-preservação; eis aí um fenômeno de natureza claramente sexual, e que no entanto atua na esfera do ego, anteriormente visto como alquilo que é sustentado pelas pulsões de auto-conservação. Se Eros é aquele que liga, a mútua adesão das células somáticas pode ser vista como uma de suas manifestações, de sorte que a libido narcisista passa a ser derivada da soma das quantidades de libido contidas na totalidade das células corporais: pois o ego é sempre e em primeiro lugar um ego corporal, contruído par conduzir às modificações
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
15
da realidade exterior essenciais para a satisfação das necessidades básicas do organismo, como Freud não cessou de pensar desde o Projeto.6
Na vigência da hipótese do narcisismo primário, não se pode mais falar, portanto de oposição entre pulsões do Eu e pulsões eróticas (investidas em objetos), impondo-se uma revisão em profundidade da teoria das pulsões. Pois, nesse caso, o próprio Eu pode ser – e efetivamente é – objeto de investimento de libido. Disso resulta que parte dos impulsos anteriormente considerados como pulsões do Eu (ligados à antiga noção de pulsões não sexuais de auto-conservação) são identificados também como eróticos ou libidinais, ainda que encarregados da tarefa de auto-preservação. Ora, essa descoberta colocaria a metapsicologia diante de um problema de imensa relevância teórica: como manter o dualismo pulsional (cujo estatuto se pretende, como já mencionado, ontológico), se os únicos impulsos identificáveis do Eu são de natureza libinal? Por essa razão, a consolidação do conceito de narcisismo transtorna a distinção categorial inicial da teoria das pulsões, desautorizando o conflito figurado entre Eros e Ananké, ou Fome e Sexualidade, já que a distinção entre pulsões sexuais e pulsões do ego se encontra obscurecida na medida em que o ego é também investido libidinalmente. A rigor, tudo indica que, a partir desse momento, seria mais correto falar em libido do ego e libido objetal. O dualismo está evidentemente esfumançando-se, pois o ego passa a figurar como ‘o grande reservatório originário da libido’, a partir do qual a esta é enviada para os objetos, dos quais pode também refluir de volta para o ego. Doravante, portanto, será melhor falar em um conflito originado entre a libido objetal e a libido do ego, sendo necessário confessar que as pulsões de auto-preservação são também de natureza libidinal – pulsões sexuais que, em vez de objetos externos, haviam tomado o próprio ego como objeto. Se, apesar disso, Freud continua sustentando uma concepção dualista das pulsões, agora o faz às custas de provas dotadas de menor poder de convencimento. Do ponto de vista da consistência da teoria, dado o caráter manifestamente inconvincente das provas até então produzidas, seria, portanto, necessário decidir entre os membros de uma alternativa incômoda: ou bem postular a existência de impulsos do Eu de natureza não erótica, cuja designação precisa e direta não se pode levar a efeito – ou seja, não é possível indicar seus representantes –; uma condição teoricamente precária, mas indispensável para manter o dualismo pulsional; ou então renunciar a este e abraçar um monismo pulsional à moda de Jung, que, como vimos, considera termos sinônimos libido e energia pulsional. Freud mantém uma posição intrasigentemente dualista, sustentando sua posição numa estratégia argumentativa desenvolvida em dois tempos, que o habilita para edificar uma nova versão (ontologicamente dualista) da teoria das pulsões, embora sem poder indicar um representante direto, puro, sem mistura, das pulsões de morte. Seus representantes somente seriam inferíveis num campo de visibilidade em que se apresentam mais ou menos pronunciadamente fundidos ou coligados com as pulsões eróticas. Primeiramente, Freud vai recorrer às observações clínicas dos casos de sadismo e masoquismo. Com efeito, no sadismo e no masoquismo, embora se possa observar uma fusão entre Eros e agressividade voltadas para o objeto ou para o Eu, os grupos pulsionais se apresentam como necessariamente distintos e antagônicos em suas metas. Com efeito, 6 Mezan, R. Freud. A Trama dos Conceitos, 3a. Ed, São Paulo: Ed. Perspectiva, 1991, p. 262.
16
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
não é logicamente possível conciliar Eros-libido (cuja operação e finalidade consiste na ligação e preservação) com a destrutividade do ódio, com as tendências hostis, de caráter pulsional, voltadas para a destruição do objeto (é preciso lembrar, por exemplo, que o sadismo predominante na fase oral do desenvolvimento da libido coincide com a destruição do objeto). Se a hipótese é plausível, e os estudos sobre o narcisismo primário revelaram que é, então pode-se prolongá-la no sentido de supor que esse representante do grupo das pulsões não eróticas atesta sua natureza hostil, de pulsões de morte, pois que tanto podem conduzir à destruição do objeto na fase oral, como entrar a serviço da função sexual como domínio, voltado para assegurar a posse sexual do objeto e só aparece fundido com Eros. Assim, reconduzindo a polaridade pulsional constatável no sadismo e no masoquismo à polaridade ontológica entre pulsões de vida e pulsões de morte, mesmo com a atenuante de que os impulsos sádicos só seriam designáveis em fusão com as pulsões eróticas, ainda assim, mesmo nessa fusão, poder-se-ia apreender sua natureza originariamente destrutiva, não subsumível sob a categoria dos impulsos encarregados da função vital erótico-libidinal de ligação. Com isso, ficaria garantida a isonomia e a simetria ontologica dos dois grupos pulsionais compreendidos no dualismo, sendo que o grupo das pulsões de morte manteria até mesmo uma precedência relativa sobre os representantes de Eros no que concerne ao investimento objetal da energia dos instintos libidinosos. Freud chega mesmo a cogitar como plausível que o sadismo, expulso do ego, apontou primeiramente o caminho para os componentes libidinais do impulso sexual. Os representantes de Eros tê-lo-iam seguido em direção o investimento de objeto. Com isso, a eliminação das tensões ou quantidades de excitação pode ser tomada como a meta do processo vital, tal como já aparecia nas problematizações iniciais do princípio de constância e sua modificação pelo princípio do prazer. Nesse passo, o argumento retoma aquele fenômeno da revitalização dos organismos celulares por meio de sua esporádica mistura na forma mais primitiva da cópula entre seres orgânicos. De acordo com isso, a coalescência, ou o antecedente da união copulativa entre dois indivíduos unicelulares que se separam logo após a união, sem que qualquer divisão celular subseqüente ocorra, fortalece e rejuvenesce ambos os corpúsculos. Em suas gerações subseqüentes, eles não mostram qualquer sintoma de degeneração, resistindo mais longamente aos efeitos prejudiciais de seu próprio metabolismo. Freud considera a observação desse efeito da coalescência como caso típico dos efeitos da cópula sexual: a introdução de diferenças vitais, ou o aporte de novas quantidades de estímulo ou energia vital. Esse resultado é pe perfeitamente compatível com a hipótese de que os processos vitais do indivíduo levariam, por razões internas, a uma eliminação das tensões químicas, isto é, à morte. Em sentido inverso, a união (função típica de Eros) com a substância viva de um indivíduo diferente implica num aporte de tensões vitais, introduzindo novas ‘diferenças quantitativas’, ou cargas energéticas cuja elevação tem de ser em seguida compensada, abgelebt, como escreve Freud, isto é descarregadas pelo processo vital. 7 Verificamos, portanto que a introdução do conceito de narcisismo primário, assim como a derivação da polaridade pulsional do investimento objetal verificado nos casos de 7 Id. p. 65s.
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
17
sadismo e masoquismo nos permitem fixar novos resultados importantes, que conduzem ainda mais longe a especulação: a indiferenciação, de princípio, entre um investimento pulsional que parte do eu e se dirige aos objetos, ou queperfaz um circuito contrário, partindo dos objetos de volta para o Eu. Sendo assim, o masoquismo – isto é, o movimento de retração das pulsões de um investimento objetal em direção ao eu – seria, com toda propriedade, um retorno, isto é, uma regressão para uma fase mais antiga da organização psíquica. Em correspondência com isso, poder-se-ia cogitar tanto de um narcisismo primário quanto de um masoquismo igualmente primário, ao qual o indivíduo retornaria sob a forma psicopatológica da perversão masoquista, em que os componentes masoquistas se separam das pulsões eróticas e tornam-se independentes, passando a dominar a vida sexual – como também se pode observar nos casos de perversão sádica. Se, de acordo com o argumento, podemos concluir que a tendência dominante tanto da vida mental como da vida nervosa, em geral, é a tendência para reduzir, manter constante, (ou, como um optimum teórico) eliminar por descarga a tensão interna das quantidades de excitação (Princípio de Nirvana), torna-se legítima a inferência de acordo com a qual também o princípio de prazer é expressão dessa mesma tendência - conclusão que constitui uma das mais fortes razões para manter a postulação do dualismo e o reconhecimento de impulsos originários de morte atuando no interior do organismo vivo. Não obstante, se a pulsão de morte deve poder afirmar-se como conceito, é preciso que dê provas de seu valor heurístico, servindo como princípio para interpretar ao menos uma parte dos fenômenos que caem sob o olhar da psicanálise. É por esta razão que Freud se vê na contingência de buscar um exemplo – não uma confirmação – da atividade da pulsão de morte.8
Permanece, no entanto um problema a resolver: como entender o funcionamento das pulsões de auto-conservação, se a finalidade última de toda pulsão seria a destruição do organismo? Tal problema seria contornável com recurso à explicação de acordo com a qual cada organismo se esforça por evitar a perempção ocasionada por causas externas. Sendo assim, os impulsos de auto-conservação asseguram que todo organismo vivo se defende das ameaças externas de destruição, com o propósito ultimo de morrer sua própria morte, de lutar com todas as suas forças para assegurar essa possibilidade, de modo que as pulsões que integram o grupo da auto-preservação deveriam ser interpretadas como a defesa da maneira própria de morrer de cada organismo, e de cada espécie orgânica. Em conseqüência, os impulsos aparentemente garantidores da vida seriam, em derradeira instância, desvios de duração, atalhos, satélites da morte. Persiste, no entanto, a dificuldade de apontar na psicologia individual um representante da pulsão de morte, agora acrescida de outra adicional, não menos relevante: como enquadrar nessa explicação a tendência dos impulsos eróticos, cuja energia libidinal é investida na organização de unidades sempre mais amplas, numa trajetória que guarda semelhança com uma linha de evolução e aperfeiçoamento, distendida ao infinito? Ora, como conciliar esse traçado evolutivo com a tendência regressiva de toda pulsão? A especulação metapsicológica se coloca, pois, em presença de outro dilema: se 8 Mezan, R. Freud. A Trama dos Conceitos, 3a. São Paulo: Ed. Perspectiva, 1991, p. 262.
18
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
os impulsos eróticos se esforçam para unir os homens em organizações de uma ordem sempre mais crescente, impelindo-os para frente no sentido da vida, como verdadeiras pulsões de vida – o que encontra atestação empírica –, como atribuir-lhes um caráter regressivo, essência do pulsional? Qual seria o estado anterior da existência do organismo que as pulsões compreendidas no grupo dos impulsos de vida (ou sexuais) teriam por propósito restabelecer? De acordo com o programa freudiano de pesquisa para a metapsicologia, o preço a pagar pela plausibilidade do dualismo pulsional seria a necessária isonomia entre os grupos pulsionais, ou seja, sua comum originariedade no fenômeno da vida. Isso exige a transição necessária do plano da psicologia individual para a psicologia social. Caso contrário, sendo uma delas formação derivada e secundária, a conseqüência necessária seria a inevitabilidade ontológica do monismo. Se pulsões de vida e de morte não fossem impulsos originários, um deles seria inevitavelmente decorrência do desenvolvimento do outro. Tendo levado suas especulações até esse ponto, destaca-se ainda mais o principal objetivo, e, ao mesmo tempo, compromisso teórico de Freud: levar às últimas conseqüências suas hipóteses metapsicológicas. Ele pretende, com elas, resolver problemas que têm sua origem e campo de incidência na prática clínica, mas que são, em sua envergadura própria, dificilmente acomodáveis nos esquemas de teoria psicanalítica até então desenvolvidos. Para reformular esses esquemas, de modo a perfazer a explicação dos fatos e a superação da crise teórica por eles suscitada, Freud é obrigado a lançar mão de recursos aparentemente heterodoxos, como as analogias com as explicações filosófico-metafísicas, ou as ficções poéticas. Se tomarmos a sério a sugestão de Loparic, essa postura faria todo sentido no quadro do programa de pesquisa da Psicanálise praticada como ciência empírica. Trata-se de explicações metafóricas, ficções heurísticas úteis, em termos anteriormente postos em circulação por Kant, para a resolução de problemas psicopatológicos específicos. A metapsicologia seria, pois, “uma metafísica metafórica da natureza de tipo kantiano – superestrutura especulativa com fins apenas heurísticos e, por isso mesmo, não fundante”.9 Tentamos encontrar um reforço para esse diagnóstico de Loparic ao refazer o percurso argumentativo das especulações metapsicológicas à luz das as exigências teóricas do programa psicanalítico de pesquisa. As ‘ficções heurísticas’ teriam uma função superestrutural consistente em oferecer um arcabouço teórico para o regime das analogias estabelecidas entre as séries de fenômenos ordenados. No caso de Além do Princípio do Prazer, por meio da combinação de elementos oriundos da teoria do aparelho psíquico, dos modos de funcionamento primário e secundário, dos princípios de constância e nirvana, da teoria das pulsões. Em meio às contribuições colhidas junto à biologia, à antropologia, à filosofia, à literatura, à psicologia, a contribuição psicanalítica seria capaz de lançar um raio de luz nas trevas em que se debate a perplexidade teórica. Ora, é para esconjurar essa desorientação em meio à escuridão total que a especulação parte em busca de uma hipótese que, mesmo mítica, permitiria, depois de convenientemente iluminada pelo filtro da interpretação psicanalítica, prover uma explicação que permite cumprir uma das mais fundamentais condições a que se submete a investigação 9 Loparic, Z. De Kant a Freud: Um Programa. In: Revista Natureza Humana. Vol. 5, número 1, janeiro – julho de 2003, p.243s.
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
19
metapsicológica. Assim, metapsicologia se atreve a recorrer ao mito porque, fazendo-o, ela satisfaz uma condição incontornável que, uma vez satisfeita, supre e elo teórico faltante, e permite derivar geneticamente a origem de toda pulsão de uma necessidade de restauração de um estado anterior de coisas.10 Uma hipótese nesse sentido, mesmo que de natureza mítico-fantástica, satosfaz aquela condição originária que torna possível o ordenamento integral da série dos fatos a explicar, com base num regime regrado de analogias. O que Freud tem em vista, nesse momento da argumentação, é a explicação mitológica que Platão atribuiu a Aristófanes no Banquete, de acordo com a qual, tendo Zeus dividido em dois gêneros seres humanos originariamente hermafroditas, as duas partes (masculino e feminino) se esforçam desde então por restabelecer a unidade originária perdida. Recorrendo ao mito, Freud encontra um elemento originário para a ordenação dos fatos, como de princípio de inteligibilidade das analogias. É interessante observar que análogo recurso heurístico a uma hipótese ‘mitológica’ da horda primitiva e do parricídio originário satisfazia idêntica condição para a especulação desenvolvida por Totem e Tabu. Neste texto, a mesma metáfora do raio de luz11 lançado pela contribuição psicanalítica figurava como estabelecendo a mediação entre as explicações antropológicas, sociológicas, filosóficas, folclóricas, etnológicas e de ciência jurídica a respeito das relações entre totem e tabu, isto é, entre moralidade, sociabilidade e religião. Naquele caso, a Metapsicologia tornava possível a fecundação teórica da hipótese de Darwin sobre a horda primitiva pela teoria de Robertson Smith a respeito do significado da refeição totêmica. Com isso, a Psicanálise provia o ponto de vista central que permitia a compreensão de um conjunto regrado de analogias, ou, em outras palavras, a teoria do desenvolvimento da libido permitia aproximar, por analogia, o primitivo, a criança e o neurótico, bem como a psicologia social e individual, a filogênese e a ontogênese. No caso de Além do Princípio do Prazer, a narrativa platônica psicanaliticamente interpretada cumpre precisamente a mesma função exigida pelo programa de pesquisa: tornar plausível a tese do caráter regressivo também dos impulsos eróticos, lançando um raio de luz sobre o estado anterior de desenvolvimento do organismo que a pressão por eles compulsivamente exercida visaria restaurar: a saber, o hermafroditismo originário, uma condição da vida orgânica inequivocamente mais primitiva do que o organismo sexualmente diferenciado. Com isso, ficaria também assegurado o elo originário que serve de base para uma ordenação da série inteira de analogias desdobradas ao longo do texto. Nos dois casos, estaríamos diante do cumprimento da mesma condição, ou seja, de encontrar o elemento originário que serve de base para uma derivação genética, bem como para instituir, heuristicamente, um regime sistemático de analogias entre séries de fenômenos até então desconectadas. Desse modo, completa-se o movimento de explicação: todas as pulsões têm em comum a mesma natureza e caráter regressivo, que, por sua vez estaria relacionada à função mais primitiva e fundamental de toda substância vida, a saber, o retorno ao repouso do inorgânico, ou seja o princípio de Nirvana. A experiência comum atesta que o maior prazer que somos capazes de atingir, aquele resultante da satisfação sexual, está indisso10 Freud, S. op. cit. p. 68. 11 Cf. Totem e Tabu, frase de abertura do ítem nr. 3 do capítulo IV, intitulado O Retorno Infantil do Totemismo.
20
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
ciavelmente ligado a uma intensa descarga de energia psíquica. Essa experiência, a que todos temos acesso, reforça a hipótese de acordo com a qual a ligação de uma quantidade de energia pulsional seria uma função preliminar, cuja finalidade consiste em preparar a quantidade de excitação para sua eliminação final.12 Nesse caso, as pulsões eróticas, ou de vida, seriam, apenas desvios permanentes no caminho da morte. Contudo, nesse percurso desviante, atuaria um poderoso fator complicador, que mantém em adiamento perene o destino final: o retorno ao inorgânico não pode ser alcançado por força de uma contradição dialética que se institui entre sua meta e o caminho para alcançá-la. Não há como negar que a atração entre os sexos, no exercício da função regressiva visando o retorno à perdida unidade originária – e assim, reencetando o percurso em direção ao repouso no inorgânico – é também, ao mesmo tempo, a força que impele à obtenção do contrário dessa meta: a saber, a reprodução da divisão e do caminho em direção a complexos orgânicos cada vez maiores, cuja origem está necessariamente dada com a fusão de duas células germinativas. Desse modo, a morte final é inalcançável porque o caminho para ela é um desvio permanente: Quando, enfim, a potência da morte é reconhecida explicitamente, quando enfim essa imantação radical é desvelada, essa atração irresistível para o vazio, para a não-excitação absoluta, é nomeada, nesse instante um outro pólo adquirirá uma força inusitada: a vida. A junção das pulsões sexuais e das pulsões de autoconservação – Eros – vai adquirir a propriedade inquientante de ser perturbadora da ordem gélida do inorgânico. Essas ‘tensões’ são a condição do vital desde o seu aparecimento e são exatamente elas que a pulsão de morte visa anular.13
Mesmo que esses resultados não sejam suficientes para lançar luz sobre a totalidade das questões implicadas na especulação metapsicológica, eles permitem, no entanto, articular e compreender o conjunto dos elementos implicados na montagem do problema, assim como levar a cabo uma tentativa plausível, teoricamente consistente, de solução do mesmo. Salva-se o dualismo pela prova do caráter regressivo das pulsões eróticas, assim como de sua indestrutibilidade, propriedades que podem ser tomadas como características essenciais da pulsão. Que não seja o mesmo tipo de solução que poderia satisfazer in totum o modelo epistemológico do qual Freud parte, isso talvez possa ser debitado à natureza do objeto, a carecer de remanejamentos teóricos constantes. Mesmo assim, essa restrição não afastaria a Psicanálise freudiana de um programa de pesquisa determinado com base em um ideal de ciência, próprio de seu tempo, que descrê da onipotência, jamais, porém, da suficiência persistente e sempre retificável da sabedoria do deus Logos.
12 Ibid. 13 Monzani, L. R. Freud. O Movimento de Um Pensamento. Campinas: Editora da Unicamp, 1989, p. 229. * Oswaldo Giacóia Júnior é professor do Departamento de Filosofia – IFCH/Unicamp. E-mail: giacoia@ tsp.com.br
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
21
O GROTESCO
NA ESCULTURA DE ANTÔNIO AUGUSTO BUENO
MARCUS FABIANO GONÇALVES*
A
companhando o circuito das galerias de arte de Paris é fácil constatar que o grotesco tem estado bastante ausente. Comunico-me com alguns amigos de outros centros e eles me confirmam essa impressão. Em Nova York ou Londres também nada ou muito pouco do grotesco. Com efeito, não era para menos: nesses tempos de vacas magras, não convém agredir o cliente de um mercado tão seleto. E talvez as opções pelo acadêmico ou pelo vanguardismo em conserva sejam mesmo mais seguras, afinal sempre se pode contar com um senso comum que sem muito esforço reconhece algo como arte. Ou, para os mais ousados, a opção menos hostil acabe sendo pelo absurdo, que com suas muitas incógnitas tem o charme intelectual das superfícies aderentes a vários discursos. Entretanto, à diferença do absurdo, ao afrontar explicitamente o dito bom gosto, o grotesco constitui uma autêntica via de libertação do cativeiro do belo. É em último caso uma tentativa de resposta ao velho Kant quando se atreve a dizer que a arte não pode confinar-se ao regozijo íntimo, deixando-se seqüestrar pelo puro comprazimento sensório. Sem pretender recuperar todo esse debate, apresento a seguir algumas reflexões críticas e ensaísticas sobre fenômeno do grotesco desenvolvidas a partir da obra escultória do artista plástico gaúcho Antônio Augusto Bueno. A confusão à qual o grotesco se presta como opção temática de um vago contracânone deve-se em grande medida às ambigüidades dos usos predicativos concorrentes da
própria palavra grotesco, que pode ser tanto um substantivo como um adjetivo investido de uma potente carga reprovativa. Uma obra qualificada de grotesca é geralmente tida como uma obra ruim e não como uma obra a respeito de algo ruim. Além disso, o sentimento que emana da contemplação do grotesco por diversas vezes contamina o significado do seu ato criativo, engajando no desprazer do efeito estético intencionado – e via de regra alcançado – a ruindade mesma da obra, que é assim freqüentemente prejulgada segundo uma desconsideração do apanágio autotélico de sua artisticidade: ora, se não se concebe que a arte possa ter um fim em si mesma, essa finalidade vacante acaba resolvendo-se por sua adjudicação ao belo, justamente aquele belo posto em rota de colisão com a fealdade do grotesco. Os conteúdos aprazíveis, socialmente variáveis e significáveis, mudam de lugar a lugar e de tempos em tempos, muito embora possamos apontar sem dificuldade as evidentes permanências que esticam o fio da continuidade no varal das referências clássicas e, mais recentemente, até especular sobre as bases culturais e neurológicas1 do (des)prazer 1
Veja-se a esse propósito as pesquisas de Jean-Marie Schaeffer, em especial Adieu à l’esthétique (Paris, PUF, 2000); e Relativité culturelle ou universalité anthropologique? faux débats et vraies questions, in L’Esthétique: Europe, Chine et ailleurs, Yolaine Escande et J.-M. Schaeffer éds., Paris: Éditions YouFeng, 2003, p. 139-151.
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
23
estético. Arvorando-se para além do bom funcionamento da máquina sensório-reativa, as artes moderna e contemporânea abandonam a pretensão de apenas enfeitar o mundo ou de reproduzir a natureza. Postulando o feio e o sofrimento recalcados como uma parte do mundo a ser desnumbrada, a arte de hoje cuida de trazê-la à luz do real. Justamente por isso o grotesco não implica tão-somente uma afronta ao belo, mas também uma atitude que almeja restituir dignidade estética e reflexiva à repulsa. Sua legitimidade é portanto uma decorrência da verdade imanente ao horrendo, pois antes de pretender uma crítica à ética do belo, o grotesco propicia um desvelamento de suas estratégias de ocultação e dissimulação, contribuindo para desconstruir os andaimes que elevam e mantêm no topo o gosto refinado. Sua energia enunciativa não é haurida do bestial ou do fatídico, como na crueldade trágica, apesar de o grotesco portar também uma carga liberatória às zonas penumbrosas da negatividade. E ao revelar um tanto clandestinamente a topografia desse território, ele recorda que o feio deve existir até para que melhor se estabeleça o lugar do belo. O grotesco todavia não se vincula somente ao rústico ou ao tosco que fracassaram na busca de uma beleza normativa: explicitamente ele é antes aquilo que nunca a pretendeu. Justo por isso o grotesco não pode ser simploriamente apreciado como algo que está abaixo do belo, mas sim como o seu homólogo inverso no plano geral do gosto. O torpe, o ignóbil, o vil, o abjeto, o esconso, o asqueroso, o repugnante logram assim seus direitos à existência ao ocuparem um nicho desde sempre já estabelecido no sistema compreensivo de qualquer mortal. A estética do grotesco então diz: que a arte dê à luz o que há, e não apenas o que se julga que deveria haver. O fenômeno do grotesco deita raízes na Antigüidade e é inclusive anterior à sua atual denominação, cuja etimologia curiosamente provém de gruta. A palavra grotesco remonta ao século XVI, quando, em Roma, durante as escavações das termas de Tito e Trajano (construídas sobre as ruínas da Domus Áurea de Nero) a princípio acreditou-se que fossem grutas. O grotesco articula-se então com o cavernoso, e saltando sobre os séculos podemos chegar às gárgulas e ao terrificante eco imemorial que retorna das sombras habitadas pelo desconhecido, fonte do temor e da imaginação dispostos a preencher de mal as trevas. Daí o grotesco ser a matriz da deformidade do monstro oposto ao deus bom, belo e claro. Mas se o grotesco diz o sombrio e o gutural, também diz de quem não manifesta modos adequados: aquele que não é polido, aquele que vem lá das grotas, como freqüentemente os citadinos reprovam a incivilidade dos interioranos. Tomando-se o adjetivo impolido em sua dupla acepção, social e física – como rudeza ou boçalidade e como aspereza ou rugosidade – o grotesco que lhe é coextensivo então conota um desagrado simultaneamente moral e plástico. O mal é feio, o feio é ruim. Mas essa expressão do ruim não deve ser confundida com o mal feito da técnica artística. Terreno por excelência da desmesura e da ausência de harmonia que indicam os desvios da virtude, a encarnação
24
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
plástica do mal moral atinge uma de suas formas mais esmeradas com as caricaturas e os estudos do grotesco de Leonardo da Vinci. O grotesco na moralidade social foi tema recorrente em Baudelaire, cujo túmulo no cemitério de Montparnasse é guardado por uma sinistra escultura vampiresca, talvez sugerindo que os modernos souberam reivindicar do gótico a sua carga de pavor. Na verdade, já desde antes de Goya esse grotesco dos modernos fora desenvolvido em um discurso pictural preocupado com uma tipologia dos vícios, o que no entanto jamais lhe assegurou uma dignidade estilística autônoma ou um viés temático único. A presença do monstruoso medieval no mundo cristão renascentista punha sob suspeita o emprego da natureza como um inabalável ideal normativo para o belo. Rejeitada como um dado puramente natural, a fealdade espiritualizou-se como um elemento metafisiológico: ela necessitava manifestar a exteriorização da degradação causada por uma essência maligna capaz de nivelar a baixeza à pecaminosidade e de emparelhar esta ao diabólico. Doravante aleijões, bruxas, leprosos e acometidos pela peste ostentavam os estigmas daqueles que deveriam remir seus males pelo sofrimento. No entanto, essa cosmovisão do medievo ocidental engendrou também um outro mal, agora de ascendência pagã, menos grandiloqüente e catastrófico. Refiro-me aqui à tradição burlesca das festas e do riso popular analisada por Mikhaïl Bakhtine2. Moral e fisicamente menor, esse mal já trazia consigo o germe da sua própria anulação: o ridículo na sequiosidade dos sátiros, na caricatura do avarento ou nos arremedos do bufão. E será exatamente esse grotesco popular que afinará o reles, o informal e o plebeu em oposição direta às maneiras nobres dos ritos cavalheirescos. No caso do Brasil, vale recordar que o barroco da literatura de Gregório de Matos está impregnado da melhor vertente do escárnio oriundo desse grotesco popular. Séculos mais tarde, no seu célebre prefácio a Cromwell (1827), Victor Hugo exaltaria a modernidade cristã como a era capaz de suportar a dualidade entre o grotesco e o sublime ao reunir o popular e o elevado no drama romântico. Mas apesar do otimismo de Victor Hugo, a pecha do grotesco logo foi reclamada na desaprovação à escultura de Rodin em homenagem a Balzac. Quando a linguagem ordinária transmuta o material em espiritual, fazendo derivar um adjetivo de um substantivo, só uma dissecação analítica pode retornar ao sentido primevo por entre as camadas do uso quotidiano – procedimento este nem sempre acompanhado de bom grado pelo gosto majoritário. Monstruosidade obesa, feto colossal e aborto foram alguns dos epítetos empregados no achincalhe da obra exibida durante a exposição de 1898 exatamente ao lado de O Beijo. À parte os relativismos e os moralismos ingênuos, o gosto evidentemente se discute. E foi isso que Rodin tentou fazer com uma enorme pesquisa (e um grande atraso na entrega da escultura). 2 Mikhaïl Bakhtine, François Rabelais et la culture populaire au Moyen Âge et sous la Renaissance. Paris: Galimard, 1982.
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
25
Reunidos pela marca da degradação, o carnal, o burlesco, o terrível, o zoomórfico, o satânico e o escatológico compareceram a inúmeras retomadas do grotesco ao longo do século XX. Entre o riso e a náusea, dos monstros do cinema de terror aos programas de reality show, o grotesco progressivamente banalizou-se como fonte de curiosidade e entretenimento, acabando por neutralizar sua capacidade de discutir os grandes temas da miséria humana. Daí a virtude da obra de Antônio Augusto: conseguir estabelecer um lugar de autenticidade mesmo em um espaço contemporâneo saturado pela banalização do grotesco – a exemplo do trash, do brega e do kitsch que se exauriram na extravagância da violência recreativa ou na ironia narcisista da cafonice de passarela. A escultura de Antônio Augusto recupera e articula com a nitidez retrospectiva dos modernos aquela linhagem das questões mais relevantes suscitadas pela tradição medieval do grotesco: (1) a deformidade corporal do horrendo e (2) a crítica às maneiras e à moral do poder levada a cabo (3) pela corrosividade do humor burlesco. E é apenas aparentemente paradoxal que só um gosto, digamos, refinado – isto é, consciente de suas possibilidades e educado para transcender a atrelagem imediata da arte ao belo – consiga fruir plenamente do conteúdo evocativo de sua escultura. Trata-se obviamente de uma obra que desestabiliza tanto pela estranheza como pelo mal-estar que provoca. Mas a interpretação que lhe cinge ao registro do chocante parece-me de horizontes muito modestos. Quem acompanha a arte contemporânea sabe que mais nada propriamente choca. Ou, por outra, o que mais choca acaba sendo a esterilidade de um vanguardismo moribundo dado a encher as burras de poucos e insultar nossa inteligência com ridículas instalações e outras tantas quinquilharias anódinas. Ocorrendo como intuição estética, o impacto do medonho é a antecâmara onde encontramos um claro convite para que passemos às varandas da apreciação reflexiva, apesar de esta poder variar imensamente. Basta dizer que, certa vez, quando espiava de passagem a “cabine de esculturas” (uma espécie de vitrine no atelier de Antônio Augusto, na rua João Alfredo, em Porto Alegre) um mendigo aproximou-se furtivamente e perguntou-me: é verdade que é um negrão que faz essas coisas com gato morto? Naquele instante toda uma outra senda interpretativa se me abria: era o grotesco do macabro surgido da distorção do universo ritualístico das religiões afro-brasileiras praticadas por aquelas ruas de uma Cidade Baixa onde os terreiros até hoje vicejam. Contudo, o grotesco que ora destaco não é a única via de análise da obra de Antônio Augusto. A evisceração e o vazio das cavidades torácicas presentes em algumas de suas peças remetemme às carcaças pintadas por Chaïm Soutine na década de 1920; e a escultura O Rei, despojada de braços, pode ser interpretada como uma versão tridimensional dos aterradores estudos de Francis Bacon sobre o retrato do Papa Inocêncio X, de Velázquez. Embora menos longilíneas, ainda identifico em seu trabalho referências às figuras em cinemascope de Alberto Giacometti, um tributo bem pago em belas incorporações tanto do 26
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
traço aramado como da superfície irregular de seus bronzes. De outro lado, os seus desenhos e pinturas de cabeças recuperam algo da arte bruta proposta por Jean Dubuffet na década de 1940 e que iria mais tarde influenciar Basquiat. Para além das raias do grotesco, a originalidade de Antônio Augusto está em promover boas sínteses, nutridas pela ascendência de grandes mestres. Demonstrando uma apurada consciência do volume do corpo humano, é pela deformidade que ele confere alma às suas criaturas. Nelas, a escolha do material e das proporções alcança um nível ótimo: a crispação da carnadura e as dimensões um pouco superiores à escala humana conseguem estabelecer uma atmosfera de temor, na qual o que parece carne é fibra, e o que parece sangue é barro, fundando assim uma linhagem dos descendentes de um Adão gerado no inferno, personagens que são apresentados em corpo inteiro ou espostejados, sozinhos ou em família (veja-se a ótima série A Família Real). E sempre há nesses seres um avesso que aflora aos borbotões de uma espécie de magma: os tons terrosos que a fibra rouba aos moldes de argila remetem aos efeitos do fogo, um dos mais potentes deformadores do próprio corpo humano. O elemento cômico também reivindica sua presença. E ele fica por conta das expressões dos personagens, moldadas como genuínas máscaras da Commedia dell’Arte. Do barro à fibra, do orgânico ao sintético, é apresentada toda uma galeria teratológica de seres que fundem suas entranhas em corpos. E na anatomia desse derramamento de seus dentros, nem lhes faltam artérias de arame ou esqueletos de ferro. A abordagem temática das pernas e dos pés merece uma consideração especial. Ao apresentarem na maioria das vezes duas pernas, as criaturas de Antônio Augusto assumem um lugar inequívoco na escala evolutiva de Darwin: é do homem que aí se trata e não de qualquer ente fantástico. Exatamente por isso falo de pernas e não de patas. Robustas embora nem sempre bem plantadas, essas pernas revelam uma angustiante fragilidade. Algo de timorato e desairoso se anuncia em seus passos, uma irresolução ortopédica do equilíbrio, como no caminhar claudicante de algum ogro que nos convocasse ora à suspeita, ora à compaixão. Dentre as raras criaturas quadrúpedes, duas impressionam-me bastante. O Forasteiro da Seda é uma espécie de réptil primata. Rastejante e à espreita, sua atitude traiçoeira é a da hiena ou da raposa, embora o corpo de crocodilo ou de lagarto. Sendo a mais terrestre de todas as esculturas do autor, é a que melhor alude aos valores mais baixos da moral humana. O Espantalho também aparece como exceção aos bípedes. Apresentando-se como uma caixa sobre quatro finas pernas e ostentando minúsculos braços de vítimas da talidomida, essa escultura subverte a representação tradicional do boneco que lhe batiza, cuja compleição apresenta geralmente ampla envergadura em posição de crucificação. Suprimidos tais elementos intrínsecos ao conceito mesmo do espantalho, resta-lhe o reinvestimento do puro domínio semântico de sua literalidade: o medo que espanta – não mais reles pássaros, mas talvez agora homens postados diante de um possível espelho.
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
27
Paul Klee pensava que a arte, mais que reproduzir o visível, deveria ocupar-se de um tornar visível. Logo, pertence a esse ofício uma educação do olhar capaz desconfiar de tudo que por aí se disfarça em espelho e máscara. As esculturas de Antônio Augusto suscitam questões de primeira ordem sobre o corpo e o poder em uma sociedade cuja elite se exerce no prodígio concupiscente de unir o fútil ao irresponsável. Ousaria qualificar o grotesco de sua escultura como um grotesco autêntico, assim considerado na medida em que cautelosamente se afasta das redundâncias inócuas hoje tão disseminadas pelo imaginário pop das aberrações. O conjunto de sua obra ajuda a romper com o narcotismo da passividade alegre de quem vive em um país recordista em assassinatos e cirurgias plásticas.
* Marcus Fabiano Gonçalves é doutorando em antropologia pela École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris. Escreveu O Resmundo das Calavras (poesia, WS Editor, 2005).
28
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
WILHELM WUNDT (1832-1920) passado, presente e futuro – uma homenagem aos 175 anos do seu nascimento SAULO DE FREITAS ARAUJO*
H
á 175 anos, mais precisamente no dia 16 de agosto de 1832, nascia em Neckarau (nas cercanias de Mannheim) aquele que foi um dos maiores intelectuais alemães da segunda metade do século XIX: Wilhelm Maximilian Wundt. Filho de pastor, ele teve uma infância solitária e recebeu sua primeira educação de um tutor, que era assistente de seu pai. Mais tarde, iniciou seus estudos ginasiais em Heidelberg e, ao final destes, decidiu-se pela carreira de medicina, indo para a Universidade de Tübingen, onde seu tio F. Arnold (1803-1890) era professor de anatomia e fisiologia. No entanto, permaneceu lá por apenas um ano, retornando a Heidelberg para completar lá seu curso de medicina. Tendo se decidido pela carreira acadêmica, Wundt tornou-se em 1857 Privatdozent de fisiologia na mesma Universidade de Heidelberg e, em 1864, ausserordentlicher Professor de Antropologia e Psicologia Médica. De 1858 a 1865 foi assistente de H. v. Helmholtz (1821-1894) no Instituto de Fisiologia, período em que publicou seus dois primeiros livros: Beiträge zur Theorie der Sinneswahrnehmungen (1862) e Vorlesungen (1863). Sua obra mais conhecida, no entanto, são os Grundzüge der physiologischen Psychologie, que ele publicou em 1874, pouco antes de deixar Heidelberg para assumir a cadeira de Filosofia Indutiva na Universidade de Zürich.
Tendo permanecido apenas um ano em Zürich, Wundt assume em 1875 a cadeira de Filosofia em Leipzig, onde permaneceu até se aposentar em 1917. Em 1879 fundou o Laboratório de Psicologia Experimental, que veio a se tornar o primeiro centro mundial de formação de psicólogos, atraindo gente de vários países da Europa e do mundo. Fundou também, em 1883, um dos primeiros periódicos psicológicos do mundo – os Philosophische Studien, mais tarde renomeados Psychologische Studien. De 1900 a 1920, ano em que veio a falecer, dedicou-se principalmente à concretização do seu projeto de uma Völkerpychologie, que ele via como complemento necessário da psicologia individual na tentativa de compreender os processos psíquicos superiores. Com tudo isso, deu grande impulso ao desenvolvimento da pesquisa psicológica, tornando-se um dos principais fundadores da moderna psicologia científica. Até aqui falamos do passado. Mas por que festejar hoje, 175 anos depois, o nascimento de Wundt? Trata-se aqui apenas de uma curiosidade histórica? Ou teria ele ainda hoje algo importante a nos dizer? Antes de podermos responder a questão da sua atualidade, é preciso, em primeiro lugar, fazer um acerto de contas com a própria história e corrigir as inúmeras injustiças que têm sido cometidas nas apresentações e interpretações da vida e da obra de Wundt, que até hoje impedem uma apreciação mais isenta de seu legado. No presente trabalho vamos deixar indicados, de forma geral, os três principais tópicos que nos parecem mais urgentes: sua biografia, seu projeto de uma Völkerpsychologie e seu sistema filosófico. No que diz respeito ao primeiro ponto, apesar de todos os esforços já empregados, ainda não temos um trabalho biográfico suficientemente representativo sobre Wundt. As duas únicas biografias oficiais disponíveis até o presente momento – Meischner e Echsler (1980) e Lamberti (1995) – apresentam sérios problemas. A primeira, embora tenha o mérito de estar fundamentada em um cuidadoso estudo documental, apresenta um retrato de Wundt distorcido pela ideologia marxista-leninista, que prega, entre outras coisas, que todo trabalho intelectual deva ser enquadrado em uma das duas categorias de análise aceitas, a saber, ‘materialismo’ (conotação positiva) ou ‘idealismo’ (conotação negativa). Desta forma, toda a obra de Wundt é vista como uma mistura inadequada desses dois elementos teóricos, fato este que explicaria, na visão dos autores, as contradições de seu projeto psicológico. A segunda, embora esteja livre desta cegueira ideológica, peca no aspecto documental. Embora o autor apresente novos e importantes dados relativos ao período de Heidelberg, ele deixou de investigar muitas fontes originais disponíveis, o que acabou levando-o a repetir vários erros presentes na literatura secundária. A correção aqui deve ser dupla. Em primeiro lugar, Wundt nunca foi um defensor do materialismo, mas sim um eterno crítico, como procurei demonstrar alhures (Araujo, 2006). Em relação ao idealismo, seu pensamento contém, de fato, vários elementos da tradição idealista alemã – de Leibniz a Hegel –, mas até hoje não temos um único trabalho que mostre detalhadamente esta conexão. Qualquer acusação de idealismo que não venha acompanhada de tal detalhamento cumpre uma função meramente retórica, sem contribuir em nada para o entendimento de sua obra. Em segundo lugar, é preciso averiguar todas as fontes biográficas disponíveis, a fim de resolver várias imprecisões e contradições relativas à datação de certos acontecimentos importantes na vida de Wundt, sobretudo no que diz respeito ao período anterior à sua chegada em Leipzig. Em um trabalho recente, tentei dar uma pequena contribuição nesse sentido (Araujo, 2007a), que deve ser acrescida de muitas outras investigações. 30
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
Em relação ao segundo dos três pontos acima listados, é preciso esclarecer que a literatura secundária da segunda metade do século XX praticamente deixou a Völkerpsychologie em segundo plano, quando não a desprezou por completo, apresentando a psicologia de Wundt como uma psicologia preponderantemente experimental. Como exemplo, podemos ver que em alguns dos principais trabalhos publicados a partir da década de 1980, que têm como objetivo reavaliar a obra de Wundt (Bringmann e Tweney, 1980; Rieber e Robinson, 2001), a VP está praticamente ausente das discussões. Dois motivos contribuíram simultaneamente para essa situação. Em primeiro lugar, a recepção de Wundt nos EUA, a partir do início do século XX, ocorreu através de seus discípulos que, após estudar psicologia experimental em Leipzig, fundaram laboratórios semelhantes em várias universidades americanas. Assim, na ausência de traduções representativas de sua obra para a língua inglesa, Wundt foi identificado exclusivamente como psicólogo experimental. Em segundo lugar, os estudos feitos na antiga DDR, forçados a enquadrar Wundt nas categorias de análise permitidas pela ideologia marxista-leninista, nunca deram grande atenção à Völkerpsychologie, que era vista como “pecado idealista” em contraposição à psicologia experimental, esta sim verdadeiramente materialista. Diante disto, a correção urgente aqui a ser feita é um trabalho coletivo e exaustivo de interpretação das inúmeras facetas da Völkerpsychologie, levando em consideração também sua unidade conceitual. O recente livro de Jüttemann (2006) é um bom sinal nesta direção, devendo ser também complementado por muitos outros. Finalmente, o terceiro e último aspecto ausente na literatura secundária diz respeito à exata relação entre o projeto filosófico de Wundt e sua psicologia. Aqui a situação revela-se ainda mais grave do que no caso anterior, pois não há investigações detalhadas a esse respeito. Embora os contemporâneos de Wundt tivessem dedicados vários trabalhos ao seu sistema filosófico, nenhum deles logrou fazer uma análise suficientemente profunda da sua relação com o desenvolvimento de seu projeto de psicologia. Da segunda metade do século XX até hoje, só há um único livro dedicado à filosofia de Wundt (Arnold, 1980). O autor, contudo, devido ao seu comprometimento ideológico, só consegue ver relações com o ‘idealismo’ por toda a parte. Por outro lado, os trabalhos que pretendem analisar teoricamente seu projeto psicológico não fazem nenhuma conexão com o seu sistema de filosofia, limitando-se a certas afirmações de caráter mais genérico. O que parece ter passado despercebido à maior parte dos intérpretes atuais de Wundt, antes de mais nada, é que não foi a psicologia, mas sim a filosofia que ocupou o lugar central na sua obra. Wundt foi acima de tudo um filósofo, cujo objetivo último era elaborar um sistema metafísico universal – uma visão de mundo – baseado nos resultados empíricos de todas as ciências particulares. Nesse sentido, sua psicologia é parte integrante desse projeto maior e só pode ser adequadamente compreendida dentro dele. Quem não compreender isto, tratando-a isoladamente, jamais compreenderá o verdadeiro significado de seu trabalho psicológico. Nesse sentido, é preciso resgatar a íntima relação que existe entre psicologia e filosofia na obra de Wundt. Em meu trabalho recente (Araujo, 2007b), procurei mostrar como sua evolução filosófica determinou as mudanças que ele introduziu na sua concepção de psicologia, de forma que a fundamentação de seu projeto psicológico deve ser vista dentro desta perspectiva. Mas há muitos outros aspectos desta relação que merecem ser futuramente investigados, a fim de que façamos maior justiça ao pensamento de Wundt.
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
31
É exatamente dentro desta perspectiva que me parece adequado considerar a questão da sua atualidade. Se olharmos para a situação atual da psicologia científica, não é difícil perceber sua enorme dispersão teórica e sua frágil fundamentação filosófica. Muitos psicólogos, orgulhosos de sua separação institucional e de sua aparente autonomia intelectual, foram levando cada vez mais a sério a idéia de um desprezo pela filosofia, chegando mesmo a proclamar a total inutilidade das discussões filosóficas. Como conseqüência, vêem-se muitas vezes soterrados por uma montanha de dados empíricos isolados, que não são capazes de integrar em um todo coerente. Ou, o que é ainda mais grave, acabam defendendo posições filosóficas de forma ingênua e desarticulada, sem se dar conta de que as mesmas são a repetição camuflada de idéias há muito refutadas. Isso para não falar nas aplicações práticas da psicologia, que muitas vezes são oferecidas prematuramente, sem uma validação e uma fundamentação suficientes. Diante desse estado de coisas, o pensamento de Wundt pode ser visto como extremamente atual, na medida em que oferece uma perspectiva de combate a todos esses males. Em um seu belo escrito “A Psicologia na Luta Pela Existência”, Wundt já advertia contra os efeitos negativos daquela separação. A filosofia também sairia perdendo, segundo ele, mas a psicologia seria ainda mais afetada. Esta última jamais poderia prescindir de uma fundamentação filosófica sólida de seus princípios e conceitos, exatamente para evitar cair em contradições e posições ingênuas. Além disso, criticava também as aplicações prematuras da psicologia. Como a psicologia, no seu entender, estava ainda em estado de consolidação, ele via com reservas suas aplicações (Wundt, 1913). Com base nessas observações, certamente não faríamos mal se refletíssemos sobre a necessidade de uma reaproximação entre a filosofia e a psicologia, já preconizada há mais de um século por Wundt e hoje aparentemente ignorada. Respondida a questão da atualidade do pensamento de Wundt, podemos nos voltar agora para o futuro. Devemos esperar, em primeiro lugar, que a vida e a obra de Wundt sejam compreendidas em sua totalidade para poderem ser julgadas mais adequadamente. Em segundo lugar, que os psicólogos, em meio às suas atividades profissionais, não se esqueçam daqueles que tornaram possíveis essas mesmas atividades, sob o risco de perderem de vista o próprio significado delas. Nesse sentido, o nascimento de Wundt poderá servir sempre como ocasião para esta reflexão.
Referências Bibliográficas ARAUJO, S. F. (2006) Wie aktuell ist Wilhelm Wundts Stellung zum Leib-Seele-Problem? Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geschichte der Nervenheilkunde, 12: 199-208. ARAUJO, S. F. (2007a) Wilhelm Wundt als Assistent von Hermann v. Helmholtz an der Medizinischen Fakultät der Universität Heidelberg: Berichtigende Bemerkungen. In: Pfrepper, R. (Hg.) Medizin-, Pharmazie- und Wissenschaftsgeschichte vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Festschrift für Ingrid Kästner zum 65. Geburtstag. Aachen: Shaker (S. 185-192). ARAUJO, S. F. (2007b) A fundamentação filosófica do projeto de uma psicologia científica em Wilhelm Wundt. Tese de Doutorado. Campinas: UNICAMP. ARNOLD, A. (1980) Wilhelm Wundt – Sein philosophisches System. Berlin: Akademie-Verlag. BRINGMANN, W. & TWENEY, R. (eds.) (1980) Wundt studies: a centennial collection. Toronto: C. J. Hogrefe.
32
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
JUTTEMANN, G. (Hg.) (2006) Wilhelm Wundts anderes Erbe. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. LAMBERTI, G. (1995) Wilhelm Maximilian Wundt (1832-1920). Bonn: Deutscher Psychologen Verlag. MEISCHNER, W. & ESCHLER, E. (1979). Wilhelm Wundt. Leipzig: Urania Verlag. RIEBER, R. & ROBINSON, D. (eds.) (2001) Wilhelm Wundt in History: the making of a scientific psychology. New York: Kluwer Academic/Plenum. WUNDT, W. (1913) Die Psychologie im Kampf ums Dasein. In: Kleine Schriften, vol. III. Stuttgart: Kröner, 1921 (p. 515-543).
* Saulo de Freitas Araujo é professor do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
33
Xingu, de Edith Wharton: uma rede de sentidos
MARIA DAS GRAÇAS GOMES VILLA DA SILVA*
E
ste estudo analisa a narrativa Xingu (1916), de Edith Wharton, a partir da leitura feita por Derrida (1997) para o termo phármakon, empregado no Fedro, de Platão, para designar a escritura (grámmata) que, no mito de Thoth, é apresentada ao rei Thamuz como remédio para a memória e a instrução. Thamuz, no entanto, ressalta que há um equívoco: a escritura é boa para a recordação (hypómnesis) e não para a memória (mnéme), pois a escritura “repete sem saber”. Ao fazer essa ressalva, Thamuz transforma o “remédio” em “veneno” para a memória e o termo phármakon assim tratado revela ambigüidade de sentido (significado), pois pode ser tomado como remédio e veneno e atuar de forma benéfica e maléfica. Nascimento (2004) assim comenta a observação de Thamuz: O veredicto do Deus-Rei (Rei dos reis, Deus dos deuses) sobre a invenção de seu subordinado Thoth marca a oposição que se tornou clássica no Ocidente entre um lógos determinado pela memória viva (mnéme) e uma escrita subdeterminada pela simples recordação ou rememoração (hypómnesis), como fixada em caracteres mortos. Como se passa com o “livro do Filebo”, outro diálogo platônico, a teoria da linguagem no Fedro se estabelece a partir da oposição entre o vivo e o morto, a memória e a recordação, o modelo e a
imagem, a presença e a ausência. Isso é o que Derrida designa como logocentrismo: o privilégio do discurso falado, o lógos, na presença viva de seu pai-autor. (NASCIMENTO, 2004, p. 22)
O jogo de ambivalências, contido no texto platônico, perde-se na tradução do Fedro para o francês, feita por Léon Robin para as edições Guillaume Budé e que Derrida (1997) contrapõe ao texto grego. Para o filósofo francês, “o deus da escritura é um deus da medicina, que é, ao mesmo tempo, ciência e droga oculta. Do remédio e do veneno. O deus da escritura é o deus do phármakon. E é a escritura como phármakon que ele apresenta ao rei, no Fedro, com uma humildade inquietante como o desafio” (DERRIDA, 1997, p.38). Assim, phármakon não é um termo fácil de explicar. Derrida (1977), contrapondo o texto francês ao grego, aponta, a partir dos jogos de significados, uma rede de sentidos para o termo. “Estranha polissemia”, incorpora e aglutina, a um só tempo, no texto de Fedro, sentidos opostos, revelando-se como droga, filtro, mistura, poção, escritura. O jogo desta cadeia parece sistemático. Mas o sistema não é aqui, simplesmente, aquele das intenções do autor conhecido sob o nome de Platão. Esse sistema não é, em primeiro lugar, aquele de um querer-dizer. Comunicações regradas se estabelecem, graças ao jogo da língua, entre diversas funções da palavra e, nela, entre diversos sedimentos ou regiões da cultura. Essas comunicações, esses corredores de sentido, Platão pode por vezes declará-los, clareá-los, neles jogando “voluntariamente” – palavra que colocamos entre aspas porque designa, para permanecer nos limites dessas oposições, apenas um modo de “submissão” às necessidades de uma “língua” dada. (DERRIDA, 1997, p.43)
Outro aspecto importante é destacado por Nascimento (2004): A cena de julgamento do texto escrito, no Fedro, é uma cena de fundação da própria filosofia como instituição. Enfatizemos isso, pois à diferença de outras leituras de Platão, a de Derrida se interessa pelas forças que estão sendo agenciadas no discurso, e não pura e simplesmente por seu suposto conteúdo abstrato, ou suas “teses”. (NASCIMENTO, 2004, p.24) As forças agenciadas no discurso são, pois, o foco central no estudo dessa narrativa de Edith Wharton. Xingu designa os diferentes significados possibilitados pelo jogo do termo em situações distintas, provocadoras de “corredores de sentido” que, em conjunto com diversos sedimentos ou regiões da cultura, favorecem a crítica de Wharton ironizando a fatuidade
da sociedade americana e suas instituições. Assim, o termo atrai vários efeitos de sentido, envolvendo o leitor na situação cômica, em que são lançadas, na narrativa, as senhoras do Lunch Club, associação criada por uma das protagonistas para a discussão de questões culturais relevantes. A comicidade brota da exposição do esnobismo social oriundo do status econômico das associadas. O termo Xingu sustenta o enredo e, à semelhança de um phármakon-écriture, funciona como droga e veneno a um só tempo. É colocado em movimento a partir da aprovação de Mrs Roby como membro do clube e cuja presença tranqüila e franca tira a
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
35
confiança das associadas, operando como uma espécie de self-distrust, which her presence always mysteriously produced. (WHARTON, 1996, p. 156) Seu comportamento cria uma atmosfera de indeterminação que envolve as personagens, provocando a breach of discipline, (WHARTON, 1996, p. 101) que se opõe às regras estabelecidas para as reuniões. Mrs Roby não lê o que é proposto e, ao invés de participar das discussões do grupo, prefere jogar bridge. Ela as deixa, quando começam a debater as questões do dia. Não se importa com certas regras que, embora não claramente especificadas, devem ser observadas por todos os membros: ( …) and it was one of the unwritten rules of the Lunch Club that, within [the province of Mrs Plinth], each member’s habit of thought should be respected. (WHARTON, 1996, p. 146) Sob o jogo da ambivalência, a relação das personagens abre espaço para os paradoxos, provocados pelo termo Xingu na reunião de boas-vindas à escritora Osric Dane. Os membros do Lunch Club decidem ler e discutir o livro The Wings of Death (literalmente As asas da morte), de Dane, que, por sua vez, quebra todas as regras, sobretudo as não escritas. Na narrativa, Mrs Ballinger funda o Lunch Club, reunindo as “indômitas caçadoras de erudição”: Mrs Leveret, Plinth, Miss Van Vluyck, Laura Glyde e a recém-chegada, Mrs Roby. Embora sob restrições, Mrs Roby é acolhida pelas senhoras a partir da “avaliação de um homem”. Ausente de Hillbridge por bom tempo devido a uma viagem a terras exóticas, que as associadas não recordam mais qual é, Mrs Roby é apresentada ao grupo pelo festejado biólogo, professor Foreland, para o qual é “a mulher mais agradável que havia conhecido”. As senhoras deixam-se impressionar pelo prestígio e diploma do Professor e pela vantagem de “anexar” um membro ligado à Biologia. Contudo, Mrs. Roby revela-se um fiasco, desapontando os membros do grupo já em uma das primeiras reuniões, quando demonstra não conhecer o termo pterodactyl mencionado por Miss Van Vluyck. Confusamente murmura: I know so little about metres. (WHARTON, 1996, p. 142) Após esse desconforto, Mrs Roby prudentemente afasta-se das “ginásticas mentais do Clube”. As associadas, após “quatro invernos de almoços e debates”, conquistam a admiração local e decidem receber a famosa escritora Osric Dane, o que vai desencadear o confronto de forças e expor o caráter de todas elas. Um confronto inicial é a insistência de Mrs Ballinger em ser a anfitriã, o que move as demais a falar pelas costas que tal desejo é deplorável, cabe por direito a Mrs Plinth. Sua casa é cenário requintado e apropriado para receber celebridades. Mrs Plinth concorda com as associadas, orgulha-se de suas obrigações e de sua coleção de quadros que, segundo ela, está interligada com suas obrigações e fortuna, resultado do alto padrão de vida que criou para si. Seus empregados são altamente qualificados correspondendo a seu status. Portanto, o desejo de Mrs Ballinger, que dispõe apenas de duas empregadas, é deplorável. Sem grandes dúvidas, levadas pelo senso de oportunidade e pela agradável indecisão que se apodera das damas diante de um farto guarda-roupa, as senhoras não sentem o menor presságio sobre a adequada participação das associadas na discussão com figura tão importante. A visita da escritora é marcada por seu mau humor e pouca disposição para entender o propósito das senhoras. A convidada desestimula com questionamentos cáusticos o andamento da conversação. A presidente do Clube, querendo impressioná-la e agradá-la, resolve apontar o objetivo da associação: The object of our little club ( …) is to concentrate the highest tendencies of Hillbridge - to centralise and focus its intellectual effort ( …) We aspire ( …) to be in touch with whatever is highest in art, literature and ethics. 36
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
(WHARTON, 1996, p.150) E a convidada secamente pergunta: What ethics? (WHARTON, 1996, p. 150) Semelhante a um almoço mal digerido, o mau humor da convidada vai “intoxicando” os presentes à reunião do Lunch Club, até que o termo Xingu é lançado por Mrs Roby para provocar a escritora. A princípio, as senhoras se reabilitam, crendo que estão salvas, porém, com o andamento da reunião, acabam por experimentar desconforto, pois não sabem o que significa a palavra Xingu e vão percebendo que estão envolvidas em uma farsa. O “socorro” que lhes presta Mrs Roby para enfrentar a convidada é uma armadilha, cujo resultado é o comportamento tolo, a pretensão de todas elas e a sensação que experimentam de terem sido ludibriadas. A narrativa está dividida em três capítulos. O primeiro é dedicado à fundação do Lunch Club e ao convite feito à celebrada escritora Osric Dane e às boas-vindas na casa da Presidente, Mrs Ballinger. Os membros estão entusiasmadíssimos com o encontro, exceto Mrs . Roby que, após a dolorosa denúncia de sua incompetência, no evento relacionado ao termo pterodactyl, prefere manter-se distante das discussões. As associadas crêem que a Mrs Roby resta aceitar a generosidade do Clube em tê-la como membro, crença reforçada com a descoberta, em reunião que antecede a visita de Osric Dane, de que Mrs Roby não leu The Wings of Death. Mrs Ballinger, orgulhosa da associação que preside, decide favorecer Mrs Roby, insinuando que ela pelo menos se familiarize com a obra antes do festejado encontro. Roby relata já ter folheado outra obra da escritora, The Supreme Instant, na visita feita ao irmão no Brasil, mas, infelizmente, ao levar o livro em um passeio de barco pelo rio Xingu, deixou que, incidentalmente, o livro caísse em suas águas. Mas, acrescenta que ultimamente, toda sua atenção está voltada para livro de Trollope que a diverte e muito. As senhoras chocadas afirmam que não lêem livros que divertem e muito menos Trollope que ninguém mais lê. A partir daí, as opiniões se voltam para o livro de Osric Dane. Mrs Leveret acha que ele eleva. Miss Van Vluyck pensa que está imbuído do mais amargo pessimismo, mas instrui. O jogo com os sentidos das palavras recrudesce. Mrs Leveret agita-se com o termo suscitado, sempre pensou que elevar e instruir fossem sinônimos. Para Mrs Glyde, o que merece destaque é o sentido do livro de Dane que, por resultar em algo horrível, acaba tendo seu sentido velado pela própria escritora temerosa do resultado.Várias questões são levantadas e particularmente é ressaltada a questão de que um livro pode instruir desde que eleve. Contudo, é o tone-scheme of the black on the black (WHARTON, 1996, p.145) que é sublinhado, característica da atmosfera da obra e que parece explicitar o que virá adiante. O capítulo 1 encerra-se com a conclusão de que Mrs Roby não deveria constar como associada. No capítulo 2, o foco recai sobre o dia da visita de Osric Dane. Mrs Leveret chega cedo à casa da Presidente, Mrs Ballinger, portando seu inseparável livro de bolso, Appropriate Allusions. Está insegura e o pequeno livro não oferece o apoio que lhe dá nas emergências sociais como casamentos, aniversários e batizados. Embora saiba de cor as citações, elas as desertam nos momentos mais críticos só restando uma que jamais esquece: Canst thou draw out leviathan with a hook? Mrs Leveret jamais encontrou ocasião em que pudesse aplicá-la. A citação bíblica consta do versículo 1 do Livro de Jó 41:15-17. Faz referência à possibilidade de tirar o enorme leviatã do mar ou do rio com anzol, como faz um pescador com seu caniço para pescar peixes pequenos. A pergunta sugere impossibilidade, pois leviatã, quer seja uma baleia como em geral é considerado, quer seja um
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
37
crocodilo ou uma orca (espécie de baleia com muitos dentes) ou ainda, um animal em forma de serpente, dificilmente será apanhado por um simples anzol. Leviatã é termo de difícil definição, talvez, advinda das várias interpretações bíblicas que lhe foram atribuídas, o que coloca em destaque sua “estranha polissemia”. É um termo composto: a primeira sílaba corresponde a thanni, traduzida ora como baleia ora como dragão ou até mesmo serpente; a segunda, levi, significa associação (conjunção), indicando a possibilidade de associação com a palavra crocodilo, cuja denominação é thannin (cf. Eze 29:3, 432:2). Os dicionários indicam sentidos variados. Para o Collins Cobuild English Language Dictionary, leviatã é something which is extremely large and difficult to control, and which you find rather frightening, a word used especially in sociological texts. No Dicionário da Língua Portuguesa de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, o termo vem do hebraico liwjathan, ‘animal que se enrosca’. Monstro do caos, na mitologia fenícia, identificado, na Bíblia, com um animal aquático ou réptil. Assim, nesse capítulo, fica registrado, em uma espécie de presságio oculto na citação, que algo monstruoso virá de rio ou de mar (quem sabe) e se enroscará no “anzol” das associadas. Estas, em meio à situação caótica, terão que enfrentar com dificuldades o “animal amedrontador” de difícil definição. Entre o sentido de inadequação das associadas no evento, propiciado pela citação na narrativa, duas questões complexas parecem ser propostas: a dificuldade de se aplicar uma única definição para um termo ou, até mesmo, para um texto, o que inclui também o texto de Osric Dane e a dificuldade de se definir um termo fora de contexto, o que é demonstrado, posteriormente, pelo emprego de Xingu. Este parece servir de “armadilha” ou “anzol” para apanhar “peixes pequenos” como parecem ser as associadas do Lunch Club, concorrendo para o estabelecimento do tipo de refeição que se aproxima. O jogo de significados está lançado. Assim, como no texto bíblico leviatã flutua nos sentidos mais diversos, todo o encontro está fadado a muitas variações de sentidos. Tal situação expõe o quão intricado é o ato de escrita, interpretação e leitura. O nome de Mrs Leveret se deixa apanhar nesse jogo, lembra lebracho, lebre pequena e bem jovem, o que reforça o desajuste de sua presença a esse tipo de reunião. Contudo, mesmo sendo uma “lebre bem jovem” intui que só milagrosamente, no encontro com Osric Dane, conseguirá recorda-se de uma alusão e se o fizer it would be only to find that Osric Dane used a different volume (Mrs Leveret was convinced that literary people always carried them), and would consequently not recognise her quotations (WHARTON, 1996, p. 147). O capítulo 2 abarca, portanto, o problema da escrita/leitura/interpretação e inclui os gêneros mais diversos, discutidos ou lidos pelas associadas ou simplesmente expostos, como é o caso dos livros que estão sobre a mesa da Presidente (Marx, Bergson, Santo Agostinho). A variedade de gêneros põe em foco a descontinuidade no trato dos temas e ressalta o despreparo ou a presunção das associadas. É sob essa atmosfera instável que Osric Dane recebe as boas vindas, acompanhadas da observação furtiva de Mrs Roby: What a brute she is! (WHARTON, 1996, p.149) No encontro, Osric corta em pedaços as presunções das senhoras, levando-as nas “asas da morte” de suas arrogâncias. Laura Glyde, na reunião anterior à visita, comenta o livro, como se o estivesse planando (gliding) furtivamente: no one can tell how The Wings of Death ends. Osric Dane, overcome by the awful significance of her own meaning, has mercifully veiled it – perhaps even from herself – as Apelles, in representing the sacrifice of Iphigenia, veiled the face of Agamemnon (WHARTON, 1996, p. 144). A menção ao sentido 38
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
velado no texto de Osric a Apelles, (252-308 BC) pintor grego, mestre da composição do claro-escuro e, ao sacrifício de Ifigênia, na representação do pintor, reforça a sutil montagem da armadilha na qual estão todas envolvidas em nome da comunidade e de outros interesses. Na peça de Eurípedes, (480-406 a.C.) Ifigênia (2006), a filha mais velha de Clitemnestra e do comandante Agamêmnon, rei de Micenas, é levada ao sacrifício pelo próprio pai que deve satisfazer o desejo da deusa Ártemis a fim de que os navios de sua propriedade possam sair do porto de Áulis, onde estão imóveis por falta de vento. Agamêmnon atrai a filha a Áulis a pretexto de casá-la com Aquiles. No entanto, o que está em questão é a obrigação do rei salvar o irmão, Menelau, cuja esposa, a bela Helena, foi raptada, ou, quem sabe, se apossar das riquezas de Tróia. Armadilha preparada, a princesa Ifigênia se vê envolvida na disputada entre gregos e troianos. A perfídia do pai revela intensa crueldade: a virgem é forçada a abandonar o sonho de casar-se para morrer em nome da pátria, da religião e do pai que, amparado pelo povo que se deixa mover pela religião, crê nas previsões de Calcas, o que parece justificar a violência contra a inocente Ifigênia. O gesto de Agamêmnon, cobrindo o rosto com a ponta de seu manto, representa a monstruosidade que pratica em nome da religião e da pátria sem sequer consultar a princesa. Mas Ifigênia decide enfrentar o sacrifício em nome da glória e da honra de sua pátria e descobre ao final que Calcas interpretou mal o desejo de Ártemis. Mas, o vento volta a soprar garantindo o movimento dos navios paternos. Eurípedes, autor de uma das versões de Ifigênia em Áulis, nas cenas iniciais, mostra o rei em conflito por ser obrigado a protagonizar tamanha crueldade por força das crenças e costumes. Em suas peças, submete ao debate e à reflexão temas variados, geralmente, questionando a tradição, os hábitos e os costumes comunitários mostrando suas principais contradições. Em Xingu, o encontro com Osric Dane parece oferecer oportunidade semelhante. Na reunião, o embaraço das senhoras é observado por Mrs Roby que went on placidly sipping her chartreuse. (WHARTON, 1996, p. 151) Perdidas em deplorável ineficiência, não causam boa impressão à homenageada. Mrs Roby tenta “salvá-las”, após Mrs Ballinger dizer: We’ve been so intensely absorbed in - Mrs Roby put down her liqueur glass and drew near the group with a smile. In Xingu? she gently prompted. (WHARTON, p. 152) (grifo nosso). Nesse instante, Xingu desvela seu sentido de remédio, pois devolve a confiança às senhoras e lhes tira todo o desconforto, mas atua também como veneno, obrigando a audaciosa Osric Dane, que não sabe o que é Xingu, to dissemble these momentary signs of weakness. (WHARTON, 1996, p. 152) Em um único lance, as associadas também são “lançadas” às águas do Xingu, pois desconhecem, ou melhor, não recordam o que é Xingu. Osric Dane não escapa do mergulho e se deixa apanhar no jogo sagaz iniciado por Mrs Roby: but as you have shown us that – so very naturally! – you don’t care to talk of your own things ( …) so we’re dreadfully anxious to know just how it was that you went into the Xingu. (WHARTON, 1996, p.153) A questão posta à escritora é jocosa, visto ser impossível para ela saber do que se trata. No entanto, é um “lembrete” às esquecidas senhoras que não conseguem perceber o esforço despendido por Mrs Roby para lembrá-las da história que lhes contou sobre o livro, The Supreme Instant, que caiu no Xingu. A armadilha está pronta para todas elas, mas, em especial, para a escritora que terá que se esforçar para atinar com um sentido que lhe escapa. É um instante de júbilo supremo que as senhoras deixam escapar por serem presunçosas, o que parece mover os desejos de Mrs Roby.
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
39
A ironia completa seu ciclo impulsionando a instabilidade dos sentidos e abarca os nomes das senhoras, o próprio nome da associação, Lunch Club, inadequado a um clube, que se propõe o estudo de questões culturais e científicas e mostra o descompasso entre a presunção e a realidade vivida por seus membros. Os títulos das obras de Osric Dane (The Supreme Instant e The Wings of Death) também oscilam em sentido sob o contexto instaurado pelo termo Xingu, o que provoca uma série de desencontros, indicando o caráter de Osric e a atmosfera do evento. O comportamento de Mrs Roby, roubando a cena com sua sugestão e sorriso, compõe as últimas gotas de veneno/remédio instilado em todas elas. A partir desse instante, fraquezas são reveladas, confirmando os pressentimentos de Mrs Leveret: Felt like a passenger on an ocean steamer who is told that there is no immediate danger, but that she had better put on her life-belt. (WHARTON, 1996, p. 147) O “mergulho” no Xingu não envolve apenas o livro de Dane, mas também as próprias senhoras que, esquecidas do que lhes tinha sido narrado, flutuam no fluxo de Xingu, espécie de transbordamento que deixa os sentidos em oscilação. O “mergulho” leva de roldão a obra de Dane e as próprias senhoras que, entregues à agitação do momento, apanhadas inocentemente na armadilha instaurada com a leitura do livro de Dane, fingem saber o que não sabem, deixando às claras a estratégia que adotam, quando tratam de assuntos para os quais não têm competência. Dessa forma, The Wings of the Death, motivo do encontro, cujo sentido não se deixa revelar, metaforicamente mergulha nas águas do rio Xingu, monstro tenebroso a desafiar a pretensão de todos na sala. A questão posta por Mrs Roby: how it was that you went into the Xingu ganha sentidos extras: é isca para despertar a atenção das desatentas senhoras, é anzol que busca prender a tenebrosa Osric Dane. Nesse jogo, a citação que Mrs Leveret jamais soube aplicar: Canst thou draw out leviathan with a hook? ganha tons irônicos, pois o monstro que não se deixa apanhar leva de roldão também as associadas. A “estranha polissemia” de Xingu abre-se a diferentes interpretações. Babelicamente, o termo flutua nas mais surpreendentes definições e sentimentos, explicitados comicamente pelas senhoras que se deixam levar em seu fluxo: Surely every one must feel that about Xingu, I have known cases where it has changed a whole life, It has done me worlds of good. (WHARTON, 1996, p. 154) Aparecem também os tons sarcásticos: Mrs Roby pursued ( …) And it isn’t easy to skip ( …) Ah, it’s dangerous too, in Xingu. Even at the start there are places where one can`t. One must wade through. I should hardly call it wading, said Mrs Ballinger sarcastically. Mrs Roby sent her a look of interest. Ah – you always found it went swimmingly. (WHARTON, 1996, p. 154)
Após a reunião, precipitadamente encerrada com a partida de Mrs Roby que vai jogar bridge, seguida, inesperadamente, pela escritora, as senhoras tentam e conseguem desvendar novos sentidos para Xingu, formando uma história diferente que envenena ainda mais as associadas com seus efeitos e sub-repticiamente busca um caminho para educá-las: I understood from Mrs Roby herself that the subject was one it was as well not to go into too deeply?”, “Laura Glyde bent forward them with widened eyes:
40
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
“And yet it seems – doesn`t it? – the part that is fullest of an esoteric fascination?”, “Well, didn`t you notice how intensely interested Osric Dane became as soon as she heard what the brilliant foreigner – he was a foreigner, wasn`t he – had told Mrs Roby about the origin – the origin of the rite – or whatever you call it? (WHARTON, 1996, p. 159)
Os desentendimentos revelam a crescente animosidade entre elas e o seu despreparo para a discussão e para os sentidos ocultos, em virtude da descoberta de que Xingu é um rio do Brasil, o que reforça o ódio a Mrs Roby: Oh, what does it all matter if she’s been making fools of us? I believe Miss Van Vluyck`s right – she was talking of the river all the while!” “How could she?” It`s too preposterous,” Miss Glyde exclaimed. (WHARTON, 1996, p. 163) Na confusão, Xingu, definido como romance, rito esotérico e insinuações sexuais, surge com seu real sentido deixando as senhoras estupefatas e the word seemed to snap the last thread of their incredulity: She said it was awfully deep, and you couldn’t skip – you just had to wade through, Miss Glyde added. ( …) There`s nothing she said that wouldn`t apply to a river – to this river! (WHARTON, 1996, p. 164) Desnorteadas, iniciam um flashback e uma nova série de sentidos se desvela. Xingu, na enciclopédia consultada pelas senhoras, oferece um grande fluxo de significados: um importante rio do Brasil, aurífero, alimentado por inúmeros braços de rios, descoberto por um explorador alemão durante uma expedição difícil e perigosa através de região habitada por tribos que vivem na idade da pedra. Nesse terreno perigoso e acidentado, a travessia pelos significados mostra-se desafiadora. Desta forma, pode-se considerar Xingu como o produtor de uma écriture phármakon que abre espaço para a ambigüidade de sentidos em que flutuam os termos: rio, fluxo, ramos, fonte, passagens, tribos da idade da pedra, profundidade e o próprio Xingu. Nessa rede de ambigüidades, os significados fluem de Xingu e formam um corredor de sentidos no qual a ironia, reforçando a crítica à sociedade americana, tem papel preponderante, fruto das forças agenciadas no discurso. O termo, vindo de fora tal qual um estrangeiro, espécie de promontório (foreland), estende-se ao mar de esnobismo social das senhoras americanas, quando o professor Foreland traz de lugar distante a intrusa, Mrs Roby, que, recebendo as boas vindas das desconfiadas senhoras, desvela-lhes o orgulho e pretensão. Xingu-rio, nas tramas do texto de Wharton, rompe os limites, interno e externo, como Foreland, ao trazer um elemento estranho – the most agreable woman he had ever met (WHARTON, 1996, p. 142) - para conviver com as senhoras e tirar-lhes a segurança. Como o nome do professor indica, o promontório ou terra fronteira (foreland) expande os limites e, desvelando o efeito da écriture phármakon, como aponta Derrida (1997), expõe a estranha différance entre o dentro e o fora. O termo atua como antídoto que, trabalhando contra o exterior (o que vem de fora) revela de que é feito o interior (o contexto das senhoras americanas) e, ao fazê-lo, deixa um rastro de sentidos plenos de ambigüidades, que constituem fonte de prazer para o leitor, enquanto a escrita venenosa/curativa revela a busca de cura/remédio para a sociedade americana da época. Contudo, na narrativa, a sacrificada é Mrs Roby. Após os incidentes, a presidente de associação tão ilustre, Mrs Ballinger, instigada pelas associadas e, particularmente, por Mrs Plinth, senta-se em sua escrivaninha e pushing away a copy of “The Wings of Death” (…) drew forth a sheet of the club’s note-paper, on which she began
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
41
to write: “My dear Mrs Roby”, (WHARTON, 1996, p.166) confirmando, de certa forma, o significado oculto que Laura Glyde intuía em The Wings of Death e o relacionava à figura de Agamêmnon ocultando a face para não enxergar o horror que é condenar um inocente em nome da religião e do povo. Tais imbricações de sentidos provocadas pelo emprego do termo Xingu por Edith Wharton ressaltam a “estranha polissemia” que incorpora e aglutina, a um só tempo, sentidos opostos, revelando-se como droga, filtro, mistura, poção, escritura.
Referências bibliográficas BRISOU-PELLEN, E. Uma armadilha para Ifigênia. São Paulo: Edições SM, 2006. DERRIDA, J. A Farmácia de Platão. São Paulo: Iluminuras, 1997. NASCIMENTO, E. Derrida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2004. WHARTON, E. Ethan Frome and Other Stories.Philadelphia: Running Press, 1996, p.139-166.
* Maria das Graças Gomes Villa da Silva é Professora do Departamento de Letras Modernas – Área de Língua Inglesa e Literaturas de Língua Inglesa – da Faculdade de Ciências e Letras da UNESP-Araraquara.
42
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
EL LABERINTO DE LA GUERRA TRES DERIVAS HOBBESIANAS1
OMAR ASTORGA*
N
orberto Bobbio trazó una línea quizás muy simple pero muy reveladora del desarrollo de la filosofía política moderna. Es una suerte de curva que tomó dos grandes direcciones. Por un lado, el movimiento ascendente que va del individuo y la sociedad al Estado, tal como se aprecia en el período que va de Hobbes a Hegel. Y por otro, el movimiento que va del Estado a la sociedad, tal como fue interpretado por el marxismo. Se trata de una curva (y de una historia) cuyo desarrollo es claramente visible en el lapso que va del siglo XVII al siglo XIX.21 Pero ya desde el siglo XIX y sobre todo en el siglo XX, nos encontramos con un mapa cada vez más complejo de variadas líneas de fundamentación del Estado donde se enfrentan y luego se cruzan el liberalismo y la socialdemocracia, y donde sobre todo asistimos al surgimiento de tendencias extremas que van del totalitarismo al así llamado pensamiento neoliberal de finales del siglo XX. Habría entonces que advertir que la curva ascendente de justificación del Estado no va solamente de Hobbes hasta Hegel, sino que
Texto leído en el XI Simposio de Filosofía Moderna y Contemporánea, realizado en Toledo, Brasil, del 13 al 17 de noviembre de 2006. 2 Norberto Bobbio, Il modelo giusnaturalistico, en Societá e Stato nella filosofia política moderna, Milano: Il Saggiatore, 1979. 1
encuentra, por ejemplo, en la obra de Schmitt o, más tarde, en el neocontractualismo de Rawls un momento crucial de reinterpretación2. Y si consideramos la línea marxista que propone el tránsito del Estado a la sociedad, vemos que aparecen en el siglo XXI, después de los fracasos del así llamado socialismo real, interpretaciones como las de Antonio Negri o Paolo Virno, quienes plantean el paso del imperio global a la multitud.3 Se trata de una historia de posiciones antagónicas o de una multiplicidad de puntos de vista que hace cada vez más difícil trazar un mapa interpretativo de las diversas formas como se ha pensado la política. Sin embargo, curiosamente, podemos observar que pensadores colocados en espacios doctrinarios muy distintos, un teórico e historiador liberal como Bobbio, un filósofo del Estado absoluto como Schmitt y un marxista postmoderno como Antonio Negri, coinciden al menos en advertir que el desarrollo del pensamiento político moderno va de la fundamentación del Estado a la justificación de su crisis. Pero se podría decir que se trata apenas de una coincidencia historiográfica. Sin embargo, detrás de esa coincidencia existen algunos vasos comunicantes que permitirían agrupar a diversos teóricos de la política cuyas doctrinas han estado muy distantes. Por ejemplo, si seguimos las pistas que ha dejado el trabajo historiográfico de Bobbio, y tomamos como referencia la obra de Kant, podríamos destacar el enorme valor que se le atribuyó a la obra de Thomas Hobbes, cuyo modelo teórico es inevitable para la comprensión de la filosofía política moderna. Ahora bien, creemos que en ese modelo el concepto de guerra –cuyo origen se encuentra en la teorización del estado natural- es el más fecundo, si se toma en cuenta que es el principio de fundamentación del contractualismo moderno. Bobbio, ciertamente, dio cuenta de las variaciones que sufrió el modelo hobbesiano entre los siglos XVII y XVIII, a la cual podríamos añadir los diversos ajustes que introdujo el neocontractualismo de la segunda mitad del siglo XX, pero creemos que el concepto de guerra es la semilla clave que le dio fuerza teórica y doctrinaria a dicho modelo al menos en el desarrollo del liberalismo que va de Locke a Kant. Permítasenos simplificar este punto diciendo que el liberalismo contractualista moderno que da lugar a la idea del Estado republicano tiene un vínculo directo con el concepto hobbesiano de guerra. Pero es necesario insistir que en el desarrollo de la filosofía política moderna, especialmente en ocasión de las dos guerras mundiales, se han producido también ejercicios de fundamentación del Estado, no subordinado a las exigencias del derecho, sino concebido como ejercicio máximo y autónomo de la soberanía. Quizás uno de los ejemplos más reveladores se halla en la obra de Carl Schmitt, a quien podríamos llamar un hobbesiano coherente y radical, no solamente por haber recuperado nociones fundamentales a partir de la idea del estado de guerra, sino también por haber reivindicado la vigencia teórica de la soberanía. Es conocida la admiración y el entusiasmo que despertó la idea del Leviatán en este pensador vinculado estrechamente al nazismo de mediados del siglo XX.4 Si nos vamos a otra posición, la de Negri, quien intenta ir más allá de la fundamentación del Estado nación al examinar la historia globalizada del “Imperio” y de éste al 2 Carl Schmitt, El concepto de lo político, en Carl Schmitt, Teólogo de la política, Prólogo y Selección de Textos de Héctor Orestes Aguilar, México, FCE, 2001. John Ralws, Teoría de la Justicia, México: FCE, 1979. 3 Paolo Michael Hardt – Antonio Negri, Multitud. Guerra y democracia en la era del imperio, Buenos Aires: Editorial Debate, 2004. Paolo Virno, Gramática de la multitud. Para un análisis de las formas de vida contemporánea, Madrid: Traficantes de sueños, 2003. 4 Carl Schmitt, El Leviathan en la teoría del Estado de Thomas Hobbes, Granada: Editorial Comares, 2004.
44
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
proyecto político de la “Multitud”, nos encontramos, curiosamente, con la circunstancia de que un pensador antihobbesiano, antiliberal, más bien marxista y spinoziano, termina haciendo uso, en una obra fundamental de su madurez, del concepto de guerra, hasta el punto de que la guerra da título al primero y fundamental capítulo de su libro, y es utilizada a lo largo de toda la argumentación destinada a justificar su interpretación del fenómeno de la multitud. De Negri podríamos decir lo mismo que él afirmó de Macpherson en la edición italiana del libro dedicado a explicar la teoría política del individualismo posesivo.5 Negri afirma allí, irónicamente, que Macpherson no es un marxista sino un hobbesiano. No llegaremos al punto de llamar del mismo modo a Negri, pero estamos convencidos que este pensador italiano hizo un uso sostenido del concepto hobbesiano de guerra para formular su proyecto de la multitud. Tres posiciones, entonces, que se juntan en su acercamiento parcial o total a la obra de Hobbes. De un lado, el liberalismo que se encuentra en la línea que va de Locke a Kant, y que se alimenta, de diversas maneras, del pensamiento de Hobbes. Por el otro, el decisionismo que Schmitt funda directamente en el concepto y en la imagen del Leviatán. Y, finalmente, la fundamentación hobbesiana que encontramos en el neomarxismo de Negri. En los tres casos podremos observar, cómo, por diversas vías, se prolonga la influencia de la filosofía política de Hobbes, especialmente a través de la idea de la guerra. Por ahora, vamos a mostrar de un modo sucinto la manera como se mantiene la idea hobbesiana de la guerra en el pensamiento político moderno y contemporáneo en tres autores fundamentales: Kant, en cuya obra se distingue la justificación del Estado liberal de derecho; Schmitt, quien trata de fundamentar la existencia del Estado absoluto; y Negri, que plantea el proyecto político de la multitud frente al fenómeno de la globalización.
I De entrada podríamos preguntarnos ¿hasta qué punto fue Kant un seguidor de Thomas Hobbes? sobre todo si se reconoce que el filósofo alemán escribió explícitamente «contra Hobbes», tal como reza el subtítulo de uno de sus ensayos sobre la relación entre la teoría y la praxis,6 y que, sobre todo, al reivindicar el uso público de la razón y, por tanto, de la crítica, orientó su forma de pensar la filosofía práctica desde una perspectiva liberal, jurídica y republicana que se mostraba antagónica al sentido absolutista de la política defendido por el filósofo inglés. No vamos a retomar explícita y directamente este problema. Pero queremos insistir en el valor constitutivo que tuvo en Kant la idea del antagonismo y de la guerra en el contexto de su filosofía práctica.7 Valga señalar, que existen dos caminos claramente diferenciados desde los cuales este filósofo arribó a la política. Por un lado, la justificación teórica del Estado a través de la perspectiva crítica y formalista que predominó a lo largo de su obra. La expresión cabal C.B. Macpherson, Libertà e proprietà alla origini del pensiero borghese: la teoria dell’individualismo possessivo da Hobbes a Locke, Prefazione di Antonio Negri, Milano, ISEDI, 1973. 6 Inmanuel Kant, Sobre el tópico: Esto puede ser correcto en teoría, pero no vale para la práctica, en la selección de textos de Immanuel Kant, En defensa de la ilustración, Barcelona, Alba Editorial, 1999. 7 Véase al respecto nuestro artículo Antagonismo, razón y política en la filosofía de la historia de Kant, en Episteme, Vol. 24, 2, 2004, pp.165-175. 5
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
45
de esa justificación se halla en la Metafísica de las costumbres, donde la idea del Estado aparece como una consecuencia inmanente de la idea de derecho bajo el sentido esencial de que las relaciones políticas deben estar basadas en el orden jurídico, y por ende en la justicia, independientemente de la consideración de condiciones fenoménicas.8 Por otro lado, puede observarse que el formalismo que Kant exhibió, no se convirtió en impedimento para el estudio de las acciones humanas desde el punto de vista fenoménico. La historia es la narración de esos fenómenos, agrega Kant. De tal forma que junto a la consideración metafísica de la libertad, aparece la historia, y con ella la necesidad de dar cuenta de los fenómenos. Esa necesidad se convierte en un esfuerzo por descifrar cuáles son los propósitos que permiten advertir la “marcha regular” de la historia. Para ello Kant se propuso mostrar cuál es el propósito de la naturaleza tomando en cuenta que los hombres en su conjunto, históricamente –a diferencia de las abejas-, no proceden instintivamente, pero tampoco lo hacen racionalmente a través de un plan preconcebido.9 Por ello, sus reflexiones sobre la historia universal no toman como base el concepto de derecho, sino que se dedican más bien a exponer las condiciones empíricas que dan lugar a su surgimiento. De la misma forma, en su filosofía de la historia no parte de la racionalidad para explicar las acciones humanas, sino que parte de éstas para mostrar la génesis de la razón. Si bien en la Metafísica de las costumbres el Estado será considerado como producto del derecho, en las reflexiones sobre la historia se nos habla de la instauración del Estado como un “problema de la especie humana, a cuya solución la naturaleza humana la apremia”. El hilo de esta explicación, como se sabe, se encuentra en la idea del antagonismo expresado bajo la fórmula de la insociable sociabilidad a partir de la cual el filósofo de Königsberg intentó comprender la época de la ilustración y el surgimiento de la modernidad política. Ya aquí se pone de manifiesto la paradoja que Kant exhibe en su interpretación de la relación que existe entre el orden de la naturaleza y la libertad, si se considera que es la misma naturaleza la que lleva al hombre a colocarse (o al menos a creer que se coloca) por encima del orden natural. La racionalidad y la libertad de la voluntad no serían más que el resultado de ese orden. Quizás la mejor argumentación que pone de manifiesto esta paradoja, se halla en el momento que Kant explica la forma como la naturaleza realiza sus fines, al decirnos que “el medio del que se sirve la naturaleza para lograr el desarrollo de todas sus disposiciones es el antagonismo de las mismas en sociedad, hasta el extremo de que esta se convierte en la causa del orden legal de aquellas”.10 Ante dos tendencias opuestas: la aristotélica, que busca la socialidad como un proceso natural, y la hobbesiana, que se origina en las formas individualistas y egoístas que también distinguen a la naturaleza humana, Kant pone claramente el acento de su indagación en esta última, es decir, en la resistencia y la oposición que surge entre los hombres. Y lo hace con la intención de mostrar que esta tendencia “es la que despierta todas las fuerzas del hombre y le lleva a superar su inclinación a la pereza”. Baste recordar su elocuente apología del antagonismo cuando daba “Gracias a la naturaleza por la incom-
8 Innmanuel Kant, Metafísica de las costumbres, Madrid: Técnos, 1989. 9 Idea de una historia universal con propósito cosmopolita, en Innmanuel Kant, En defensa de la Ilustración, cit., pp.73-92. 10 Ibid., p.78.
46
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
patibilidad, por la vanidad envidiosamente porfiadora, por el ansia insatisfactoria de poseer o de dominar”.11 Por ello, queremos sugerir que Kant hizo uso de dos perspectivas claramente diferenciadas que le llevaron, sin embargo, a un mismo resultado. La que hace uso de las exigencias críticas aplicadas al ámbito de la racionalidad práctica, y la que apela hobbesianamente a la historia vista privilegiadamente desde las tendencias egoístas y competitivas que dan cuenta de las facultades humanas y del progreso. Pero es conveniente destacar que esta concepción no se agota en los textos dedicados a la filosofía de la historia, sino que reaparece con la misma coherencia en 1795 en sus reflexiones sobre la paz, es decir, apenas dos años antes de la publicación de su Principios metafísicos de la doctrina del derecho.12 Ciertamente, a diferencia de Hobbes y de otros teóricos del Estado moderno, Kant retoma enfáticamente la doctrina del derecho de gentes que se había convertido en tema fundamental especialmente con la aparición de la obra de Hugo Grocio. Y lo hace desde el momento en que establece una relación de reciprocidad entre la vigencia de una constitución civil perfecta y el establecimiento de relaciones jurídicas entre los Estados. En otras palabras, la solidez jurídica del Estado nación se encontraría atada a las relaciones internacionales jurídicamente establecidas. Pero la base de esta argumentación se halla en el mismo principio que da lugar a la necesidad de establecer un sistema jurídico como orden social, vale decir, en la idea de la insociable sociabilidad, que se convierte para Kant, tal como lo fue para Hobbes cuando se refería al estado de naturaleza entre las naciones, en un principio útil para explicar y repensar las relaciones internacionales. Se puede observar que del mismo modo como Kant, en su filosofía de la historia, se vale de la idea de la guerra para explicar el origen del progreso, hace uso, en su filosofía política, de esa misma idea, esta vez para explicar el origen de la paz en el ámbito internacional. Los extremos coinciden coherentemente, en este caso bajo el esquema de la explicación empírica hobbesiana, pues se trata del mismo punto de partida, de la guerra; y del mismo punto de llegada, debido a que no es posible concebir el progreso y la ilustración sin la paz. Por ello, ante la interpretación que trata de mostrar que Kant, en su búsqueda de la paz, desarrolló una propuesta moral y política que intentaba transformar las tendencias antagónicas de la naturaleza humana en un estado de coexistencia pacífica, creemos, más bien, que en la medida en que intentó avanzar en esta propuesta, especialmente en el ámbito de las relaciones internacionales, puso en evidencia sus límites.13 Pues si bien la guerra puede dar paso a un estado de paz, ello solamente es posible a través del estado de derecho y de los mecanismos de coerción que aquel exige, mientras que en el ámbito de las relaciones ente Estados el filósofo alemán no plantea la posibilidad de acudir a un Estado único global ni a la coerción. Es quizás por ello que se ha reconocido que Kant no logra resolver el problema de conciliar una ley internacional indispensable para el logro de la paz. Este filósofo fue coherente en mantener la tensión e incluso la contradicción entre esos dos órdenes. El establecimiento de una constitución republicana que garantice 11 Ibid., p.79. 12 Para la paz perpetua. Un esbozo filosófico, en Innmanuel Kant, En defensa de la Ilustración, pp.307-359. 13 Véase al respecto de Teresa Santiago, Función y crítica de la guerra en la filosofía de I.Kant, Barcelona, Antrhopos-Universidad Autónoma Metropolitana, 2004.
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
47
la paz y el progreso dentro del Estado no lleva a admitir la superación absoluta del fantasma de la guerra: de allí la necesidad de la coerción. Del mismo modo, las relaciones internacionales, basadas en la idea de la federación de Estados y en una legislación universal, suponen explícitamente la posibilidad del resurgimiento de la guerra. Y si esto es así, a pesar de Kant y del genuino esfuerzo de sus intérpretes, no se habría encontrado la fórmula definitiva de la conciliación, la paz y el progreso. La historia europea y mundial desde finales del siglo XVIII hasta hoy es el mejor testimonio de ello. Quizás por ese motivo, y para volver a nuestras palabras iniciales, cabría sugerir que el fantasma de Hobbes sigue recorriendo la obra de Kant y quizás con ella a los giros kantianos que en Rawls o Habermas ha tomado la filosofía política contemporánea.14
II Ahora bien, en contra de lo que aspiraba Kant y la tradición del formalismo jurídico alemán, Carl Schmitt nos dice que con la crisis del Estado liberal moderno – uno de cuyos momentos más significativos está representado por la Constitución de Weimar, el Estado-nación y el concepto mismo de soberanía entran en crisis.15 El Estado racional monopolizador de la fuerza teorizado por Bodin, por Hobbes o por Weber, empezó a perder en el siglo XX la unidad y el poder de decisión que le corresponde. Pero esto no significa que se hayan disuelto o abandonado los principios fundamentales que justifican la existencia del Estado y de la política. Schmitt agudamente observó los desplazamientos que sufría la forma unitaria del Estado con la emergencia de nuevos tipos de guerra, incluyendo la guerra de guerrillas. Pero reivindicó sistemáticamente la posibilidad de la soberanía entendida de un modo radical: como poder de decisión excepcional que se define en el plano nacional y en el internacional a partir de la relación amigo-enemigo que tiene como trasfondo la idea del control y a su vez del derecho a la guerra. El concepto de Estado – dice Schmitt – presupone el concepto de lo político; este concepto presupone a su vez la idea de la guerra, que se funda en el reconocimiento del enemigo. Precisamente al referirse al problema de la comprensión de la segunda guerra mundial y de la así llamada guerra revolucionaria, Schmitt plantea que la categoría del enemigo es la referencia central para dar cuenta de las múltiples formas que adoptó la política en el siglo XX. De tal modo que ante la crisis de la soberanía y de la forma Estado, y ante la emergencia de la guerra en sus diversas manifestaciones a nivel global, Schmitt recupera y pone de relieve la centralidad de lo político, visto en términos absolutos. Para ello propuso un ejercicio de diferenciación más simple pero más radical que el que puede emplearse en el caso de la moral, de la estética o de la economía, como cuando se habla de la distinción entre bien y mal, belleza y fealdad o lo rentable y lo no rentable. Schmitt propone la citada distinción amigo-enemigo al señalar que a pesar de que dicha distinción pueda verse como una “herencia atávica de los tiempos bárbaros” “los pueblos se agrupan de acuerdo a la contraposición de amigos y enemigos”. Se trata – dice – de una
14 En el caso de Rawls, op.cit. En el caso de Habermas, véase Facticidad y Validez, Madrid: Trotta, 1998. 15 Véase Legalidad y legitimidad, en Carl Schmitt, Teólogo de la política, cit, pp.288-335.
48
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
contraposición “que subsiste como posibilidad concreta para todo pueblo dotado de existencia política”.16 Precisamente la guerra (guerra entre Estados o guerra civil) – dice Schmitt – es la manifestación extrema de esa distinción en la cual la noción de combate adquiere su principal significado en la posibilidad de la aniquilación del enemigo. Schmitt retoma de este modo – directamente – la antropología hobbesiana centrada en el temor a la muerte y en la guerra como principio de justificación de la política. E incluso retoma la forma como Hobbes concibe la naturaleza de la guerra, al presentarla no necesariamente como un evento históricamente realizado sino como una posibilidad.17 El nos dice que no tiene porque concebirse como lucha sangrienta y militar, sino como posibilidad real. De tal forma que no necesariamente se trata de una concepción militarista de la política a la manera de Clausewitz, sino de la guerra vista como una idea límite desde la cual lo político se define. Emerge así la cuestión de la vida y la muerte como horizonte definitivo de lo político. De otro modo – dice Schmitt – no habría política. Este es el plano desde el cual este pensador expone su visión del Estado como unidad política ante la pluralidad de asociaciones que pueden existir en una sociedad determinada. De allí que a pesar de la crisis que Schmitt advierte en la configuración del Estado, no deja de insistir en su justificación como resultado de la relación básica de protección y obediencia. Para ello, en la época del nazismo, recuerda, una vez más, a Hobbes, específicamente en las páginas finales del Leviathan, al señalar que si el parlamentarismo liberal no da respuesta a la estabilidad política que demanda la sociedad, se justifica entonces la concentración del poder y la legitimidad del presidencialismo constitucional como forma de unificar el Estado. En suma, se puede observar que en el caso de Schmitt no es necesario realizar un esfuerzo especial para destacar la influencia que recibió de la obra de Hobbes, no solamente porque este pensador alemán le dedicó un célebre estudio a la imagen y al concepto del Leviatán, sino por las persistentes referencias que hace al filósofo inglés, y sobre todo por la conexión teórica que se puede apreciar entre ambos pensadores. Creemos que también es pertinente destacarlo por la implacable crítica a la que sometió el formalismo jurídico que va de Kant a Kelsen, así como por la radicalidad de sus fórmulas absolutistas sobre el problema de la soberanía en el siglo XX.18 Hemos visto que Kant, toma como premisa la idea hobbesiana de guerra no solamente en la fundamentación del Estado liberal y de derecho, sino también en el ámbito de las relaciones internacionales en el momento en que plantea la posibilidad de la paz perpetua. Y se puede observar que mientras que Kant no piensa la necesidad de un Estado mundial con poderes coercitivos, sino, a lo sumo, una federación de naciones en la cual debe imperar el derecho internacional para que se mantenga la paz, Schmitt, con la experiencia de la guerra mundial, reafirma la vigencia de la categoría hobbesiana de la guerra no solamente para justificar la existencia del Estado y de lo político, sino también para revisar las posibilidades y los límites de un Estado global. Schmitt desestima absolutamente las posibilidades de un orden jurídico mundial al advertir que dicho orden no sería más que otra forma de asumir y legitimar la existencia de la guerra. Dicho de otra 16 Véase El concepto de lo político, en Carl Schmitt, Teólogo de la política, cit, pp.178-179. 17 Ibid., p.183. 18 Véase su posición a este respecto especialmente en Teología política. Cuatro ensayos sobre la soberanía, Buenos Aires, Editorial Struhart & Cía, 2005.
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
49
forma, Kant mantiene la idea de la guerra pero cree en las posibilidades jurídicas de la paz, mientras que Schmitt desestima la fuerza constitutiva de lo jurídico y asume explícitamente la guerra como base de las relaciones políticas a escala global.
III Ahora bien, los cambios históricos que pueden observarse en la segunda mitad del siglo XX en el campo de las relaciones internacionales, pasada la guerra fría y conformados nuevos bloques de poder, no hacen más que confirmar algunas de las tesis de Schmitt. Aunque a esto se podría objetar – quizás desde una perspectiva como la de Bobbio – que el liberalismo y la democracia son cada vez más las bases desde las cuales los países desarrollan sus relaciones internacionales y que, por tanto, el orden jurídico y pacífico tiende a adquirir cada vez más presencia en dichas relaciones.19 Para considerar esta objeción nos gustaría incorporar la interpretación que Antonio Negri ofrece de las formas políticas que el capitalismo ha adquirido a escala global. Creemos que esa interpretación permite apreciar una línea de continuidad en el uso de la idea hobbesiana de la guerra en este caso para interpretar la emergencia del Imperio y de la así llamada Multitud. La argumentación de Negri se encuentra orientada esencialmente a indagar las condiciones de posibilidad de la democracia, la cual, nos dice, se encuentra amenazada por un permanente estado de conflicto a lo largo del mundo. Por ese motivo, su libro dedicado a la multitud, se inicia con el estado de guerra. Pero no se trata de un motivo coyuntural. La guerra, adquiere, más bien, en manos de Negri, un valor esencial, hasta el punto de que se convierte no solamente en el primer y más importante capítulo, sino en uno de los argumentos más persistentes y coherentes de su libro. Y ello es posible al considerar el “estado de guerra” no como una condición que permite justificar el Estado nación, sino como una situación global, prolongada y casi indefinida. No se trata, sin embargo, de una guerra mundial semejante a las que se vivieron en el siglo XX. Negri observa un estado de “guerra perpetua” al considerar que dicho estado es precisamente la forma como se realiza el dominio en la época del Imperio.20 Ahora bien, ya en el Prefacio de su libro, este filósofo anuncia, tal como lo han hecho numerosos pensadores desde el siglo XVII hasta el siglo XX, su distancia frente a Hobbes. El nos dice que concibe el movimiento del Imperio a la multitud como el reverso del desarrollo que exhibió Hobbes desde De Cive hasta el Leviathan. De la siguiente forma: mientras que Hobbes en los albores de la modernidad, se mueve desde las clases sociales nacientes a la forma moderna de la soberanía, el nuevo movimiento, nacido en los albores de la postmodernidad, es inverso, pues va de las nuevas formas de soberanía a una sociedad global. Dicho más sucintamente: Hobbes es el teórico legitimador del Estado nación, mientras que Negri es el defensor del paso del Estado Imperio a la multitud. Pero es necesario advertir que el esquema interpretativo que propone Negri no es necesariamente opuesto al hobbesiano, si consideramos que Hobbes, en sentido estricto, no traza su reflexión desde la sociedad a la soberanía, sino desde la crisis misma de la so19 Norberto Bobbio. Liberalismo y democracia, Buenos Aires, FCE, 1992. 20 Véase “El estado de guerra global”, en Multitud, cit., pp.33-39.
50
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
beranía, es decir, desde la guerra.21 Si bien ubicado en un plano histórico distinto, Negri hace uso del punto de partida hobbesiano cuando afirma que la guerra se ha convertido en un fenómeno general e interminable. Nos advierte que es una suerte de guerra civil global que no necesariamente se manifiesta en los enfrentamientos bélicos clásicos entre Estados o dentro de un Estado. Se trata más bien de una suerte de conflicto potencial semejante a la manera como Hobbes concibió el estado de guerra, como tiempo de guerra, a pesar de que no se observen batallas y luchas sangrientas.22 Es “una relación social permanente” de la cual surgen los esquemas y prácticas de dominación hasta el punto de transformarse en una matriz biopolítica, recuperando el conocido concepto de Foucault. No se trata de la guerra como una situación excepcional que se produce en un marco general de paz, sino de una tendencia generalizada que va más allá de la distinción que hacía, por ejemplo, Clausewitz. Ahora la política se expresa como guerra, de tal modo que la esperanza kantiana de la paz perpetua es desplazada por un estado de “guerra perpetua”. La excepción, dice Negri, se convierte en la regla. Se puede entonces hablar de la crisis pero también de la reafirmación de la soberanía. Curiosamente, en la observación de la emergencia del Imperio (especialmente a través del norteamericano y de su lucha contra el terrorismo), Negri no solamente hace uso explícitamente de la categoría hobbesiana de guerra, sino también de la definición schmittiana de la soberanía vista como poder de decidir el estado de excepción. De tal forma que si bien este filósofo italiano no hace uso de la idea de Estado absoluto teorizada por Hobbes, debido a que la considera una idea moderna aplicable a la forma del Estado nación, recupera sin embargo la fórmula de la soberanía desarrollada por Schmitt. Y a ello agrega el uso de la categoría de “enemigo” para interpretar la lucha del imperio contra el terrorismo.23 En este caso no se trata del enemigo Estado nación sino más bien del enemigo entendido como red de poder que tiende a ser global. Por ello, la guerra total no necesariamente es vista como una tendencia al aniquilamiento y la destrucción, sino como una forma de dominio más sofisticada que supone la capacidad de reproducir la vida en función de la misma dominación. El concepto de biopoder supone el uso de la guerra como una forma de reproducción permanente de la vida al servicio de la dominación. Ya no se trata de la “defensa” frente al enemigo externo sino de la “seguridad” que demanda la articulación interna de los mecanismos de poder. La guerra impone y organiza socialmente su propia estructura. Y a pesar de que Negri trata, una vez más, de distanciarse de Hobbes cuando afirma que no se trata de la “guerra de todos contra todos” a la que pone fin el Estado, sino de una guerra que se constituye como forma estable de dominación, si observamos el Estado hobbesiano no desde la perspectiva del propio Hobbes, sino desde el liberalismo de Locke y de todos aquellos que han planteado la necesidad del Estado limitado, podemos observar que el Estado hobbesiano ya era visto en el siglo XVII como parte de la guerra. Si esto es así, podríamos decir que si bien el concepto de Estado nación va dando lugar en el siglo XX a nuevas formas de dominación,
21 Son abundante las referencias que Hobbes hace a la guerra civil para ilustrar la condición natural del hombre como estado de guerra. Véase a este respecto nuestro estudio La institución imaginaria del Leviathan. Hobbes como intérprete de la política, Caracas: CDCH-UCV, 2000. 22 Esto lo había planteado claramente Foucault (Difendere la Societá. Della guerra delle razze al razzismo d’ Stato, Firenze, Pone Alle Grazie, 1983). 23 Cf. Multitud, cit., p.47 y ss.
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
51
la posibilidad del Estado global no necesariamente es una especulación o un anacronismo, sino precisamente la forma como se prolonga la idea misma del Leviatán, digámoslo así, siguiendo a Schmitt, bajo nuevas formas de totalitarismo. No es casual entonces que Negri afirme que la solución hobbesiana al problema de la guerra es ambivalente e incompleta, pues el Estado tiende a poner fin a la guerra, pero ésta, a su vez, se mantiene como una posibilidad generada incluso por el propio Leviatán para garantizar la obediencia. Pero también es necesario advertir que Negri reproduce la ambivalencia hobbesiana precisamente debido a la fecundidad teórica y doctrinaria del concepto de guerra. Podemos entonces observar en este rápido y sucinto recorrido por las obras de Kant, Schmitt y Negri, que el concepto de guerra es decisivo y crucial para entender tendencias incluso opuestas: el liberalismo, el totalitarismo y el proyecto de la multitud. De allí que naturalmente pueda plantearse la pregunta de cómo es posible que pensadores teórica y doctrinariamente tan distantes puedan coincidir en tomar una fuente tan polémica y pesimista como la de Hobbes. Creemos que esa coincidencia ciertamente puede explicarse si se consideran las continuidades que se observan en el desarrollo histórico de la justificación y crisis del Estado y de la política moderna. Pero también se puede dar cuenta de ella porque existe una base antropológica común que remite, a nuestro juicio, a la centralidad de la categoría de poder. El deseo insaciable de poder descrito por Hobbes, el principio del antagonismo elogiado por Kant, la tendencia aniquilatoria de la relación amigo-enemigo de Schmitt y la esencialidad de las relaciones biopolíticas consideradas por Negri, ponen de manifiesto que la guerra no es una estructura trascendente, ulterior y superable, sino que supone resortes antropológicos quizás irreductibles. No se trata de considerar al hombre “malo por naturaleza”, sino de comprender la forma como se articulan las fuerzas que dan lugar a las relaciones de poder y dominio.
* Omar Astorga é Prof. Doutor em Filosofia. Universidad Central de Venezuela.
52
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
TULIPA
SUBSÍDIOS PARA UMA ETNOPSICANÁLISE DA POSSESSÃO1 JOSÉ FRANCISCO MIGUEL HENRIQUES BAIRRÃO*
A Umbanda1 A umbanda enraíza-se num universo africano acentuadamente presente no Brasil, embora menos conhecido e reconhecido do que o sudanês. Provavelmente isso se deve ao maior distanciamento da ‘sua’ África de um tipo de ontologia substancialista e mitologia ‘estável’, projetada em remotos tempos primordiais, mais familiar ao modo europeu de pensar. É uma religião brasileira (Concone, 1987) que adotou a denominação de antigas práticas de cura bantas (Estermann, 1983; Coelho, 2000). Tem sido assinalado o seu cunho eminentemente urbano, como se atendesse a uma recomposição em novo cenário de elementos sócio-culturais populares e rurais (Ortiz, 1978), não obstante ser possível encontrá-la hoje em dia em quaisquer regiões do país e praticada em todos os segmentos sociais. A sua expansão no século XX encontrou numa crítica ao elitismo do espiritismo um mito de fundação, mas o modo como o culto se generalizou e expandiu não pode 1
Uma versão preliminar deste artigo foi apresentada no VIII Congresso Luso-Afro-Brasileiro de Ciências Sociais. Agradeço à Tulipa, à sua ‘menina’ e aos seus outros “guias”, para além de um mero consentimento, a sua confiança e hospitalidade, a paciência e generosidade em partilharem as suas histórias e autorizarem a sua divulgação. Apoio FAPESP e CNPq.
justificar-se exclusivamente pelo proselitismo de um núcleo inicial. Estavam maduras condições para que práticas mágico-religiosas marcadamente bantas se reconhecessem numa denominação aparentemente mais capaz de evitar perseguições e estigmas associados a outras designações. A determinante da transfiguração do termo banto para a arte de curar exercida pelos quimbandas (Ribas, 2002) em nome de religião brasileira permitia-lhes encontrar uma linguagem comum e uma plataforma política legitimante, custodiada pela afirmação de uma identidade nacional bancada pelas elites, mas também parece ter um efetivo vínculo com o exercício de habilidades e talentos preservados por descendentes de ex-escravos isolados no meio rural, que em solo urbano se re-implantaram em comunidades alargadas, acolhedoras de participantes independentemente das suas origens étnicas (Bairrão & Leme, 2003), e se disseminaram como uma linguagem franca da espiritualidade brasileira. Os interlocutores imediatos dos religiosos umbandistas são espíritos que, geralmente, são entendidos segundo o modelo kardecista: almas de mortos, que se comunicam com os vivos para os orientar e cuidar de mazelas morais e materiais (Negrão, 1996). Distribuem-se em classes, com funções e responsabilidades rituais que aludem a tipos de experiências sociais dramáticas. Entre outros, encontram-se no panteão escravos, indígenas, prostitutas, boiadeiros, cangaceiros, migrantes nordestinos e até crianças em situação de rua (Bairrão, 2004). O social e psiquicamente esquecido, morto ou maltratado, na umbanda se dramatiza e retorna mais vivo do que nunca. Mas uma vez que os mortos revivem e se mostram nos corpos (dos) vivos, nos despistaria procurá-los num além metafísico, deixando de lhes prestar atenção e de abrigar o seu sentido no âmbito em que de fato interpelam o humano e se comunicam – performances sociais e corporais, feitas para capturar todos os sentidos. O que valha por transcendente, tangível pelos sentidos da imaginação, aquém da sua hipotética abissalidade insondável, mostra-se pertinente e correlativo a vivências subjetivas e sociais. Não se mostra como objeto metafísico, mas como reflexão de conteúdos humanos (Bairrão, 2001). Para pensar este ponto a obra de Henry Corbin pode servir de apoio: fenomenologicamente, o sagrado proporciona-se na forma de um imaginário (o imaginal) em que imbricadamente confluem alteridade (eventualmente transcendente) e uma revelação de si. O Outro mostra-se revolvendo entranhas humanas e a sua abissalidade é proporcional à visceralidade dos cenários de si, desconhecidos do social e humano que Ele traz à luz (Corbin, 1977). Na umbanda o Outro também é outro lugar do sujeito. Lá este está ‘fora de si’, em transe, num mundo florescente de significâncias. Cada ‘símbolo’ revelador do Outro, por o Outro ser revelador do eu, admite uma leitura em dupla chave: sonda sentidos espirituais abissais e traz à tona idiossincrasias pessoais. Inegavelmente acontece como vivência do espiritual, mas da espiritualidade de um humano determinado. Ao refleti-lo na integralidade, nada censura nem exclui. Não segrega o sagrado do profano. Tulipa
54
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
Concomitantemente, estabelece-se uma rede social e sutil em que tomam forma duplos especulares do humano, num imaginário sensorialmente atinente a significâncias interpeladoras de todos os sentidos, que no caso brasileiro parece articular-se num idioma performático habitualmente denominado umbanda. Desta forma pode-se compreender porque a aptidão para o transe não se restringe a uma aprendizagem social de papéis, transmitidos de geração para geração, e portanto não depende de processos de socialização que sempre exijam contactos entre aprendizes e veteranos, duradouros e persistentes. Ainda que não se negue a importância de memórias coletivas e a aprendizagem social de comportamentos (neste caso, por exemplo, a internet desempenhou algum papel), os seus meios de transmissão parecem ser mais complexos e sutis do que se poderia supor à primeira vista. De fato, traços religiosos bantos permanecem acessíveis na sociedade brasileira de maneira ainda mal explicada. Parece que conseguiram enraizar-se até ao grau de adquirirem uma certa generalidade cultural, adaptar-se e sobreviver. São úteis para desafios contemporâneos e fazem sentido em existências humanas que, fora a intersecção com a brasilidade, são assaz distintas da circunscrição regional a que supostamente o seu cunho de resíduo e memória as confinaria. No caso de que aqui se trata, por exemplo, deparamo-nos com uma típica mulher branca, sem histórico de pobreza familiar e descendente de imigrantes europeus bem de vida, cuja parcela mais significativa de ‘desenvolvimento mediúnico’ ocorreu sem contacto social imediato com modelos de identificação que lhe fornecessem o ‘script’ de papéis a serem socialmente imitados.
Corpo e Linguagem na Possessão Os espíritos na umbanda ‘pegam’ pelo corpo. As suas performances fazem-se acompanhar de ampla movimentação, esboços de coreografias, sensações, adereços e até mesmo do consumo de alimentos e do deslocamento a específicos cenários geográficos, na contramão do desapreço ao sensorial e corpóreo que poderia se esperar de supostas almas imateriais. Equivocar-se-ia quem pretendesse formular pré-concepções metafísicas num tom científico e fechasse os olhos a uma significância tão material, resolvendo interpretar os espíritos como coisas abstratas atinentes a um plano não sensorial, pois não é assim que eles se mostram. Não se entenda que desta forma se nega o cunho espiritual da umbanda, apenas não se o pré-conceitua como uma caricatura de existência que objetivamente aconteceria além do sensível. Qualquer metafísica que se derive da expressividade dos enunciados imagéticos e dramáticos umbandistas é ilusão (de ótica), inadvertida do seu exponencial talento para recorrer a uma profusão de sinestesias capaz de fazer ouvir outros sentidos. Fundamentalmente, portanto, o universo da umbanda – como em geral o dos cultos de possessão (Boddy, 1994) – constitui-se numa enunciação inclusiva do corpo; irredutível a enunciados contra o corpo. Provavelmente por causa disso, os rituais umbandistas são extremamente plásticos e mobilizam uma grande variedade de recursos expressivos, que vão da poética linguagem AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
55
verbal dos ‘guias’ à interpretação de acontecimentos fortuitos do quotidiano. Podem ser vistos como processos enunciativos que envolvem a integralidade dos sentidos. Dependem de ações cuja superlativa eloqüência atinge o ápice quando mobiliza a totalidade do corpo, no acontecimento do transe. É provável que o fato de tal linguagem discorrer-se performaticamente assinale a não dicibilidade de parcela do que com ela se narra, impossível de verbalizar, quer por se tratar de verdades recalcadas e de traumas históricos manifestamente interditos, quer por referir memórias pessoais e comunitárias cujo rastro na esfera da representação cognitiva se perdeu, quer por a inscrição dessas memórias nem sequer Baiana Sebastiana ter passado pelo âmbito cognitivo (por mais paradoxal que esta afirmação pareça), em vez disso transmitindo-se diretamente pelo corpo (mimeticamente), tal como seria o caso em outros ritos de possessão (Stoller, 1995). De fato, se nos ativermos ao psíquico e ao representacional e quisermos entender todas as habilidades que fazem parte do repertório umbandista em termos de aquisição cognitiva, a honestidade intelectual obriga-nos a admitir que, vez por outra, mesmo levando em conta a hipótese de estarem em jogo processos comunicacionais e infererenciais inconscientes, haverá dificuldade em explicar uma certa fração dos eventos acontecidos no contexto do culto, mediante o recurso a modelos explicativos estritamente psicológicos ou psicanalíticos. Mas também é importante salientar que, no limite, o recurso à performance talvez propicie a alusão a fatos ou atos intrinsecamente indizíveis. Ou seja, é provável que parcela significativa do que se enuncia com o corpo e se indica em gestos não tem hipótese de tradução fiel ao se reduzir ao verbal. Neste caso, para ‘dizer’ o inefável, as narrativas da umbanda enraízam-se numa poética gestual. Portanto, contrariamente à propensão de ver o transe de possessão, pelo menos no caso da umbanda, como sintoma do recalque de significados verbalizáveis ou forma ‘primitiva’ e intuição obscura de idéias ‘espirituais’, aqui se levanta a hipótese de que o seu verdadeiro estatuto é o de único recurso para a dicção de sentidos irredutíveis a significados. Como essa linguagem indiscutivelmente procede e se dirige a níveis de compreensão não representacionais – e para suma frustração de parapsicólogos e assemelhados que ambicionem submeter tais fenômenos a controles experimentais – é importante sublinhar que os participantes confessam sinceramente não possuir completo domínio sobre esses processos e que as suas explicações verbais dos mesmos são mais propriamente justificativas que não conseguem alcançar a totalidade do que dizem e fazem. Não se trata de má fé. Neste aspecto, principalmente os informantes mais intelectualizados, compartilham com a atividade de pesquisa o risco de se desfigurarem descrições das suas vivências mediante a sua redução a símbolos verbalmente inteligíveis, e portanto o perigo do seu achatamento a significados. Para evitá-lo, há na umbanda toda uma gama de recursos sensorial-significativos que operam como um vocabulário que não se dirige ao intelecto, mas a um entendimento inclusivo do corporal, alcançando uma expressividade rica e sinestésica, independente de subseqüentes racionalizações. Mas sempre há o perigo de tais racionalizações se sobreporem ao efetivamente vivido, risco reforçado pelo fato de, para entreter o intelecto, a cultura da umbanda proporcionar, com base em crenças compartilhadas mas bastante liberdade expressiva, uma 56
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
profusão de recursos de composição narrativa não tolhidos por presunções realistas nem representacionais, O principal objetivo deste artigo é argumentar que a riqueza dessa linguagem não é alcançável pelos modelos de narrativa ‘científica’ fornecidos pela psicologia nem pelas narrativas metafísicas ‘paracientíficas’ fornecidas pelo espiritismo ‘letrado’ (a explicação do transe com base na idéia da existência de um outro mundo habitado por mortos que se comunicam com os vivos). Na contramão de uma interpretação dos significados imediatos das narrativas umbandistas como proposições, não se supõe que a sua verdade deva ser interrogada à luz do que se presumiria pudessem informar a respeito de um nível de realidade hiper-físico. A prosa parapsicológica não está à altura da sutileza de espírito (dos espíritos!) da umbanda. Embora as manifestações espirituais umbandistas nunca contradigam essa racionalização do fenômeno – que por vezes sabidamente aprecia revestir-se de um colorido científico e psicológico, mediante a adoção de um vocabulário parapsicológico ou da psicologia transpessoal –, ela é insuficiente para dar conta da sofisticação de muitas nuances expressivas da possessão umbandista e essa limitação fica particularmente nítida em casos como o estudado, pela própria natureza brincalhona e despreocupada em manter as aparências ou confirmar pré-concepções, própria de um espírito ‘infantil’.
O Espírito ao Pé da Letra Não é de hoje que a literatura etnográfica identificou nos ritos de possessão um tipo de idioma irredutível ao estritamente verbal e não lhe escapou que os espíritos tanto se ‘comportam’ como interlocutores sociais como fazem parte da trama discursiva (Crapanzano & Garrison, 1977; Lambek, 1981, 1988). Os espíritos podem interpretar-se como atinentes a uma função de parole (função de enunciação) descentrada do psíquico, imersa no campo da linguagem (Corin, 1988). Desta forma a possessão expõe às claras que o sujeito se enuncia do lugar do Outro e a psicanálise lacaniana, que dá suporte a esta tese, pode constituir-se em boa plataforma para dar curso ao projeto de uma etnopsicologia, que, conforme Lutz (1985), é inexorável e voluntariamente um efeito híbrido da intersecção entre idéias nativas implicitamente manifestas e teorias psicológicas sustentadas pelo pesquisador, que convém explicitar, sem nunca anular ou reduzir um pólo ao outro. O próprio Lacan, motivado pela leitura de clássico ensaio de Leiris sobre a possessão na Etiópia, aproveita a deixa para asseverar a perfeita identidade e compatibilidade entre a formulação de uma verdade subjetiva (desejo) do possuído e a precisa literalidade significante que consubstancia o agente possuidor (Lacan, 1999). Como em qualquer outro processo enunciativo, o sujeito não é usuário da linguagem ou mero espectador. Está implicado e inscrito no Outro, lugar do seu acontecimento. Na mesma linha, neste estudo não se trata nem de uma aplicação psicológica da psicanálise a fenômenos ditos mediúnicos, nem da objetivação parapsicológica ou anexação dos últimos a uma psicologia transpessoal, em que se efetivassem espíritos, mas da escuta ao pé da letra do enunciado do transe em uma história de vida.
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
57
Obrigação de Oxalá
Solapador da crença em positividades, é intrínseco ao idioma espiritual umbandista uma aparentemente paradoxal indiscernibilidade entre sujeito e transcendência, bastante afeita a uma irônica e descomplexada denúncia da adulta crença ingênua na objetividade da realidade. A psicanálise lacaniana pode ser útil para refletir essa inobjetividade – especialmente a idéia de descentramento do sujeito e a ênfase na inversão do signo como representante de coisas em (qualquer) significante como lugar-tenente do sujeito, o que resolve o psíquico em semiótico (Bairrão, 2003) –, desde que se interprete a significância lacaniana tendo o cuidado de não segmentar o verbal do não verbal (caso contrário, se re-institui uma cisão entre palavras e coisas, que na prática restaura a concepção tradicional de signo). O sujeito pode assinalar-se em qualquer coisa que assuma valor significante, sendo que nesta qualidade (com esta função) não importa a natureza daquela. Palavras podem ser significantes, mas também o podem ser quaisquer aspectos do mundo, traços da realidade, devaneios (fugazes ou renitentes) e marcas do corpo. A realidade humana é intrinsecamente composta como uma trama de letras (significantes ‘espacializados’), o que propicia a não segmentação entre imagens e simbólico. Assim, é possível escutar, não apenas as falas, mas também as performances corporais, as visões místicas, as oferendas, os rituais etc. Mesmo sem conhecer o que realmente signifiquem, sabe-se lá estar implicado um sujeito (não necessariamente nem provavelmente um indivíduo, pois pode se tratar de uma coletividade interpelada por matrizes significantes que se transmitem de geração em geração). Não mais se o cogita como atrelado a um centro emissor da palavra e, correlatamente, ele não mais se enuncia do lugar de uma personalidade central. Pode ocorrer em qualquer sitio (significante) e, por isso, conseqüentemente, não há como endossar a naturalidade das neurociências nem a moderna e historicamente circunstancial representação do homem como uma individualidade sócio-psico-biológica. Insubstancial, entendido como raiz da enunciação, o sujeito pode elidir-se e aludirse em qualquer aspecto do mundo ou gesto do corpo, alçado a significância implicativa de si e, portanto, situar-se em acontecimentos e coisas ‘objetivas’ (epifanias).
58
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
Da mesma forma, a linguagem no culto umbandista não é referencial. Não etiqueta objetos, metafísicos ou não, o que lhe permite uma grande liberdade de composição. Não tem por que prender-se à prosa metafísica espiritista (que aliás, pelo avesso, é compartilhada pelos que a detraem), repleta de substâncias abstratas e de outros mundos, caricaturais das coisas deste em que vivemos. Igualmente não tem como compatibilizar-se com os postulados metafísicos ‘ocidentais’, tão entranhados na psicologia científica, relativos à simplicidade e indivisibilidade da substância da alma e ao centramento do eu na esfera psico-orgânica. Tal credo metafísico de base que nos legou a nossa própria cultura (Cartry, 1993) vem sendo denunciado, faz tempo, tanto pela psicanálise como pela pesquisa etnográfica, cuja colaboração, na forma de uma pluridisciplinaridade não fusionante, Devereux advogou ao propugnar uma etnopsicanálise (Devereux, 1972). Na sua expressão umbandista, o ‘espírito’ mostra-se um sopro dramática e poeticamente revelador de sentidos de ser e estar no mundo, muito além de objetivações paralisantes. O seu habitat pode ser pensado recorrendo à concepção de transicional de Donald Winnicott (1975, 1990) – segundo a qual o mundo ilusória e necessariamente se recria pela arte e pela fé do humano, primordialmente infantil, residente em cada criança e adulto –, a qual refere um estado indeterminado de eu, outro e coisa; uma região de ‘ser’ a que não se aplicam categorias como subjetividade nem objetividade. É esse berço do ser que a espiritualidade umbandista habita, conforme Tulipa nos mostra, com o seu total empenho em decepcionar caçadores de fantasmas e absoluto descompromisso de menina em se esforçar para fingir estar adaptada às representações metafísicas de espírito. Ela não esconde a sua agilidade para poeticamente fluir por entre os interstícios da solidez das narrativas e pousar em qualquer aspecto do mundo, fantasia ou desejo.
Tulipa e Menina No caso da Tulipa e da sua menina está-se de fato em presença do quase surgimento ‘espontâneo’ de uma nova sacerdotisa, processo já anteriormente documentado, mas acontecido no passado, e sempre com senhoras oriundas de um meio rural e étnico marcadamente africano (Bairrão e Leme, 2003). Graduada em biologia, a médium estudou em escolas particulares, onde conheceu o futuro marido. Bem educada, foi mimada pelo pai (executivo de origem espanhola) e exigida pela mãe (descendente de industriais alemães). Namorada ‘oficial’ desde cedo, logo se viu na posição de abrigo seguro para os intervalos entre aventuras do parceiro (jovem, mas relativamente mais velho), também ele descendente de imigrantes (no caso, árabes). Com o desgaste da relação, decidiu afastarse e morou na Europa. Permaneceu algum tempo em Madrid, clandestinamente. Chegou a Londres, o dinheiro acabou e foi deportada. Na volta, refeito do susto, o noivo casou, mas a qualidade da relação não mudou. A gota de água para a separação foi a confissão do parceiro – descrito como um passional valentão, ocasionalmente espancador da esposa – de que o seu apetite sexual, desde sempre, além de não lhe ser fiel, não se dirigia a outras mulheres, mas ao seu próprio sexo.
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
59
Em estado de choque, agravado pela confissão de seropositividade para HIV e pela revelação do risco a que involuntariamente se submetera, vê confirmar-se como pesadelo o amor que sonhara para si. Reúne forças para sair de casa e vai morar com uma amiga, para o que encontra apoio em um pai de santo que conhecera pela internet e com o qual a sua iniciação começaria. Anteriormente havia tido algum contacto com um grupo espírita kardecista e, em desespero de causa, ocasionalmente consultara mercadores de soluções mágicas, como videntes e cartomantes, muitos dos quais utilizam um vocabulário religioso similar ao umbandista. Não obstante até então morar num bairro central de São Paulo e trabalhar nessa cidade, o enamoramento com a umbanda foi suficientemente forte para levá-la a residir num município vizinho, a distância consideravelmente maior do seu emprego e do seu círculo de relações sociais, mas perto da comunidade de terreiro em que logo adentrou. Ela quis mudar de vida. Foi nessa altura que a encontrei, tendo ela sido indicada pelo seu pai de santo para participar de pesquisa, que então se iniciava, sobre ‘desenvolvimento mediúnico’. Convidada, gentilmente aceitou. Nitidamente tinha encontrado nesse círculo religioso um ponto de ancoragem para uma típica condição de solidão urbana e de desenraizamento. Eram notáveis a sua dedicação e entregas totais – compatível com o seu jeito de ser, entre menina inocente e mulher ingênua – à espiritualidade umbandista. O seu desenvolvimento mediúnico transcorria pacata e normalmente, numa espécie de parque ecológico temático da umbanda, em que ocorriam os rituais. Hoje uma mulher na casa dos trinta, a médium foi na infância presenteada por uma das suas avós com a única boneca da qual ao longo da vida jamais se desfez, uma bonequinha de pano loira, chamada Tulipa. Ao se revelar, a Tulipa ‘espírito’ refere a boneca ser ‘sua’ e a retenção do brinquedo passa a ter outro sentido. Será em torno da boneca que se organizará o culto à menina. Não é raro que os umbandistas relatem que uma das dificuldades do seu ‘desenvolvimento espiritual’ é que ele mobiliza a explicitação de questões mal resolvidas e cobra mudanças, com riscos de alguma desestabilização. Neste caso não parece ter sido diferente. A moça veio a pagar caro uma certa indiferenciação entre o amor ao caminho espiritual que abraçara e a paixão por um lugar não estritamente fraterno no coração da família dirigente da comunidade. Isso lhe custou a convivência com o terreiro. A desilusão deixa-a num estado de intenso sofrimento. Desacredita de tudo e meses a fio afunda em desânimo. Duvida e deixa de cuidar dos seus ‘guias’. Até ao seu desligamento do terreiro, a criança Tulipa e a preta-velha Vó Barbina eram os únicos ‘guias’ que haviam tomado forma em narrativas verbais e recebido nome. Alguns meses depois, vê o seu sono invadido por um espírito até então dela desconhecido. Acorda ou sonha de noite, psicografa pontos cantados e receitas. Numa oportunidade, ele lhe deixa por escrito a receita de uma erva para uma ferida na pele (mastruz), que ela relata até então desconhecer. Com a devida ‘autorização espiritual’, combinou-se uma ‘sessão’ em sua casa, na qual se atualizariam os dados de todos os seus guias e que lhe facultaria o conhecimento e a identificação, mediante incorporação, desta nova personalidade. 60
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
Chega o dia aprazado. Como sempre acontece, a própria pesquisa é necessariamente ‘engolida’ e interpretada pela dinâmica da umbanda. E no quadro dessa transferência (na acepção psicanalítica), logo com a primeira incorporação (de uma pomba-gira) se fica a saber que o sentido da presença do pesquisador passa a ser o de um fiel depositário do andamento de um processo de recomposição da pessoa da médium e de revelação do sagrado, atrapalhado mas não abortado, que não poderia ficar paralisado a meio caminho, sob pena dela correr sérios perigos e até risco de loucura ou morte. Entre regredir e progredir, obviamente os espíritos favorecem o avanço. É-me anunciado que lhe seria dada uma prova. Ela permaneceria inconsciente o tempo inteiro (pela primeira vez) e não poderia lhe ser contado todo o sucedido, até instrução em contrário (recebida quase um ano depois). Da manhã à noite os guias se sucedem (entre eles a nova personalidade, ‘em terra’ pela primeira vez), sem intervalos. Sem tempo para gradações, depois de tão longa interrupção, descobre-se que o ‘desenvolvimento mediúnico’ não parou. Tomou o freio nos dentes e disparou a galope. Os guias contam as suas histórias, interpretam a situação, desempenham tarefas rituais e mostram-se sem concessões à cenografia ritual do terreiro anterior. Apenas a largam à noite, no mínimo assustada. A pesquisa tornara-se um meio para proporcionar meios de expressão e condições de elaboração a uma vida em apuros. Sucessivamente, os espíritos se revelam. A médium tem uma Rosa pomba-gira (e teria mais outra, uma Cigana). Cigana da Rosa, autoridade do antigo terreiro, é uma fonte provável de subsídios para a sua elaboração. Também tem um exu de cemitério e um mirim em que se fundem calunga (cemitério) e caminhos (Caveirinha da Encruza), e que adora dançar, como ela e a sua Baiana (Sebastiana). Esta, logo anuncia ‘que a bichinha tem que trabalhar, não é noutra casa, é aqui’. A nova personalidade é um Zé Pelintra, um tipo de herói popular, viril e urbano, esperto e malandro, surgido e urgido depois da perda presencial do pai de santo. Deixa clara a razão da sua vinda e o porquê de assumir a sua ‘frente’ no que diz respeito à profunda seriedade espiritual das coisas da vida material. Bom de briga, protetor que se compraz com desafios, assegura que quanto mais ela entra em desânimo e duvida, mais ele se anima a provar-lhe a sua veracidade. Os seus atributos e qualidades respondem a uma necessidade existencial da médium que não poderia ser suprida por uma velha, nem por uma criança, mesmo sendo a Tulipa. Há nítidas pontes entre aspectos das narrativas que todos nos contam e episódios da vida da médium ou de pessoas com quem a sua história se inter-relaciona (como o ex-marido), as quais não é o caso de detalhar aqui. Não obstante, quiçá antecipando uma linha de reflexão a que não se deve renunciar, a sua preta-velha adianta para desistir de fazer isso no seu caso (por tabela insinuando ser viável fazê-lo com os outros). Ela é, diz-me, ‘totalmente diferente’. A sua historia nada tem em comum nem ecoa a da médium. Ex-escrava, muito humilde e rezadora, ficou pouco tempo ‘presa’ (era jovem por ocasião da Abolição) e trabalhou o resto da vida em casa de família. É radicalmente outra. Zé Pelintra
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
61
Provavelmente aqui está em jogo uma maior fidelidade da ‘linha’ dos preto-velhos à idéia de espírito como alma de um morto que retorna para banhar de sentido a existência de viventes atuais. Esta teoria, oficial na generalidade do culto umbandista, também é tipicamente banta e os preto-velhos têm-se mostrado como os verdadeiros mediadores entre os médiuns e as diversas funções da espiritualidade personificadas pelas outras categorias. São os mais convincentes como estritamente outros e humanos, não obstante desprovidos de carne, supostamente personalidades de defuntos. Tal preocupação de verossimilhança, ou pelo menos de coerência, está nos antípodas da manifestação da menina Tulipa, à qual se dedica este artigo, que despreocupadamente não cuida de disfarçar o cunho acentuadamente menos metafísico e mais propriamente espirituoso dos espíritos da umbanda.
Dos Jardins do Pai ao Desabrochar da Mulher Tulipa narra-nos a sua história. Tem esse nome por causa do seu pai ‘em outra vida’, um apreciador de tulipas que cultivava um canteiro dessas flores, em frente às escadarias da entrada da casa da família. Este elo entre a menina e o pai, a médium carrega-o no corpo, não apenas por meio da possessão da Tulipa, como também na forma de uma tulipa vermelha tatuada. No léxico do culto umbandista, canteiros de flores e jardins associam-se aos espíritos infantis e habitualmente as flores integram-se a gestos rituais que aludem ao feminino bem como à experiência do sagrado como luz em forma vegetal. A sua diversidade botânica e cromática faculta a construção de uma semântica de nuances bastante ricas, cuja dimensão espiritual não é exclusiva da umbanda, pois na Antiguidade já era encontrada na Pérsia (Corbin, 1996), terra original da tulipa flor, Transportada para a Europa, a planta tornou-se símbolo nacional da Holanda (digase de passagem que o pai da médium trabalhou boa parte da vida como executivo em empresa de capital holandês). Ainda que na umbanda os atos cultuais relativos aos espíritos infantis se façam em jardins, não é muito comum o uso ritual de tulipas, flor de clima frio. Seria de fato interessante, se possível, conferir o significado original da Tulipa na sua terra natal, o altiplano iraniano.2 Mas como o universo umbandista parece não renunciar a nenhuma possibilidade nem recurso de significância, também o mundo nesta forma, nada tropical, de ar frio, píncaros gelados e planos elevados, não é alheio ao seu vocabulário. Na verdade, presentifica a mais alta divindade do panteão, Oxalá, que num sonho se revelaria à médium ‘reger a sua cabeça’ e a quem logo depois ela se consagra em transe inconsciente, mediante um elaborado ritual, de iniciativa da Tulipa, no qual aparecem componentes e seqüências (significantes) inequivocamente intrínsecos ao campo semântico de Oxalá. Mas esta linha hermenêutica, que avança na direção de reconhecer no mundo sinais da escrita de um Outro objetivamente transcendente – questão indecidível, de uma perspectiva humana – ainda que reforçada pela lembrança do Jardim do Éden como ponto 2 Na poesia de Omar Khayyam, tributária da tradição literária e espiritual persa, a tulipa surge em associações com ‘fogo’, ‘belos rostos’, ‘taça’, ‘vinho’, ‘sangue’.
62
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
de máxima elevação espiritual na tradição semita – ‘terra’ de luminosidade espiritual sem mácula, que o puro espírito desfruta quando honra o Pai – e tão refinadamente elaborado na mística a ela afiliada, não deve excluir outras possibilidades de significação, que, embora eventualmente sagradas, são igualmente mundanas e menos solenes. Em línguas como o grego, a menção a jardins pode aludir à genitália feminina (Kerényi, 1998) e poeticamente referências botânicas podem comportar o mesmo sentido. Na umbanda, aliás seguindo trilhas também disponíveis na linguagem quotidiana (que nomeia certas experiências sexuais como deflorações), flores e jardins também se associam ao feminino e a crianças. Desta perspectiva, Tulipa é compreensível como um significante interpretativo da significação que o enigmático feminino possa receber da relação de um pai com uma filha. O pai, seja Deus ou homem, dá-lhe um nome e significa-a menina, poeticamente refletindo-a flor e rubra, ‘arbusto de sangue’, conforme um poema de Herberto Helder (1990, p. 18). A ‘menina’ da Tulipa, a sua ‘filha’, precisa crescer. A inocência infantil não pode prolongar-se em ingenuidade de mulher. A desilusão amorosa, a perda de um homem pai (de santo), proporciona um re-equacionamento de desejos femininos em termos mais maduros, cujos reflexos se manifestam, embrionariamente, na notícia da manifestação de um novo guia, uma mulher crescida, uma Padilha. Anuncia-se a ‘vinda’ de um expoente do panteão representativo da incorporação, à vida espiritual e à existência quotidiana, da vida mundana e especialmente da sexualidade feminina adulta. Ainda assustada com o que se revela, dela e do Outro, a médium tem medo e recusase a chamá-la e a incorporá-la. A sua ‘aproximação’ é o aproximar-se da mulher. Crescer, espiritual e humanamente, pode ser assustador. Crescer também é irreversível. Mesmo sem ser chamada, espírito em forma de mulher explicitamente adulta, algum tempo depois (poucos meses), sem pedir licença, a pomba-gira Maria Padilha ‘força’ a sua incorporação, claro indício da ‘menina’ agora poder passar a vivenciar e integrar melhor o ser mulher. Bem entendido, não apenas numa acepção puramente simbólica ou exclusivamente abstrata, mas substantivamente relativa ‘à parte de baixo’, a entender concomitantemente tanto como orientação ‘metafísica’ para o ínfero, como enquanto alusão à parte anatômica do ‘baixo ventre’ (genitália) e todas as suas ressonâncias. O florescer da Tulipa, ao pé da letra uma flor comumente rubra e em forma de taça – sendo esta o símbolo e utensílio ritual mais característico e representativo das competências erótico-espirituais associadas à recém vinda mulher ‘de baixo’ e às suas congêneres (às pomba-giras) –, reitera a possibilidade de, com a linguagem umbandista, tanto se processarem elaborações psíquicas, como agirem formas de inscrição do sujeito numa linguagem e universo espiritual sagrados. Polissemicamente uma coisa e outra, concomitantemente. O próprio espírito Tulipa, ao longo deste processo, começa a manifestar-se em formas cada vez mais adultas e, hoje em dia, pode comumente apresentar-se como uma senhora, a Senhora das Nuvens. O plano continua alto, ao pé do céu, rente às nuvens, clima de tulipas. O espírito continua o mesmo. Mas tomou outra forma e pode tomar outras formas. Formas não alheias às suas raízes, mas que dêem forma às metamorfoses existenciais do humano a quem possui.
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
63
Lições da Tulipa À revelia de qualquer juízo valorativo, o idioma umbandista insiste em preservar vivo o morto e em incorporar todo e qualquer outro a sua sintaxe peculiar, criando a ilusão de se anular em catolicismo popular, empenhar-se em se assimilar ao espiritismo, ou esforçarse para recuperar uma fantasiosa “pureza” africana. O peculiar do seu ‘espírito’ é ser parodiador e diluidor de metafísicas, talentoso em soprar por entre as frestas da solidez dos ‘fundamentos’ alheios. Sem cerimônias, Tulipa furta-se a se enquadrar em modelos teóricos ‘coerentes’, tanto psicológicos como religiosos Um ‘ser menina’ desidentifica-se em carne do eu e encarna o sagrado. Concomitantemente, interpreta uma alteridade ‘espiritual’ e expressa anseios de maternidade e cuidados para consigo e para com próximos. A sua ludicidade não deixa de ser uma fina, quase imperceptível, crítica à rigidez das tentativas de racionalização e de codificação metafísicas da umbanda. É um estímulo para que se dê ouvidos à natureza espirituosa dos espíritos. Eles escapam às tentativas de captura na forma de alguma identidade substantiva, embora possam mostrar-se dóceis a esse tipo de interpretações. Não se trata de negar a sua existência, na forma da interpelação que o conjunto de sinais que os consubstancia dirige ao humano, mas de admitir que não estão à mão das representações, religiosas ou científicas, que intentam agarrá-los. Em vez disso cada tipo de espírito materializa uma possibilidade compreensiva do drama humano e uma diferente perspectiva da sua articulação. Conforme a sua classe, há diferentes estilos de ‘comportamento’ perante o imperativo da racionalização. No caso de narrativas de crianças, como a Tulipa, escancara-se que o idioma de possessão umbandista não se subordina aos princípios da lógica clássica (identidade, contradição e terceiro excluído). Para decifrá-las é fundamental dar ouvidos a todas as nuances significantes que o descompromisso para com o realismo possa permitir, sendo notável a precisa e reveladora interligação temporal entre acontecimentos espirituais e momentos biográficos. Elas não referem objetos nem informam sobre ‘outro mundo’. Depõem a respeito de possibilidades radicalmente insubstantivas do agente acontecer. A não admissibilidade da lógica subjacente ao seu entendimento, a qual o mais das vezes é sumariamente reduzida a mera irracionalidade, é apenas mais um modo de exclusão, entre outros. Cada teoria também performa o sentido dos dados e portanto cada exclusão se reitera pelo ato da sua ‘percepção’. Uma orientação de pesquisa etnopsicológica e solidária do popular deve dedicar-se a decifrar e incluir no campo do saber psicológico o peculiar modo como se constroem os sentidos e a realidade afro-brasileiros, por mais obscuras ou ininteligíveis que se afigurem, em vez de os desqualificar. De fato a religiosidade umbandista já foi vista como uma forma degradada de uma cultura espiritual africana supostamente mais ‘pura’. Chegou a ser descrita como degenerada e pobre. Pobre, comparativamente à pretensa riqueza de narrativas mitológicas pretensamente imutáveis, projetadas num tempo remoto, e degenerada relativamente a uma fan-
64
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
Saudação a Obrigação de Oxalá
tasiada pureza desse suposto passado perdido (que provavelmente nunca existiu, a ter-se em conta a sua valorização pragmática do concreto atual como horizonte do sagrado). Esse seu suposto ‘defeito’, a sua falta de compromisso para com ‘fundamentos’ rígidos e mitos de origem inflexíveis, pode ser pensado como resultante de um ethos avesso a doutrinas metafísicas e refratário a lógicas identitárias. Estratégia de enunciação do interdito ou indizível em palavras e pensamentos, o transe umbandista formula-se como trânsito entre imagens estético-significantes cheias de sentidos, conformadas e aderidas ao corpo e informadas pelo repertório de figuras proporcionado pelo culto, e as suas interpretações corporais. Essas imagens-significantes e experiências sensoriais, encarnáveis corporal e existencialmente, não apenas não têm compromissos com a representação realista da realidade, como são incompatíveis com o seu postulado. Sem dúvida Tulipa muito nos ensina a respeito do insuflamento da espiritualidade umbandista por uma ‘corrente’ avessa à dicotomia entre um mundo de coisas e um nível de abstrações. As suas nuvens não correm nessa direção. Erê da linha de Oxalá, tatuagem, ‘guia de frente da médium’, boneca de pano dada pela avó, filha sonhada, Tulipa não tem outro compromisso que não dar vazão e forma precisa à verdade, independentemente de qualquer veleidade de realismo. Identidade de menina, Tulipa, liga-se à figura do pai, amável e protetor. Quer seja o pai carnal, originário da Holanda, país associado à flor; quer seja o pai de santo, igualmente apreciador da sua flor; quer seja o pai espiritual, Zé Pelintra, guia nos meandros (rituais) da iniciação à vida adulta. Cada uma das suas aflorações e as suas modulações podem não ser apenas isso, mas primordialmente revelam e elaboram transformações da sua menina. A redução da figura do pai (de santo) a um homem possível, por exemplo, eliciou a ‘vinda’ de uma figura paterna, na forma do malandro Zé Pelintra – o ‘tio’, conforme a médium carinhosamente o apelida. O ‘mundo espiritual’ não se deu por achado e conseguiu manter as coisas no lugar, ao mesmo tempo significando o pai como um homem muito humano (diz a letra
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
65
de uma conhecida música ritual dedicada a este gênero de espírito: “Oh Zé, faça tudo o que quiser, só não machuque o coração dessa mulher”) e proporcionando um homem espiritual com função de pai. Assim também, a forma da flor tulipa antecipa a da taça de mulher (pomba-gira) em que se servem os filtros amorosos e esta alude aos encantos da vagina, sem outra razão que não a necessidade de expressão do florescimento pessoal. Tulipa faz questão de dizer que o seu nome não tem muita importância e que se pode mostrar de muitas maneiras (e portanto não é de nenhuma). A sua agilidade para sobressair em quaisquer nuances de significância que possam trazer à luz o ser menina da sua médium e proporcionar sentidos do longínquo e transcendente não é compatível com o aprisionamento em representações. De certa forma, ela brinca com elas e por tabela com os que se aprisionam às mesmas. De boneca infantil dada por avó querida – gesto de reconhecimento e mensagem de identificação feminina, com quem se brinca e se sonha ser mãe – até ao desejo efetivo de uma criança de verdade, um bebê que traga à luz a intimidade feminina e dê forma de mãe a uma menina crescida, o espírito Tulipa ilumina a sua médium. Reflete-a até na sua tristeza, decepcionada no amor, incorporando a si um luto pela desistência da filha que lhe daria carne. Mas a sua capacidade para iluminar o ser da médium não se prende ao imediato psicológico. Com Tulipa surge o embrião, não de uma filha, mas de um novo terreiro. Tulipa encarna a promessa de uma nova comunidade umbandista. Ela também é uma flor persa e pode evocar a elevação de uma pátria espiritual, uma terra celestial que se implanta (como tatuagem) no espiritual corpo da médium. Pode habitar os jardins que na umbanda são típicos dos espíritos infantis, eles mesmos, quiçá, reflexos da inocência e doçura do Paraíso, no caso interpretado como um jardim de Tulipas, meninas de sonho cultivadas por um Jardineiro ao qual a flor se afilia (é o seu Pai). Tulipa é um espírito em que a doçura do infantil (doces são as oferendas feitas às ‘crianças’ na umbanda) e a clara serenidade do orixá maior, Oxalá, se fundem em brandura. Tem a cara da sua médium, mas não se resume à sua personalidade. Histórias como a da Tulipa ilustram a insuficiência de estratégias retóricas metafísicas para dar conta da possessão umbandista. A sua polissemia é irredutível. Espíritos infantis, como ela, podem ’porta-se mal’ relativamente á obrigatoriedade de conformar as narrativas do transe a modelos metafísicos ou cientificistas. Estão mais livres para revelar a implausibilidade desse enquadramento, devido ao seu desprendimento para com esse tipo de constrangimentos, de maneira tal que não atrita com a humana necessidade de se agarrar a alguma realidade, porque afinal são crianças e brincalhões. Despem-se de qualquer verossimilhança objetiva para, com mais liberdade, ressoarem ou repercutirem, sem peias realistas, sutilezas da verdade.
Referências Bairrão, J.F.M.H. (2001). A imaginação do outro: intersecções entre psicanálise e hierologia. Paidéia: Cadernos de Psicologia e Educação 11(21), 11-26. Bairrão, J.F.M.H. (2003). O impossível sujeito: Implicações da irredutibilidade do inconsciente. São Paulo: Rosari.
66
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
Bairrão, J.F.M.H. (2004). Sublimidade do Mal e Sublimação da Crueldade: Criança, Sagrado e Rua. Psicologia: Reflexão e Crítica 17(1), 61-73. Bairrão, J. F.M.H. & Leme, F. R. (2003). Mestres Bantos da Alta Mogiana: Tradição e Memória da Umbanda em Ribeirão Preto. Memorandum: Memória e História em Psicologia 4, 5-32. Disponível em <http://www.fafich.ufmg.br/~memorandum/artigos04/bairrao02.htm>. (Acessado em 30-5-2005) Boddy, J. (1994). Spirit Possession Revisited: Beyond instrumentality. Annual Review of Anthropology 23, 407-434. Coelho, V. (2000). Os túmúndòngò – os gênios da natureza e o Kílàmbà: notas para um estudo sistemático das instituições e estruturas ligadas à terra entre as populações de língua e cultura kímbùndù. Em I. Mata & L. Padilha (Org.). Mário Pinto de Andrade: um intelectual na política. (pp. 285-306). Lisboa: Colibri. Concone, M. H. (1987). Umbanda, uma religião brasileira. São Paulo: FFLCH/USP-CER Corbin, H. (1996). Cuerpo espiritual y Tierra celeste. Barcelona: Ediciones Siruela. Corbin, H. (1977). Face de Dieu, face de l’homme. Paris: Flammarion. Corin, Ellen Affects and Symbols in an African spirit possession cult. In Michael Lambek and Andrew Strathern (Org.) Bodies and persons: Comparative perspectives from África and Melanesia. Cambridge: The Press Syndicate of the University of Cambridge, 1988 Crapanzano, V. (1977) Introduction (pp. 1-40). In: Vincent Crapanzano and Vivian Garrison (Org.). Case Studies in Spirit Possession. New York/London/Sydney/Toronto: John Wiley & Sons, 1977 Devereux, G. (1972) Éthnopsychanalyse complémentariste. Paris: Flammarion Estermann, C. (1983). Etnografia de Angola. 2 v., Lisboa: Instituto de Investigação Científica Tropical. Helder, H. (1990). Poesia Toda. Lisboa: Assírio e Alvim Kerényi, K. (1998) Os deuses gregos (O. M. Cajado, Trad.). São Paulo: Cultrix. (Original publicado em 1951) Lacan, J. (1999) O Seminário, livro 5: as formações do inconsciente (1957-1958). Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor Lambek, M. (1981) Human Spirits: A Cultural Account of Possession in Mayotte. Cambridge: Cambridge University Press Lambek, M. (1988) Spirit Possession/Spirit Succession: Aspects of social continuity among Malagasy Speakers in Mayotte. American Ethnologist 15(4): 710-731 Lutz, C. (1988). Unnatural Emotions: Everyday Sentiments on a Micronesian Atoll and The Challenge to Western Theory. Chicago: The University of Chicago Press. Lutz, C. (1985) Ethnopsychology compared to what? Explaining behavior and consciousness among the Ifaluk. Em G. M. White & J. Kirkpatrick (orgs.) Person, Self and Experience: Exploring Pacific Ethnopsychologies, pp. 35-79. Berkeley: University of California Press. Negrão, L. N. (1996). Entre a cruz e a encruzilhada: formação do campo umbandista em São Paulo. São Paulo: Edusp. Ortiz, R. (1978). A morte branca do feiticeiro negro. Petrópolis: Vozes. Ribas, O. (2002). Temas da vida angolana e suas incidências: Aspectos sociais e culturais. Luanda: Chá de Caxinde Editora e Livraria. Stoller, P. (1995) Colonial Memories: Spirit Possession, Power and the Hauka in West África. New York: Routledge.
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
67
Winnicott, D. W. (1975). O brincar e a realidade (D. L. Bogomoletz, Trad.) Rio de Janeiro: Imago. (Original publicado em 1971). Winnicott, D. W. (1990). Natureza humana. (D. L. Bogomoletz, Trad.) Rio de Janeiro: Imago. (Original póstumo publicado em 1988).
Exu Mirim Caveirinha da Encruza
* José Francisco Miguel Henriques Bairrão graduou-se em Psicologia e em Filosofia pela Universidade de São Paulo (FFLCH e IP). Doutorou-se em Filosofia pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente leciona na USP, campus de Ribeirão Preto (FFCLRP). Coordena o Laboratório de Etnopsicologia desta instituição, onde orienta e desenvolve pesquisas pautadas pelo interesse em não divorciar reflexão epistemológica (Epistemologia da Psicologia, Filosofia da Psicanálise) e pesquisa empírica (Psicologia da Cultura, Psicologia da Religião), bem como abertas a argumentos e contribuições interdisciplinares. E-mail: <jfbairrao@ffclrp.usp.br>.
68
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
O Lugar do Homem em As Palavras e as Coisas (Las Meninas de Velázquez)
AUGUSTO BACH*
1. Introdução Consoante Michel Foucault duas figuras antagônicas e não passíveis de sobreposição “disputariam” na modernidade o mesmo espaço deixado vazio pelo “recuo da representação” clássica: o homem e o ser bruto da linguagem manifestado pela literatura. Sabe-se, porém, que até o final do século XVIII, pois, sequer o homem ou a literatura existiam. A confiar a na tese de As Palavras e as Coisas, a episteme moderna seria marcada, pois, por uma incompatibilidade1 espacial constitutiva de seu modo de ser ao solicitar paradoxalmente 1
“A transição para uma linguagem em que o sujeito está excluído, o ocaso de uma incompatibilidade, talvez sem recursos, entre a aparição da linguagem em seu ser e a consciência de si em sua identidade é hoje em dia uma experiência que se anuncia em diferentes pontos da cultura: no mínimo gesto de escrever como nas tentativas para formalizar a linguagem, no estudo dos mitos e na psicanálise, na busca, inclusive, desse Logos que é algo assim como a certidão de nascimento de toda a razão ocidental. Encontramo-nos de repente diante de um hiato que durante muito tempo nos tinha sido ocultado: o ser da linguagem não aparece por si mesmo mais do que no desaparecimento do sujeito.” (Foucault, O Pensamento do Exterior, p. 19-20) Este texto é um artigo, escrito dentro da temática de As Palavras e as Coisas, que se constitui como uma forma não arqueológica de Foucault formular sem hesitações a relação entre a literatura e o novo espaço de pensamento que ela abre para nós. De um certo modo, podemos dizer que ele foi a maneira encontrada por Foucault de resolver as aporias expostas em seu último livro.
As meninas – Velázquez.
a dois personagens um mesmo destino. Devido a este fenômeno de congestionamento no trânsito das acomodações epistêmicas, faz-se mister compreender, quando as novas empiricidades (biologia, economia política e filologia) aparecem, por que a figura do homem é necessariamente requerida pelo espaço do saber moderno. Com efeito, na passagem do século XVIII para o século XIX, a representação doravante não autorizará, desde o seu interior, o conhecimento tal qual o discurso clássico o dispunha. Pelo contrário, sua própria condição de possibilidade residirá no exterior, na alteridade opaca das coisas. Ela perdeu o poder de criar, a partir de seu desdobramento, os laços que a permitiam unir seus diversos elementos. A condição desses laços residirá doravante em seu exterior, para além de sua imediata visibilidade, numa espécie de mundosubjacente mais profundo e espesso que ela própria. A aliança clássica entre o ser e a representação que permitiu a formulação do cogito cartesiano será desfeita. “A representação está em via de não mais poder definir o modo de ser comum às coisas e ao conhecimento. O ser mesmo do que é representado vai agora cair fora da própria representação.” Contudo, “ … o grande desvio que irá buscar, do outro lado da representação, o ser mesmo do que é representado não se realizou ainda; somente já está instaurado o lugar a partir do qual ele será 70
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
possível. Esse lugar, porém, já figurara sempre nas disposições interiores da representação.”2 Este desnível dos novos objetos empíricos, este salto do ser para fora das funções representativas, constitui um dos mais importantes acontecimentos de nossa cultura capaz, segundo Foucault, de fazer bascular a aparente imobilidade superficial dos saberes. Devido justamente a esta inflexão em profundidade realizada por essa mutação arqueológica, uma mudança de ordem em nossa cultura demanda, a partir da moderna episteme, o aparecimento transitório da figura do homem em sua posição ambígua de “objeto para o saber” e “sujeito soberano de todo o conhecimento possível”; como aquilo que é preciso conhecer e aquilo a partir de que é preciso pensar. É este o acontecimento arqueológico – quando “a cultura européia inventa para si uma profundeza” – que faz com que o saber mude de natureza. “O que mudou, na curva do século, e sofreu uma alteração irreparável foi o próprio saber como modo de ser prévio e indiviso entre o sujeito que conhece e o objeto do conhecimento.”3 Com efeito, o homem se prestará como objeto para o conhecimento a partir do fundo dos novos objetos como a vida, o trabalho e a linguagem; de realidades espessas, subjacentes, cuja verdade não se aloja mais na pura atividade clássica e representativa do sujeito que se faz objeto representado, mas na profundidade histórica das próprias coisas. O homem torna-se objeto do saber pois estudar esses objetos significa estudar o próprio homem. Por esta alteração no estatuto da representação, sua relação com os novos saberes empíricos designará, a partir de então, no coração mesmo da modernidade uma anterioridade histórica, irredutível e incontornável a toda e qualquer tentativa de assimilação subjetiva que assinala a característica respectiva à figura do homem: sua finitude. A ruptura com o discurso clássico consiste, pois, no fato de que a representação doravante não poderá mais ser lida sem referência a condições que lhe são exteriores, ao assumir uma posição derivada – e não mais originária como na época clássica – em relação aos novos objetos empíricos. Do mesmo modo, quando esta alteridade íntima a ser reconquistada e reapropriada abre-se ao homem como lugar subjacente de sua condição, nós nos encontramos em face de um objeto que é ao mesmo tempo sujeito e vice-versa. Como objeto para os saberes empíricos e como sujeito conhecedor dessas ciências, a posição ambígua assumida pelo homem no interior desses saberes, e requerida pela nova disposição epistemológica, anunciará o paradoxo que governa toda a filosofia moderna: a procura do próprio fundamento num ser finito. Tornado ao mesmo tempo sujeito e objeto de saber científico, abre-se a perspectiva de conhecer a realidade humana inusitadamente; não obstante, por essa mesma via, perceba-se os limites que o homem, feito objeto de conhecimento empírico, impõe a si mesmo. A representação que se faz das coisas não tem mais que desdobrar, num espaço soberano, o quadro de sua ordenação; ela é, do lado desse indivíduo empírico que é o homem, o fenômeno - menos ainda talvez, a aparência - de uma ordem que pertence agora às coisas mesmas e à sua lei interior. Na representação, os seres não manifestam mais sua identidade, mas a relação exterior que estabelecem com o ser humano. Este, com seu ser próprio, com seu poder de se fornecer representações, surge num vão disposto pelos seres vivos, pelos objetos de troca e pelas palavras quando, abandonando a representação que fora até então seu 2 Foucault, As Palavras e as Coisas p.255 [252-253]. 3 Foucault, Ibidem; p.267 [264].
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
71
lugar natural, retiram-se na profundidade das coisas e se enrolam sobre si mesmos segunda as leis da vida, da produção e da linguagem. Em meio a todos eles, comprimido pelo círculo que formam, o homem é designado - bem mais, é requerido - por eles. […] Mas essa imperiosa designação é ambígua. Em certo sentido, o homem é dominado pelo trabalho, pela vida e pela linguagem. […] e ele próprio, desde que pensa, só se desvela a seus próprios olhos sob a forma de um ser que, numa espessura necessariamente subjacente, numa irredutível anterioridade, é já um ser vivo, um instrumento de produção, um veículo para as palavras que lhe preexistem. Todos esses conteúdos que seu saber lhe revela exteriores a ele e mais velhos que seu nascimento antecipam-no, vergam-no com toda a sua solidez e o atravessam como se ele não fosse nada mais do que objeto da natureza ou um rosto que deve desvanecer-se na história. A finitude se anuncia - e de uma forma imperiosa - na positividade do saber.4
Antes de mais nada, Foucault está nestas linhas apontando para o lugar destinado ao homem no interior dessas figuras do saber moderno que cumprem o papel de mediadoras a fim de que a silhueta do homem consiga definir um rosto condenado concomitantemente, por essa mesma via, a desaparecer no devir da história arqueológica. No momento em que as coisas cessam de ser percebidas na imediatidade da ordem representativa, elas assumem uma realidade nova, própria e independente que nos remete a uma opacidade irredutível à consciência do homem que, por sua vez, só pode reconquistá-la de direito, e não de fato; a um “inesgotável duplo que se oferece ao saber refletido como a projeção confusa do que é o homem na sua verdade, mas que desempenha igualmente o papel de base prévia a partir do qual o homem deve reunir-se a si mesmo e se interpelar até sua verdade”.5 Pois bem, é este fundo de historicidade prévio ao homem que coloca a origem e a verdade humanas em uma relação de distância imemorial em relação ao seu presente. O homem já se descobre imerso nos objetos empíricos, mas não consegue retraçar historicamente suas origens e seu fundamento que se perdem num recuo infinito. Sua relação com o fundamento é uma relação cotidiana com aquilo que desde sempre já começou, com o que é mais velho, anterior e inesgotável.
2. O quadro Las meninas de Velázquez e sua apropriação arqueológica Quando a representação pois ceder caminho para a episteme moderna, o homem simplesmente nasce num lugar que já o esperava, instaurado no interior da disposição das representações. Os saberes dos séculos XIX e XX, nesse sentido, apenas preenchem a ausência de um lugar já reservado antecipadamente pelo espaço do discurso clássico. Reportemonos então ao recurso arqueológico a obras artísticas que nos possibilitam iluminar, ainda que de modo sucinto e breve, a potência soberana dos acontecimentos históricos e suas pulsações descontínuas que atravessam o espaço inteiro de nossa cultura. Em seu uso singular das artes da literatura e da pintura, Foucault esconde uma finalidade em sua argu4 Foucault, Ibidem; p.329 [324]. 5 Foucault, Ibidem; p.343 [338].
72
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
mentação. Escrever, para ele, obedece necessariamente a uma específica estratégia. Obras literárias como Dom Quixote de Cervantes, Justine e Juliette do Marquês de Sade e a pintura Las Meninas de Velázquez são utilizadas pela arqueologia como alegorias que tomam por objeto de estudo a episteme na qual se encontram em uma posição de borda exterior, limite.6 Diferentemente dos outros discursos analisados, elas se encontram presentes em As Palavras e as Coisas numa outra dimensão, mais profunda que antecipa alegoricamente o que mais tarde será visto conceitualmente. O comentário do quadro Las Meninas desde o primeiro capítulo de As Palavras e as Coisas, bem como sua retomada conceitual no capítulo IX da mesma obra, é o problema em questão que iremos tratar, assim como o fenômeno de congestionamento nas acomodações epistêmicas alegorizado pela pintura. Quando a história natural se torna biologia, quando a análise das riquezas se torna economia, quando sobretudo a reflexão sobre a linguagem se faz filologia e se desvanece esse discurso clássico onde o ser e a representação encontravam seu lugar-comum, então, no movimento profundo de uma tal mutação arqueológica, o homem aparece com sua posição ambígua de objeto para um saber e de um sujeito que conhece: soberano submisso, espectador olhado, surge ele aí, nesse lugar do Rei que, antecipadamente, lhe designavam Las Meninas, mas donde durante longo tempo sua presença real foi excluída. Como se nesse espaço vacante, em cuja direção estava voltado todo o quadro de Velázquez, mas que ele, contudo, só refletia pelo acaso de um espelho e como que por violação, todas as figuras de que se suspeitava a alternância, a exclusão recíproca, o entrelaçamento e a oscilação (o modelo, o pintor, o rei, o espectador) cessassem de súbito sua imperceptível dança, se imobilizassem numa figura plena e exigissem que fosse enfim reportado a um olhar de carne todo o espaço da representação. O motivo dessa presença nova, a modalidade que lhe é própria, a disposição singular da epistémê que a autoriza, a relação nova que através dela se estabelece entre as palavras, as coisas e sua ordem - tudo isso pode ser trazido agora à luz.7
Foucault trata de introduzir neste instante de sua argumentação, como que por “um lance de teatro artificial” – ele confessa – um personagem que não figurara ainda no grande jogo clássico das representações. É por intermédio de uma reduplicação de um artifício, pois, que ele resolve escrever e deter-se sobre o estatuto artificial do dispositivo dos saberes da episteme moderna. Mais uma vez, incorporando em seu texto o aspecto teatral e literário da surpresa como recursos de pensamento, Foucault põe-se a pensar. Diante do retorno da linguagem e o fim necessário do discurso clássico, impõe-se a exigência do “recomeço talvez do trabalho”. Ele encontra a lei prévia desse recomeço no quadro Las Meninas, onde a representação é representada em cada um de seus momentos: pintor, palheta, grande superfície escura da tela virada, quadros pendurados na parede, espectadores que olham e são, por sua vez, enquadrados por aqueles que os olham; enfim, todo o 6 Nossas análises, embora anunciem uma sutil diferença no que diz respeito à associação entre literatura e arqueologia, foram primeiramente inspiradas nos comentários de John Rajchman. “Parece ser esse, de fato, o elo geral entre as duas histórias de Foucault, a história do saber e a história da literatura e da pintura. As artes são alegorias meta-epistêmicas dos profundos arranjos que tornam possível o saber. […] sua história literária contém uma teleologia oculta.” Rajchman, J; Foucault: a liberdade da filosofia p. 26. 7 Foucault, Ibidem; p. 328-329 [323].
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
73
ciclo perfeito do nascimento e morte da representação clássica. Todas as linhas interiores do quadro e sobretudo aquelas que vêm do reflexo central apontam para aquilo mesmo que é representado mas que não se encontra aí presente. “Ao mesmo tempo objeto […] e sujeito, […] é o espectador cujo olhar transforma o quadro num objeto, pura representação dessa ausência essencial. […] No pensamento clássico, aquele para quem a representação existe, e que nela se representa a si mesmo, aí se reconhecendo por imagem ou reflexo, aquele que trama todos os fios entrecruzados da ‘representação em quadro’ -, esse jamais se encontra lá presente.”8
No primeiro capítulo de As Palavras e as Coisas, intitulado Las Meninas, Foucault fornecera ao leitor uma detalhada análise do quadro de Velázquez tomando-o como uma alegoria que versa como um todo sobre o estatuto da representação na época clássica. A análise foucaultiana do quadro mostrava como eram representados os temas da noção clássica de representação. Las Meninas constitui destarte, para a arqueologia foucaultiana, a “essência manifesta” da representação da episteme do século XVII ao representar representações dispostas de um modo organizado neste quadro. O tema geral dessa pintura é o caráter cerrado da visão clássica que parece impossibilitar qualquer ponto de fuga que escape à imanência dominante da representação. Ao preencher todo o campo espacial da pintura, a representação só não é capaz de representar a atividade de um sujeito antropológico unificador dessas representações, pois ela não é capaz de se colocar esta questão. Enquanto a estabilidade desta transparência discursiva da representação esteve salvaguardada epistemologicamente, a atividade do homem de unificar essas representações não pôde ser problematizada. Sabemos que a função deste sujeito emergirá tematizadamente apenas na época moderna do século XIX. Contudo, esta obra não apenas alegoriza a ausência do homem resultante do domínio transcendente no espaço clássico da representação, como também indica antecipadamente as instabilidades da episteme clássica através das quais o homem encontrará seu lugar revertendo as prioridades epistemológicas da representação. A pintura de Velázquez é, portanto, concomitantemente a alegoria da ausência do homem assim como a indicação de seu nascimento no período histórico que se segue. Acompanhemos atentamente as principais passagens da leitura do quadro: “O pintor olha, o rosto ligeiramente virado e a cabeça inclinada para o ombro. Fixa um ponto invisível, mas que nós, espectadores, podemos facilmente determinar, pois que esse ponto somos nós mesmos: nosso corpo, nosso rosto, nossos olhos. O espetáculo que ele observa é, portanto, duas vezes invisível: uma vez que não é representado no espaço do quadro e uma vez que se situa precisamente nesse ponto cego, nesse esconderijo essencial onde nosso olhar se furta a nós mesmos no momento em que olhamos. […] Aparentemente, esse lugar é simples; constitui-se de pura reciprocidade: olhamos um quadro de onde um pintor, por sua vez, nos contempla. Nada mais que um face-a-face, olhos que se surpreendem, olhares retos que, em se cruzando, se superpõem. E, no entanto, 8 Foucault, Ibidem; p. 324 [319].
74
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
essa tênue linha de visibilidade envolve, em troca, toda uma rede complexa de incertezas, de trocas e evasivas. O pintor só dirige os olhos para nós na medida em que nos encontramos no lugar de seu motivo. Nós, espectadores, estamos em excesso. Acolhidos sob esse olhar, somos por ele expulsos, substituídos por aquilo que desde sempre se encontrava lá, antes de nós: o próprio modelo. Mas, inversamente, o olhar do pintor, dirigido para fora do quadro, ao vazio que lhe faz face, aceita tantos modelos quanto espectadores que lhe apareçam; nesse lugar preciso mas indiferente, o que olha e é olhado permutam-se incessantemente.”9
A primeira parte do comentário foucaultiano de Las Meninas analisa a posição que a pintura fixa para o espectador e sua relação com a figura do pintor representado na pintura. A figura do pintor, mais especificamente seu olhar, é o elemento central deste intercâmbio. Ele é o centro da organização de todo o quadro e responsável por toda a representação. O pintor Velázquez, criador da obra artística, é representado dentro da pintura trabalhando num quadro que está virado de costas para nós e que, por sua vez, não pode ser visto, olhando para um espaço onde justamente nós, os espectadores, nos situamos. Estamos fixados pelo olhar do pintor representado acrescentando-nos ao quadro por estarmos situados no mesmo local do modelo a ser pintado. Sem dúvida, habitamos o lugar ocupado pelo modelo do quadro. Além disso, o pintor por sua vez também é pego, ele mesmo, dentro de um complexo espaço de referências entrecruzadas onde todo sujeito espectador é também sujeito representado e vice-versa. A pintura captura o pintor num momento em que ele é ainda visível olhando para seu modelo e ao ponto de se tornar invisível atrás do cavalete da pintura em que trabalha. Ele é visto (representado) logo antes de se tornar invisível ao exercer sua atividade representativa: a pintura. Dito de outro modo, ele é pego “entre pinceladas” num instante de suspensão de sua atividade. Esta posição assumida pelo pintor é muito importante para a organização do quadro, que seria totalmente diferente caso ele não estivesse aí também representado. Pois o centro de organização do quadro ocupado pelo pintor não pode aparecer para aquele mesmo que o representa. “Como se o pintor não pudesse ser ao mesmo tempo visto no quadro em que está representado e ver aquele em que se aplica a representar alguma coisa, ele reina no limiar dessas duas visibilidades incompatíveis.”10 Foucault argumenta que a visibilidade dos elementos presentes no quadro não é primordial, mas dependente de um sistema representativo de que faz parte existindo diferentes e incompatíveis modalidades da visibilidade dentro do contexto da representação. Uma incompatibilidade entre a visibilidade do representante e a visibilidade do representado atravessa toda idade clássica impedindo a ambas de se apresentarem simultaneamente. Vê-se, a partir da posição limítrofe ocupada pelo pintor neste quadro entre essas duas visibilidades, que a atividade representativa do pintor não pode ser representada no próprio ato da representação, num quadro cujo tema é a própria representação. Esta impossibilidade de representar o ato de representar manifesta as tensões e as instabilidades próprias ao espaço clássico da representação.11 9 Foucault; Ibidem p.20 [20]. 10 Foucault; Ibidem p.20 [20]. 11 “Daí as instabilidades próprias da representação. A pintura é um sucesso; mostra todas as funções exigidas pela representação, inclusive a impossibilidade de tê-las, todas juntas, numa representação unificada de sua atividade [ …] Algo essencial não foi representado.” (Dreyfus e Rabinow; p.29)
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
75
Já o lugar onde sujeito espectador e modelo se confundem é vazio; não há representação de sua figura neste quadro porque a tela que está sendo pintada não é visível estando virada de costas para nós. No momento em que colocam o espectador no campo de seu olhar, os olhos do pintor captam-no, constrangem-no a entrar no quadro, designam-lhe um lugar ao mesmo tempo privilegiado e obrigatório, apropriam-se de sua luminosa e visível espécie e a projetam sobre a superfície inacessível da tela virada. Ele vê sua invisibilidade tornada visível ao pintor e transposta em uma imagem definitivamente invisível a ele próprio.”12
O espectador está ausente, mas sua ausência não é absoluta e sim indicada pela própria pintura. “… o verso da tela representada reconstituiu … a invisibilidade em profundidade daquilo que o artista contempla: este espaço em que nós estamos, que nós somos.”13 O espectador passa então, sob o convite do olhar soberano do pintor, de mero observador da pintura para se transformar em invisível objeto representado. A pintura de Velázquez representa o espaço da representação como princípio organizador da época clássica ao mesmo tempo em que apresenta o sujeito como ausente ou invisível; o ponto cego da pintura. O modelo, o sujeito que está sendo representado, situa-se fora da cena. Não fosse pelo acaso da presença violadora, entre uma série de quadros representados, de um espelho localizado sobre a parede que constitui o fundo da sala, jamais teríamos acesso a essa invisibilidade que reside fora de todo olhar, de toda representação. “Olhamo-nos olhados pelo pintor e tornados visíveis aos seus olhos pela mesma luz que no-lo faz ver. E, no momento em que vamos nos apreender transcritos por sua mão como num espelho, deste não podemos surpreender mais que o insípido reverso. O outro lado de um reflexo.”14 A diferença entre o espelho e as demais pinturas representadas no quadro reside no fato de que somente ele torna visível aquilo que representa, “esse é o único que funciona com toda a honestidade e que dá a ver o que deve mostrar.”15 É isso o que Foucault quer dizer quando afirma que o “espelho assegura uma metátese da visibilidade” transpondo de dentro da moldura uma imagem até então invisível que “incide sobre o espaço representado do quadro e sua natureza de representação.” O espelho, então, funcionaria como a expressão mais exata da representação clássica, como uma “perfeita” representação do sujeito espectador do quadro ao nos fazer ver o exterior invisível que o próprio quadro representa, ainda que esta honesta visibilidade permaneça invisível ao ser ignorada por todas as demais figuras da pintura. Pois apenas aqui o processo de reduplicação da representação representada aparece. “De todas as representações que o quadro representa, ela é a única visível; mas ninguém o olha. Em pé ao lado de sua tela, a atenção toda absorvida pelo seu modelo, o pintor não pode ver esse espelho que brilha suavemente atrás dele.”16 Com efeito, o espelho não reflete senão o que de real se encontra em um espaço exterior ao dele. Mas sua visibilidade continua 12 13 14 15 16
76
Foucault; Ibidem p.21 [21]. Foucault; Ibidem p.20 [20]. Foucault, Ibidem; p.22 [22]. Foucault, Ibidem; p.23 [22]. Foucault, Ibidem; p.23 [23].
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
invisível e ignorada dentro do contexto clássico-representativo. “O que nele se reflete é o que todas as personagens da tela estão fixando, o olhar reto diante delas.” Todos os personagens representados olham apenas aquilo que não aparece na representação deixando o espelho paradoxalmente abandonado à sua solidão. Este, ao seu turno, ignora os demais personagens e torna visível somente aquilo que não é visto no espaço da representação. Contudo, existem ao menos ainda duas figuras cujos nomes complementam sua função na pintura. Elas estão ausentes neste quadro e apenas palidamente refletidas no espelho. Na análise de Foucault, todas as linhas convergem para este ponto fora da cena, a este “olhar de carne ao qual se reporta todo o espaço da representação”. São os soberanos que se localizam neste espaço vazio e tornam possível toda a cena representada. Tudo gira em torno deles. Reconhecemo-los, no fundo do quadro, nas duas pequenas silhuetas que o espelho reflete. Em meio a todos esses rostos atentos, a todos esses corpos ornamentados, eles são a mais pálida, a mais irreal, a mais comprometida de todas as imagens; um movimento, um pouco de luz bastariam para fazê-los desvanecer-se. De todas as personagens representadas, elas são também as mais desprezadas, pois ninguém presta atenção a este reflexo que se esgueira por trás de todo o mundo e se introduz silenciosamente por um espaço insuspeitado; na medida em que são visíveis, são a forma mais frágil e mais distante de toda a realidade. Inversamente, na medida em que, residindo no exterior do quadro, se retiram para uma invisibilidade essencial, ordenam em torno delas toda a representação; é diante delas que as coisas estão, é para elas que se voltam …17
Essas figuras soberanas ocupam o centro da composição e ordenação da cena representada escapando à própria representação. Elas são o centro ausente ao redor do qual as representações estabelecem a sua lógica dominante. Esse centro é simbolicamente soberano na sua particularidade histórica, já que é ocupado pelo rei Filipe IV e sua esposa. Mas, sobretudo, ele o é pela tríplice função que ocupa em relação ao quadro. Nele vêm superpor-se exatamente o olhar do modelo no momento em que é pintado, o do espectador que contempla a cena e o do pintor no momento em que compõe seu quadro (não o que é representado, mas o que está diante de nós e do qual falamos). Essas três funções ‘olhantes’ confundem-se em um ponto exterior ao quadro.18
Este ponto exterior ao quadro está ao mesmo tempo dentro e fora dele, é simbólico e real, visível e invisível. Ele não aparece, mas garante a possibilidade da cena representada ordenando seu aparecimento. Como centro ausente, ele governa o complexo sistema da representação. Ele tem, em outras palavras, todas as características de uma transcendência que cumpre o papel de origem e de ideal sem o qual toda a configuração clássica não poderia funcionar. Foucault refere-se assim à ausência constitutiva de um ponto transcendental de ancoragem e de unificação das atividades da representação que não pode 17 Foucault, Ibidem; p.29-30 [29]. 18 Foucault, Ibidem; p.30 [30].
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
77
ser, por sua vez, representado. A representação, por bastar-se a si mesma em seu jogo, não necessita levar em conta a existência real do que se representa; ela é antes uma demonstração altamente artificial daquilo que esta sendo descrito pois nada de exterior foge ao seu escopo. É por isso que Foucault pode ainda permanecer dizendo que o homem está fundamentalmente ausente neste complexo sistema representativo que exige a ausência do sujeito antes que sua presença possa ser representada. Ao alegorizar o espaço clássico, a pintura contém não somente a essência da representação, mas também uma completa enumeração de seu ciclo representativo, seu nascimento e sua morte. Embora o quadro se constitua como a pura representação dessa ausência essencial, ele acena também para uma futura e ainda interrompida relação que a representação estabelecerá com o modelo, soberano ou autor do quadro. “ … nessa dispersão que ela reúne e exibe em conjunto, por todas as partes um vazio essencial é imperiosamente indicado: o desaparecimento necessário daquilo que a funda. […] Esse sujeito mesmo – que é o mesmo – foi elidido. E livre, enfim, dessa relação que a acorrentava, a representação pode se dar como pura representação.”19
Foucault escreve estas linhas de seu comentário sobre Las Meninas com o intuito implícito de retomá-las posteriormente para tematizar a oposição que assinala a descontinuidade entre as epistemaï clássica e moderna. Pois essa ausência só é um esquecimento ou uma lacuna para o pensamento clássico que necessita elidi-la a fim de salvaguardar sua constituição. Ademais, essa ausência não é uma lacuna, salvo para o discurso que laboriosamente decompõe o quadro, pois ela não cessa jamais de ser habitada e de o ser realmente, como provam a atenção do pintor representado, o respeito dos personagens que o quadro figura, a presença da grande tela virada ao revés e nosso próprio olhar para quem esse quadro existe e para quem, do fundo do tempo, ele foi disposto.20
Vemos, a partir destas palavras, que aquele para quem as representações existem – o homem, ou nossa posição de espectador assumida dentro do quadro e nosso olhar para quem ele foi disposto da profundidade do tempo – jamais deixou de se encontrar lá presente. Nossa ausência neste quadro está longe, pois, de ser assim tão fundamental ao ocupar uma posição limítrofe de borda exterior; dentro e fora ao mesmo tempo da pintura. É preciso partir desta constatação se quisermos entender o que Foucault quer dizer ao diagnosticar arqueologicamente a ausência do homem no pensamento representativo. Dizer que “antes do século XVIII o homem não existia” não exclui necessariamente sua presença real na episteme clássica, pois afinal essa ausência jamais deixou de ser habitada. A inexistência do homem, a que Foucault se reporta, refere-se a uma ausência simbólica, e não real. Uma ausência concebida do ponto de vista epistemológico e referida a um olhar retrospectivo: o nosso. Uma inexistência que diz respeito aos saberes alojados no contexto clássico 19 Foucault, Ibidem; p.31 [31]. 20 Foucault, Ibidem; p.324 [319].
78
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
e que ignoravam a presença real do homem fazendo com que ele simplesmente existisse de modo até então impensado. Como dirá Foucault acerca disso, ainda que de modo sintético, retomando no capítulo IX de As Palavras e as Coisas o comentário de Las Meninas, ao explicar o que entende pelo surgimento do homem na cena epistemológica moderna: Antes do século XVIII, o homem não existia. Não mais que a potência da vida, a fecundidade do trabalho ou a espessura histórica da linguagem. É uma criatura recente que a demiurgia do saber fabricou com suas mãos há menos de 200 anos […] Certamente poder-se-ia dizer que a gramática geral, a história natural, a análise das riquezas eram, num certo sentido, maneiras de reconhecer o homem, mas é preciso discernir. Sem dúvida, as ciências naturais trataram do homem como de uma espécie ou de gênero. […] A gramática e a economia, por outro lado, utilizavam noções como as de necessidade, de desejo, ou de memória e de imaginação. Mas não havia consciência epistemológica do homem como tal. A episteme clássica se articula segundo linhas que de modo algum isolam um domínio próprio e específico do homem.21
Surpreendentemente, constata-se que Foucault recorre ao conceito de consciência epistemológica para descrever a descontinuidade que separa as duas epistemaï. Justamente Foucault, aquele que tanto nos advertiu e suspeitou de todas as teorias da consciência. Quase ousaríamos dizer que ocorre como que um “progresso epistemológico”, do ponto de vista do arqueólogo, ao passarmos da idade clássica à moderna. Mas será que não deveríamos compreender a expressão consciência, no sentido que lhe é fornecida, como a consciência de uma coletividade soberana, conceito tão utilizado pela historiografia tradicional e continuista a que se opõe o espírito do projeto arqueológico? Injúria suprema seria respondermos afirmativamente a esta questão. Não obstante, essa mesma expressão, ainda assim, está sendo utilizada para se constatar, em um nível mais profundo e inconsciente a todos os sujeitos, a unidade geral da episteme servidora de solo originário para os demais saberes e que no entanto somente o arqueólogo fora capaz de perceber. Eis aí sua grande sapiência diante dos discursos formulados por nossa modernidade. Seu intuito é pois o de trazer à luz o motivo desta presença nova a que obedecem a superficial e aparente imobilidade dos saberes. Com efeito, deve-se a razão desta atitude ao próprio estatuto do acontecimento histórico que não pode ser conhecido por aqueles que trabalham sob sua dinastia: a “cega proximidade que esse acontecimento conserva sempre para nossos olhos mal desprendidos de suas luzes costumeiras” impossibilita “a uma cultura tomar consciência, de modo temático e positivo, de que sua linguagem cessa de ser transparente às suas representações para espessar-se e receber um peso próprio.”22 O arqueólogo, procedendo desta maneira, é o único a ter acesso privilegiado, positivo e consciente a um solo comum que rege a distribuição dos saberes contemporâneos entre si em um mesmo espaço fechado. Em um nível mais profundo, portanto, a expressão deve ser entendida como a tomada de consciência – do arqueólogo – de um conjunto de elementos impensados, de sua configuração latente ou oculta, que uma dada episteme ignorava e que subitamente podem ser trazidos à luz. Circunstancialmente, será exatamente com 21 Foucault, Ibidem; p.325 [319-320]. 22 Foucault, Ibidem, p.297 [294].
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
79
estes elementos que esperam então “como que na sombra”, do lado do erro e do negativo, que a configuração de saber moderna tematizadamente irá lidar; muito embora diferentemente do modo como o arqueólogo lidou com elas. A episteme do século XIX, ao fazer da História Natural uma biologia, da Análise das Riquezas uma economia política e da Gramática Geral uma filologia, transformou o que até então era relegado a uma posição de inferioridade perante o “infinito positivo” da época clássica numa alteridade que será preciso transgredir pelo exercício da consciência subjetiva. E a respeito desta mesma profundidade, os trabalhos empreendidos por Cuvier, Ricardo e Bopp terminam por ser mais didáticos para a arqueologia ao serem capazes de nos colocar perante a alteridade que habita no âmago de nós mesmos – este nosso Outro Absoluto – de um modo mais instrutivo, mais irredutível e menos dominável; enquanto o discurso filosófico de Kant a Hegel, por sua vez, acabou por nos inserir em um novo sono, não mais dogmático, como diria o próprio Kant, mas agora antropológico, do qual será preciso despertar. Muito embora o procedimento de Foucault neste momento esteja longe de se comportar tal qual o martelo de Nietzsche e se aproxime dos pressupostos exegéticos que tanto horror causarão ao genealogista, faz-se necessário recordar, conforme o espírito da arqueologia, que Foucault não encara esta intensificação da consciência epistemológica do homem como um avanço no aprendizado, como um progressivo movimento da história do pensamento em direção a uma verdade oculta e contida na anterior concepção dos saberes; mas apenas como um resultado limitado que o esforço do empreendimento arqueológico foi capaz de nos fornecer. Ela é antes uma conseqüência e um ganho advindos da prática de seu próprio método depois de percorrer os saberes consoante sua disposição manifesta. Admissível postura, ainda que hesitante, se lembrarmos que ela já fora adotada anteriormente quando se tratava imperativamente de responder às questões formuladas sobre o estatuto da linguagem na modernidade em oposição às formas antropológicas do saber. Pretendendo reconstituir a unidade perdida da linguagem, estar-se-ia indo até o fim de um pensamento que é o do século XIX, ou não se estaria indo em direção a formas que já são incompatíveis com ele? A dispersão da linguagem está ligada, com efeito, de um modo fundamental, a esse acontecimento arqueológico que se pode designar pelo desaparecimento do Discurso. Reencontrar num espaço único o grande jogo da linguagem tanto poderia ser dar um salto decisivo para uma forma inteiramente nova de pensamento quanto fechar sobre si mesmo um modo de saber constituído no século precedente. É verdade que a essas questões eu não sei responder, nem, entre essas alternativas, qual termo conviria escolher. Sequer adivinho se poderia jamais responder a elas ou se um dia me virão razões para me determinar. Todavia, sei agora por que é que, como todo mundo, eu as posso formular a mim próprio – e que não as posso deixar de formular. Somente aqueles que não sabem ler se espantarão de que eu o tenha aprendido mais claramente em Cuvier, em Bopp, em Ricardo, do que em Kant ou Hegel.23
Na impossibilidade de realizar um corte que separasse definitivamente a episteme moderna do advento promovido pela literatura de unificação da linguagem, como cen23 Foucault, Ibidem; p.323 [318].
80
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
tro de uma nova configuração de saber, resta a Foucault o não desimportante consolo de uma douta ignorância: pois ele é o único a estar positiva e integralmente ciente dos abalos promovidos em nossa cultura. Embora o estatuto desta segunda mutação já nos pareça bem menos radical, o aparecimento da consciência subjetiva e o caráter histórico do homem deverá ser diagnosticado como o fundamento de uma nova episteme, como a expressão portanto de uma “descontinuidade” mais profunda ocorrida em nosso solo cultural e alegorizada antecipadamente pela pintura de Velázquez. Surgindo paradoxalmente neste “vão disposto” pelas ciências empíricas, a figura humana está respondendo a uma solicitação imperativa e soberana da episteme moderna que o requer e o designa de um modo diverso aos demais abalos de nosso solo epistemológico. Pois o que importa sobretudo notar aqui é o caráter secundário e transitório do aparecimento do homem correspondente a este evento arqueológico. A analítica do homem não retoma, tal como fora constituído alhures e como a tradição lha negou, a análise do discurso. A presença ou a ausência de uma teoria da representação, mais exatamente, o caráter primeiro ou a posição derivada dessa teoria modifica inteiramente o equilíbrio do sistema. […] A análise clássica do discurso, a partir do momento em que não estava mais em continuidade com uma teoria da representação, achou-se como que fendida em duas: por um lado, ela investiu-se num conhecimento empírico das formas gramaticais; e, por outro, tornou-se uma analítica da finitude; mas nenhuma dessas duas translações pôde operar-se sem uma inversão total do funcionamento. Pode-se compreender agora, e até o fundo, a incompatibilidade que reina entre a existência do discurso clássico (apoiada na evidência não-questionada da representação) e a existência do homem, tal como é dada ao pensamento moderno (e com a reflexão antropológica que ela autoriza): alguma coisa como uma analítica do modo de ser do homem só se tornou possível uma vez dissociada, transferida e invertida a análise do discurso representativo. Com isso adivinha-se também que ameaça faz pesar sobre o ser do homem, assim definido e colocado, o reaparecimento da linguagem no enigma de sua unidade e de seu ser. […] Mas pode ser também que esteja para sempre excluído o direito de pensar ao mesmo tempo o ser da linguagem e o ser do homem; pode ser que haja aí uma indelével abertura (aquela em que justamente existimos e falamos) […] É talvez aí que se enraíza a mais importante opção filosófica de nossa época. Opção que só se pode fazer na experiência mesma de uma reflexão futura. Pois nada pode dizer, de antemão, de que lado a via está aberta.24
Em outras palavras: se a oposição fundamental entre linguagem e discurso que regera os primeiros abalos epistêmicos de nossa cultura está sendo substituída pela incompatibilidade segunda entre o homem e a literatura moderna, podemos notar a precariedade de que padece esta exigência do aparecimento do homem perante o retorno do ser bruto da linguagem que opera o seu desvanecimento. A questão do ser da linguagem está intimamente associada à força selvagem que abruptamente anima os abalos sísmicos de nossa 24 Foucault, Ibidem; p. 353-354 [348-350].
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
81
cultura desde seu exterior. E é desde este exterior bruto e intempestivo que a “ordem das coisas” é modificada ao longo dos séculos articulando diferentes epistemaï umas às outras. A unicidade do espaço contínuo da “experiência nua da ordem” de nosso pensamento é inseparável do percurso descontínuo por que passam as diferentes figuras históricas do saber. Já em A História da Loucura, valendo-nos de uma analogia cuja evidência se impõe por si mesma, a caracterização da loucura, percebida como uma força selvagem, atuava nas rupturas que rompiam o fio contínuo de uma história da razão que se revelava ilusória. Agora em As Palavras e as Coisas, parece ser a literatura ilustrando a forma de transgressão do discurso clássico que anuncia a mudança no status quo epistemológico. As afirmações de Foucault, tais como “que a literatura em nossos dias seja fascinada pelo ser da linguagem – isso não é nem o sinal de um fim nem a prova de uma radicalização: é um fenômeno que enraíza sua necessidade numa bem vasta configuração onde se desenha toda a nervura de nosso pensamento e de nosso saber”25, indicam não somente que a literatura se encontra inserida dentro dessa configuração como também articula seus limites e, nesse sentido, versa alegoricamente sobre ela como um todo. A literatura que se dirige para esse vazio, região muda e informe onde a linguagem pode se desenvolver “num silêncio que não é a intimidade de nenhum segredo senão o puro exterior”,26 assinala não apenas o “desaparecimento do Discurso” mas também, com isso, o desaparecimento do homem. Pois o “homem fora uma figura entre dois modos de ser da linguagem; ou antes, ele não se constituiu senão no tempo em que a linguagem, após ter sido alojada no interior da representação e como que dissolvida nela, dela só se libertou despedaçando-se: o homem compôs sua figura nos interstícios de uma linguagem em fragmentos.”27 Vê-se mais uma vez que a história arqueológica de Foucault não é capaz de nos dizer diretamente o que somos ou o que seremos, mas apenas de um modo hesitante e “quase negativo” aquilo de que estamos em vias de nos diferenciar - a idade do homem - opondo “a todas essas formas de reflexão canhestras e distorcidas”, mediante as fronteiras de um riso filosófico e silencioso, o anúncio de uma nova era. Pois se uma episteme não pode ser conhecida por aqueles que operam “ignaramente” sob sua égide, o próprio resultado das pesquisas de Foucault parece testemunhar o anúncio de um novo regime de saberes ao denunciar o esquecimento antropológico da abertura que o tornou possível. “A todas essas formas de reflexão canhestras e distorcidas, só se pode opor um riso filosófico – isto é, de certo modo, silencioso.”28 Como mais tarde confessaria poeticamente o filósofo e amigo Deleuze: Há algo essencial de um extremo a outro da obra de Foucault: ele sempre tratou de formações históricas (de curta duração, ou, no final, de longa duração), mas sempre em relação a nós, hoje. […] As formações históricas só o interessam porque assinalam de onde nós saímos, o que nos cerca, aquilo com o que estamos em vias de romper para encontrar novas relações que nos expressem. […] Pensar é sempre experimentar, não interpretar, mas experimentar, e a experimentação é sempre o atual, o nascente, o novo, o que está 25 26 27 28
82
Foucault, Ibidem; p.400 [394]. Foucault; O Pensamento do Exterior, p.28. Foucault, As Palavras e as Coisas; p.403 [397]. Foucault, Ibidem; p.359 [354].
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
em vias de se fazer. A história não é experimentação; é apenas o conjunto das condições quase negativas que possibilitam a experimentação de algo que escapa à história. Sem a história, a experimentação permaneceria indeterminada, incondicionada, mas a experimentação não é histórica, é filosófica.29
Todas essas marcas do que está ainda em vias de se fazer, de novas relações que escapam residualmente às determinações históricas, são para Foucault citações filosóficas de um impensado. Algo que excede o pensável historicamente, e nos abre a possibilidade de pensar de outra maneira, mediante o cômico, incongruente e paradoxal abertura do discurso histórico. Foucault, filosoficamente tomado pelo riso, é menos o autor do que a testemunha destes rompantes que atravessam e transgridem as ordens de saber estabelecidas. Afinal ele sequer preparou astuciosamente um lugar para fazer de seus achados um porto seguro para os demais saberes. Eles são antes acontecimentos de um pensamento ainda em porvir. Esta ativa experiência intelectual de desapropriação dos saberes históricos é o que ele marca com seu riso, assinatura filosófica de uma ironia da história.
3. Conclusão Pois bem, por mais afastado que esteja da postura de um “filósofo dos cortes e rupturas” mediante a costura operada por meio de obras literárias, foi precisamente por estar inserido na episteme moderna e “preso nesta indelével abertura” que o arqueólogo não pôde ser capaz de estimar em sua totalidade a amplitude deste segundo acontecimento e realizar a “mais importante opção filosófica de nossa época”. Valendo-nos de metáforas emprestadas da história da filosofia, pode-se resumir sua posição, no que tange a esta ruptura, da seguinte maneira: sabendo-se atado ao “dorso de um tigre”30 e sem poder recorrer ao respaldo dialético da Coruja de Minerva hegeliana, antecipando assim astuciosamente o futuro “pulo do gato” de nossa história, Foucault, com essa atitude, terminou por atribuir ao seu livro um caráter aporético. Daí o fenômeno de congestionamento no trânsito da passagem para a episteme moderna. Em outras palavras, ele se limita a seguir apontando os sinais manifestos de sua irrupção, a saber, a constituição das ciências positivas, o surgimento da literatura, a emergência da história como modo de ser das novas empiricidades; enfim, a idade do homem e a segunda etapa deste acontecimento de que tratamos neste capítulo. Escrevendo a partir da mesma diferença constitutiva que assinala a episteme moderna em relação ao discurso clássico, Foucault é inevitavelmente refém de suas mesmas aporias. Pois se a arqueologia está emaranhada nos impasses que ela nos ensinou como inerentes à finitude moderna, é lícito nos perguntarmos em que medida o discurso de Foucault não se baseou também em uma aceitação, por mais que indesejada, inevitável dos pressupostos que governam a episteme moderna. Alguns anos mais tarde, antecipando as posições que francamente iria assumir em A Arqueologia do Saber, Foucault testemunhará uma mudança de posição perante os saberes da modernidade que descreveu, 29 Deleuze, Gilles; Um Retrato de Foucault in Conversações; p. 131-132. 30 “A nós, que nos acreditamos ligados a uma finitude que só a nós pertence e que nos abre, pelo conhecer, a verdade do mundo, não deveria ser lembrado que estamos presos ao dorso de um tigre?” (Foucault, Ibidem; p.338 [333])
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
83
um deslocamento de seu discurso arqueológico devido a uma nova descontinuidade, uma outra diferença que o seu próprio discurso “já deixou atrás de si”. Ora, devo reconhecer que esse projeto de descrição, tal como tento agora delimitar, encontra-se ele próprio situado na região que tento, em primeira abordagem, analisar. E que corre o risco de se dissociar sob o efeito de análise. Interrogo essa estranha e tão problemática configuração das ciências humanas à qual meu discurso se encontra ligado. Analiso o espaço em que falo. Exponho-me a desfazer e a recompor este lugar que me indica os marcos primeiros de meu discurso; busco dissociar suas coordenadas visíveis e sacudir a cada instante, sob cada um de meus propósitos, a questão de saber de onde pode nascer: pois tudo o que digo bem poderia ter por efeito de deslocar o lugar de onde eu o digo. Se bem que à pergunta: de onde pretende então falar, você que quer descrever - de tão alto e de tão longe - o discurso dos outros?, eu responderia apenas: acreditei que falava do mesmo lugar que esses discursos e que, definindo-lhes o espaço, situaria meu propósito. Mas, devo, agora, reconhecê-lo: de onde mostrei que eles falavam sem dizê-lo, nem eu mesmo posso mais falar, mas a partir somente dessa diferença, desta ínfima descontinuidade que meu discurso já deixou atrás de si.31
Bibliografia Deleuze, Conversações – São Paulo: Edições 70, 2002. Dreyfus y Rabinow, Michel Foucault – um percurso filosófico (para além do estruturalismo e da hermenêutica) – São Paulo: Forense Universitária, 1998. Foucault, As Palavras e as Coisas – São Paulo: Martins Fontes, 1994. ______, O Pensamento do Exterior (Ditos e Escritos 2). São Paulo: Forense Universitária, 2002. ______, Respostas ao Círculo de Epistemologia (Ditos e Escritos 2). São Paulo: Forense Universitária, 2002.
31 Foucault, Respostas ao Círculo de Epistemologia p. 27. * Augusto Bach é Bacharel e Mestre em Filosofia pela Universidade Federal do Paraná, Doutor em Filosofia pela Universidade Federal de São Carlos, pós-doutorando em Filosofia pela Universidade Estadual de Campinas e pesquisador associado ao Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência da Unicamp.
84
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
POR UMA FENOMENOLOGIA SOCIAL DO CAMPO ARTÍSTICO habitus silencioso e apropriação-criação de pinturas KADMA MARQUES RODRIGUES*
O público virtual dos museus não tem limites precisos, nem espaciais, nem temporais; aliás, teoricamente, um museu pode recrutar seus visitantes na escala do universo. (Bourdieu, 2003: 30)
Introdução A Sociologia não tem destacado suficientemente a dimensão sócio-cultural da percepção visual, embora esta tenha sofrido uma inegável modificação ao longo dos séculos. Um dos elementos constitutivos desse processo global de transformação do olhar pode ser encontrado no testemunho histórico oferecido por incontáveis revoluções materializadas nas formas artísticas. Ora, longe de ser um fenômeno de desenvolvimento linear, a constituição de categorias de apreciação estética que têm orientado historicamente seja a experiência de criação artística seja a de apropriação de imagens pelo público de pintura, constitui um fenômeno complexo o qual supõe um trabalho de elaboração coletiva, extensivo a várias gerações. É preciso então que o sociólogo busque a lógica profunda que constitui esse processo mediante a criação de uma rede de elementos de ordem teórico-metodológica, os quais tornem inteligível a gênese social de tal fenômeno. Porém, segundo Sauvageot (1994), não é fácil adotar o distanciamento necessário à elaboração de uma abordagem sócio-histórica das imagens (mesmo daquelas circunscritas ao universo artístico), tanto elas nos cercam, nos habitam e nos são familiares. Todas
essas formas constituem nossa “paisagem” cotidiana, paisagem que modela nosso olhar, bem como nossa percepção do mundo. Frente a tais dificuldades o que podemos fazer é procurar assinalar o aparecimento de novas formas, aquelas por exemplo ligadas a novos saberes e novas racionalidades. Nesse sentido, a inauguração da Modernidade fez emergir não apenas uma nova visualidade manifesta pela produção artística da época, com a introdução da perspectiva na pintura, mas também uma nova forma de conceber o mundo. Cauquelin (2004) afirma que é preciso colocar a questão em termos de novas estruturas de percepção que a perspectiva artificialis introduz, vinculando-as a um determinado momento de desenvolvimento da cultura que condiciona o ‘olho ocidental’. De fato, mais que uma simples técnica, a perspectiva em pintura instaura “uma outra ordem … aquela da equivalência entre um artifício e a natureza”. Para os ocidentais que somos nós … a imagem, construída sob a ilusão da perspectiva, se confunde com aquilo que ela apresenta. Imagem dita ‘legítima’, a perspectiva é também ‘artificial’. O que é legitimado, é o transporte da imagem sobre o original, uma valendo pela outra. Melhor, ela seria a única imagem-realidade possível. (Cauquelin, 2004: 30)
Talvez porque o olhar pareça equivaler ao que existe ‘realmente’, apesar de contar com um domínio material tão limitado – tela, madeira, paredes, cores – a experiência estética proporcionada pelos pintores da Renascença tornou-se a escritura mesmo de nossa percepção visual. A pintura, ao nos oferecer este olhar sobre as coisas ditas reais, mesmo que ela não seja outra coisa que uma representação, toca uma verdade que parece ultrapassar toda relação de conformidade social. A questão da pintura se impõe: ela projeta diante de nós um ‘plano’, uma forma onde se dá a percepção, nós vemos em perspectiva, nós vemos quadros, nós não vemos nem podemos ver de outra maneira que segundo as regras artificiais alocadas nesse momento preciso em que, com a perspectiva, nasce a questão da pintura … como intermediário de uma visão que se abre sobre a natureza. (Cauquelin, 2004: 68)
Em relação a manifestações artísticas anteriores, era o bom senso da coerência textual, e não um critério propriamente pictórico, que guiava a mão do pintor. Naquele contexto, a pintura submetia-se ao julgamento da razão. Essa forma de pensamento não privilegiava ver a pintura, nem mostrar algo, ou mesmo fazer ver, mas ilustrava uma narração sólida, coerente, da maneira o mais convincente possível. Em suma, era a razão que via e não o olho. (Cauquelin, 2004) Em relação à pintura, o que a Renascença provoca é sem dúvida uma inversão dessas prioridades. Mostrar o que se vê toma o lugar da representação de uma idéia do mundo … (e é isto o que converte a) técnica pictórica em pedagogo de uma ordem. Há uma ordem da visão, parece, que se distingue das construções mentais pelas quais até aqui nós nos asseguramos da realidade. (Cauquelin, 2004: 70)
86
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
Nesse contexto, acentua-se um processo de depuração da forma artística que paulatinamente passa a ser feita “para ser olhada em si mesma e por si mesma, enquanto pintura, enquanto jogo de formas, de valores e de cores, isto é, independentemente de qualquer referência a significações transcendentes …” (Bourdieu, 1996: 334) Se é possível inferir que a Modernidade descortinou o cenário em que essa pintura pura passou a exigir como seu correlato a invenção de um olhar puro, é preciso tirar dessa afirmação tudo o que nela se acha implícito, bem como suas conseqüências. Por um lado, a expressão olhar puro, recorrente na produção bibliográfica de Pierre Bourdieu sobre arte, tem como pressupostos não problematizados: a supremacia da experiência visual em relação a de outros sentidos, no âmbito das sociedades ocidentais modernas; a instituição do corpo moderno do público cultivado, caracterizado como corpo do indivíduo “civilizado”, marcado por gestos contidos, pelo olhar concentrado e disposição silenciosa do público diante de obras cada vez mais densas semanticamente. Por outro lado, aquilo que está claramente colocado como conseqüência do emprego da expressão olhar puro, é seu vínculo com o processo de autonomização do campo artístico. “Com efeito, …a afirmação da autonomia dos princípios de produção e de avaliação da obra de arte é inseparável da afirmação da autonomia do produtor, ou seja, do campo de produção.” (p. 333) Portanto, para Bourdieu, esse processo de autonomização passa necessariamente pela elaboração de uma lógica circular que se caracteriza pela produção de obras que se afirmam cada vez mais como formas, mediante um “diálogo” autoreferenciado com a própria história de produção do campo. Desse modo, uma anamnese histórica dos instrumentos de percepção da obra é, segundo Bourdieu (2003), o complemento indispensável de uma história dos instrumentos de produção da obra, na medida em que toda obra é, de alguma forma, elaborada duas vezes: pelo criador e pelo apreciador, ou melhor, pela sociedade a qual este último pertence. Como propriedade geral dos campos sociais, a tendência a autonomização atravessa as mais diversas esferas de ação e, no domínio artístico, ela se dá por um duplo efeito de singularização: da arte e dos artistas, a partir do reconhecimento social de cada pintor (como percurso profissional/estilístico único) e, do público, por meio do surgimento da disposição silenciosa, a qual abre espaço à valorização da experiência interior, como modo de singularização da experiência estética de cada indivíduo. Cabe neste artigo explicitar certas vias pelas quais se manifestam tais efeitos de singularização implicados em uma estética pura moderna. Para tanto, recorro a uma fenomenologia social do campo artístico com ênfase nas obras. Estas testemunham a presença do olhar puro tanto junto ao público cultivado (mediante a invenção do habitus silencioso), quanto junto aos artistas (por meio de um tipo de apropriação muito particular, realizada apenas entre artistas, a apropriação de pinturas por pintores ou apropriação-criação). Dividido em duas partes, este artigo tem por objetivo principal demonstrar como a autonomização do campo artístico pode ser apreendida nas transformações formais que caracterizaram a densificação semântica da pintura moderna e como elas influenciaram a formação de categorias de apropriação estéticas, por meio da manifestação no corpo mesmo do apreciador de um habitus silencioso. Desse modo, na primeira parte, discuto a abordagem configurada pela fenomenologia social do campo e o conceito de habitus, como instrumentos de análise que explicitam o processo de autonomização do campo artístico. Este afirma-se por meio da manifestação do habitus silencioso, associada à valorização do corpo
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
87
e à emergência do indivíduo moderno no mundo ocidental. Na segunda parte, assumo outro ponto de apoio mediante o qual manifesta-se tal processo de autonomização: a prática de produção autoreferenciada dos pintores modernos. É por meio de um movimento reflexivo de volta sobre o próprio conjunto de formas acumuladas historicamente no âmbito do campo artístico que os pintores modernos desenvolvem práticas inter-icônicas (tais como a cópia didática, a “peinture de cabinet” e a apropriação-criação), que alimentam uma depuração contínua da experiência estética proporcionada pela pintura.
1. Habitus silencioso: corpo moderno e valorização da experiência sensível Apesar de ser bom que uma certa agitação venha bater à porta do museu, o visitante, mal a transpõe, deve encontrar o elemento sem o qual não poderá ocorrer o encontro profundo com a obra plástica: o silêncio. (Bourdieu, 2003a: 18, citando o texto do Ante-projeto do Programa para o Museu do Século XX)
A investigação das condições sociais que propiciaram o surgimento seja do “competente” olhar do público cultivado, seja do artista como criador incriado, segundo Bourdieu (2003b), encontra em uma fenomenologia social das obras uma abordagem científica capaz de explicitar, a partir de uma perspectiva sociológica, os princípios que estruturam a criação/apropriação artística moderna. O esforço para devolver a vida aos autores e ao seu meio poderia ser o de um sociólogo, e não faltam análises da arte e da literatura que se atribuem como fim reconstruir uma ‘realidade’ social suscetível de ser apreendida no visível, no sensível e no concreto da existência cotidiana. Mas … o sociólogo … opõe-se ao … escritor: a ‘realidade’ que ele busca não se deixa reduzir aos dados imediatos da experiência sensível nos quais ela se entrega; ele não visa dar a ver, ou a sentir, mas construir sistemas de relações inteligíveis capazes de explicar os dados sensíveis. (Bourdieu, 1996: 14)
Assim, a perspectiva estrutural bourdiesiana funde-se à fenomenológica mediante a unidade campo/habitus, a qual “trata o corpo socializado não como um objeto mas como elemento portador de uma capacidade geradora e criativa, como o suporte ativo de uma forma de ‘saber cinético’ dotado de um poder estruturante”. O que nós encontramos então é uma relação de dupla possessão entre o agente social e o mundo, entre um habitus, como princípio socialmente constituído de percepção (e de apreciação estética, neste caso), e o mundo que o condiciona. (Bourdieu, 1992: 27) Para Bourdieu (1996), falar em habitus é assumir que o individual, e mesmo a dimensão pessoal, subjetiva, é igualmente social, coletiva. Desse modo, o objeto próprio das Ciências Sociais não se restringe nem aos indivíduos, nem aos grupos, mas abrange
88
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
… a dupla relação obscura entre os habitus (sistemas duráveis e cambiáveis de esquemas de percepção, de apreciação e de ação que resultam da instituição do social nos corpos, ou nos indivíduos biológicos), e os campos (sistemas de relações objetivas que são o produto da instituição do social nas coisas ou nos mecanismos que têm quase a materialidade de objetos físicos); e evidentemente, tudo o que surge dessa relação, isto é, as práticas e as representações sociais ou os campos quando estes se apresentam sob a forma de realidades percebidas e apreciadas. (Bourdieu, 1992: 102)
Nessa mesma obra, Bourdieu enfatiza a seguir que o senso estético é uma das modalidades assumidas pelo senso prático e que, nesse contexto, o habitus corresponde a esquemas de percepção duráveis, mas não imutáveis. Por essa razão, este se diferencia de “hábito”, entendido simplesmente como a reprodução de uma disposição incorporada. A complexidade do habitus, segundo Bourdieu, faz dele um elemento conceitual de mão dupla: como disposição durável ou campo social incorporado, o habitus assume uma tendência à reprodução e permanência; como matriz geradora, ele aponta a possibilidade de subversão e/ou criação de novos comportamentos e valores. O habitus silencioso do público de pintura ilustra de modo exemplar a simultaneidade dessas duas dimensões. Ele representa, no momento de encontro com obras plásticas, essa dupla possibilidade: ele é a um só tempo, imposição social de uma atitude e prática não totalmente controlada pela experiência estética cultivada (jamais podemos dizer tudo o que comporta o silêncio de um sujeito frente a uma obra exposta). É preciso ainda lembrar que o habitus silencioso do público de pintura acha-se relacionado a uma competência artística familiar apenas ao público cultivado, pois o silêncio aparece como o elemento de mediação mais recorrente na experiência estética deste face à imagem pictórica. Modernamente, entende-se por competência artística o modo de perceber a obra de arte de maneira propriamente estética, ou seja, … “desligada de tudo, do ponto de vista emocional ou intelectual, salvo dela mesma”, em suma, abandonar-se à obra apreendida em sua singularidade irredutível, identificando seus traços estilísticos distintivos e colocando-a em relação exclusiva com o conjunto das obras de que faz parte. (Bourdieu, 2003: 73) Em oposição à fruição cultivada, a apreciação ordinária acha-se: “… condenada a uma percepção da obra de arte que toma de empréstimo suas categorias à experiência cotidiana e termina no simples reconhecimento do objeto representado.” (idem, p. 79) Nesse contexto, o silêncio do público diante da obra tende a representar antes o respeito moral, quase religioso, de submissão aos “mistérios” da instituição artística, do que a satisfação da admiração estética. O habitus silencioso envia-nos assim à dimensão performática do público que ganha materialidade diante da obra, senhor de uma prática efetiva que se revela não apenas como tendência à incorporação do campo, mas também como matriz geradora de táticas de apreciação, englobando um conjunto de elementos. Assim, dentre os elementos que se encontram em jogo na conformação da disposição silenciosa desse público cultivado acham-se o olhar puro, guiado por categorias estéticas de apreensão das obras sobretudo como formas; a emergência da subjetividade e da experiência interior no mundo ocidental moderno; a valorização do corpo, e particularmente do rosto e da experiência visual, como signos de afirmação das individualidades; e
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
89
a transformação da concepção de tempo físico, cronológico, objetivo em dimensão temporal subjetivada, concebida como tempo vivido. Às considerações já feitas acerca da estética pura instaurada com a Modernidade, cuja base coincide com a elaboração de categorias de produção/apreensão de obras sobretudo como formas, é preciso acrescentar que se estabelece uma lógica circular cumulativa que alimenta uma produção pictórica autoreferenciada por meio de uma espécie de inter-iconicidade com as formas que compõem a história da arte. A este ponto voltarei na segunda parte deste artigo. Por sua vez, a emergência da subjetividade e da experiência interior na arte tem seu princípio arraigado no campo religioso, mediante a precedência representada pela prática da ascese espiritual. Porém, a Modernidade assistiu à laicização de tal experiência e o fortalecimento da dimensão subjetiva, manifestos pela emergência da leitura solitária e crítica dos textos sagrados, a partir do fim da Idade Média e início da Moderna. Nesse sentido, é interessante lembrar os vínculos que Manguel (1997) estabelece entre a emergência da leitura silenciosa, o alargamento do horizonte crítico, a recorrência de heresias e a Reforma Protestante. Ao romper com a rotina ruidosa da leitura em voz alta, realizada a partir de textos transcritos pelos monges copistas nas bibliotecas medievais até o século XV, a leitura silenciosa inaugura um espaço no qual …o leitor podia ao menos estabelecer uma relação sem restrições com o livro e as palavras. As palavras não precisavam mais ocupar o tempo exigido para pronunciá-las. Podiam existir em um espaço interior, passando rapidamente ou apenas se insinuando … enquanto os pensamentos do leitor as inspecionavam à vontade, retirando novas noções delas … (Manguel, 1997: 67/68)
A leitura silenciosa aparece assim como contribuição histórica considerável para a futura configuração do habitus silencioso do público de pintura. Nesse contexto, é preciso assinalar ainda que a difusão da leitura praticada silenciosamente, de forma solitária, íntima, privada, só foi possível graças a conjunção de uma série de fatores tais como: a invenção da prensa no século XVI, a qual possibilitou a multiplicação de exemplares do mesmo livro; as transformações deste, tomado como principal suporte do texto impresso. Este assume aos poucos um formato transportável, favorável à leitura individual; e a constituição de relações de mercado que possibilitaram a produção, circulação e consumo do livro, convertido em mercadoria. Como correlato da leitura silenciosa, o habitus silencioso do público de pintura representa o espaço que, em certo sentido, preserva a relativa autonomia do sujeito-que-olha, o meio em que se configura uma experiência interior a partir da qual o apreciador se afirma como um ponto de vista particular no espaço social. O indivíduo que aprecia tal tipo de imagem encontra nesse momento, de modo mais ou menos consciente, submerso e guiado por uma lógica prática, as categorias estéticas e os interesses com os quais foi familiarizado ao longo de seu processo de socialização. Tais categorias orientam a experiência de apropriação artística de cada indivíduo, balizando um movimento de reconhecimento, familiaridade e/ou estranhamento em relação aquilo que é visto, filtrado pela emergência de conteúdos de vida que convertem esta em uma experiência singular.
90
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
No processo de difusão da leitura silenciosa assim como do habitus silencioso do público de pintura o que encontramos é a valorização da experiência sensível como um todo, mediante uma outra concepção do corpo posta em movimento. De fato, imersas em uma recusa permanente a qualquer princípio de individuação, as camadas populares no mundo medieval não concebiam, segundo Le Breton (1992), uma separação entre o Homem e seu corpo, vivendo um permanente contato físico com os outros. Nesse contexto, a instauração da Modernidade trouxe consigo uma redefinição do corpo, concebido a partir de então como elemento de individuação do sujeito moderno. Para Le Breton (1992), a definição moderna de corpo implica assim uma triplo corte: o ser humano é separado dos outros (estrutura individualista), separado dele mesmo (dualismo Homem-corpo) e separado do cosmos (este último, convertido em objeto manipulável pela atividade produtiva do Homem). A produção de pintura da época oferece então um forte testemunho da valorização da experiência sensível associada ao corpo moderno. Tal processo transparece na criação/difusão de retratos pintados, os quais ressaltam o rosto, e sobretudo o olhar, como elementos que identificam, distinguindo o indivíduo retratado dos demais. No século XV, o retrato individual, distanciado de toda referência religiosa conhece sua ascenção no domínio da pintura … Por si mesmo, o retrato, quer dizer a celebração sem equívoco do homem atravez do seu rosto, torna-se um quadro, sem outra justificativa que aquela de pôr em evidência a imagem de um indivíduo podendo se oferecer ao talento de um pintor para representá-lo … Apenas importa aqui o valor simbólico da ênfase do rosto que assinala o encaminhamento do individualismo. (Le Breton, 1992: 35)
Mas o corpo moderno também é, segundo Norbert Elias (1985), o objeto de um processo civilizador. Tal processo condiciona os indivíduos a controlar suas condutas, a censurar seus movimentos, reprimindo seus gestos e estabelecendo desse modo a Modernidade como um verdadeiro domínio do olhar. Nesse contexto, o desenvolvimento da instituição museal não é um fato desprezível. Como lugar por excelência de exposição e do olhar, os museus europeus disseminaramse entre os séculos XV e XVIII, mediante a base oferecida pela prática do colecionismo. Até o século XIX, as exposições desses acervos davam-se segundo um arranjo que reunia, de maneira muito próxima, uma grande quantidade de obras, com formatos e temas diversos. Essa visualidade aleatória e transbordante exigia do apreciador um olhar de conjunto bem distante daquele solicitado pelo arranjo linear e espaçado que orientava exposições de pintura ao longo do século XX. Assim, o conceito de habitus silencioso confere corporeidade ao apreciador de pinturas. A partir de um lugar cuja finalidade social é organizar a apropriação do material visual que está ali exposto – o museu – tal indivíduo, frente a obras plásticas que se entregam ao olhar, desloca-se lentamente, de uma obra a outra. Estabelece com cada pintura a cumplicidade de um encontro pausado e silencioso. Sob a perspectiva da análise sociológica, o sentido de tal “entrega mútua” somente adquire sustentabilidade mediante o desvendamento de uma extensa trama de relações sociais, as quais configuram a lógica própria do campo artístico.
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
91
O museu se faz assim palco de relações estruturais que conformam uma temporalidade bem particular, própria às categorias da percepção artística moderna – aquela que emerge do duplo modo de existência do tempo histórico (pensado a partir do ator social e das estruturas sociais – do habitus e do campo). Esse contexto deixa transparecer que “… longe de ser uma condição a priori e transcendental de historicidade, o tempo é aquilo que a atividade prática produz no ato mesmo em que ela é produzida … (Ou seja), o tempo se engendra na efetuação mesma do ato … como ‘passagem’ do tempo …” (Bourdieu, 1992: 112) Bastante ilustrativa da temporalidade que caracteriza modernamente a apreciação de pinturas é a referência feita por Bourdieu (2003) acerca da significação objetiva do museu tradicional, mediante descrição das atitudes de um casal em visita a uma exposição de arte: Avançam bem devagar … À volta e, escrupulosamente, inspecionam cada vitrine, uma após outra; agora, o homem tem as mãos nos bolsos e mal se ouve a voz deles; no entanto, aqui, o casal está só … Aqui, é o silêncio recolhido e a calma ordem dos lentos movimentos ao longo das paredes (que prevalece) … (p. 85)
A relação entre o tempo dedicado à contemplação de obras e a competência do apreciador de arte europeu, já integrava, em 1969, o conjunto de elementos estudados por Bourdieu e Darbel em O amor pela arte …, antecipando por isso a reflexão de Passeron (1991), em Le temps qui est donné aux tableaux. Na referida obra, Bourdieu afirmou sobre o público cultivado europeu: “O tempo dedicado pelo visitante à contemplação das obras apresentadas, ou seja, o tempo de que tem necessidade para ‘esgotar’ as significações que lhe são propostas, constitui, sem dúvida, um bom indicador de sua aptidão em decifrar e saborear tais significações.” (Bourdieu, 2003: 71) Porém, apesar da recorrente formação escolar, o público cultivado de que trata esse estudo, portador de um capital simbólico que lhe favorece familiaridade com a experiência visual proporcionada pela pintura, não coincide necessariamente com a elite econômica. Esse tipo de atributo coincide antes com aquilo que Bourdieu denomina uma disposição autenticamente culta. Essa ínfima minoria de homens cultos encarna de fato uma série de atributos que conformam tal disposição. Esta não se restringe apenas ao indivíduo detentor de alto grau de escolaridade, mas também àquele que prefere a visita solitária ao museu. O perfil desse visitante solitário coincide portanto com o daquele cujo olhar percorre lentamente, de modo concentrado e silencioso, cada forma plástica. Encontramo-nos assim no terreno da quintessência da fruição erudita, a qual encarna a superação da cultura escolar em função de uma cultura livre. Para tal apreciador, portador de um juízo de gosto pessoal que o leva a recusar subsídios institucionalizados e coletivos destinados a dar suporte à interpretação de obras, “a cultura objetiva e objetivada tornou-se, no termo de um longo e lento processo de interiorização, cultura no sentido subjetivo.” (Bourdieu, 2003: 97)
92
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
2. Apropriação-criação: a lógica circular da criação artística moderna O que ocorre no campo está cada vez mais ligado à história específica do campo, e apenas a ela, portanto, cada vez mais difícil de deduzir a partir do estado do mundo social no momento considerado … (Bourdieu, 1996: 335)
Neste momento, o recurso a uma fenomenologia social do campo artístico que se volta sobre a apropriação de pinturas, feita por pintores – a apropriação-criação – pretende, por um lado, subsidiar a opção por uma abordagem sociológica capaz de ultrapassar os limites das análises extena e interna do fenômeno artístico; e, por outro, tem o objetivo de explicitar os vínculos subjacentes entre o processo de autonomização do campo artístico, a elaboração da visualidade autoreferenciada que baliza a criação de obras de arte modernas e a formação do habitus silencioso do público cultivado de pintura, como correlato a tal visualidade. Ora, a análise externa propiciada pela perspectiva sociológica tradicional tende ao reducionismo que estabelece uma correspondência quase imediata entre manifestações artísticas e determinadas formações sociais; por sua vez, a análise interna encontra sua mais completa expressão na perspectiva formalista que absolutiza a dinâmica das formas plásticas, em sua quase total independência da realidade social. Neste contexto, não é propriamente a estética ou a semiologia que fornecerão os melhores subsídios à afirmação da particularidade que caracteriza o domínio artístico frente à uma dada sociedade. É da teoria geral dos campos, proposta por Pierre Bourdieu, que emerge uma alternativa ao dualismo que oscila de modo recorrente entre estruturalismo e fenomenologia, no âmbito das Ciências Sociais. Assim, retornamos à articulação do par conceitual campo/habitus. Segundo Bourdieu (1992: 102/103) o vínculo entre habitus e campo é também uma relação de conhecimento ou de construção cognitiva, pois, … o habitus contribui a constituir o campo como mundo significante, dotado de sentido e de valor… Disso depreende-se duas coisas: primeiramente, essa relação de conhecimento depende da relação de condicionamento que a precede e que conforma as estruturas do habitus; em segundo lugar, as ciências sociais são necessariamente um ‘conhecimento de um conhecimento’ e devem dar lugar a uma fenomenologia socialmente fundamentada da experiência primeira do campo.
Tais considerações têm um efeito particularmente pertinente quando direcionadas ao campo artístico, visto que o senso estético constitue-se, como vimos, em modalidade do senso prático, o qual coincide com a dinâmica do habitus. Assim, no âmbito conceitual da teoria geral dos campos, o recurso a uma fenomenologia social que enfatize a criação de obras de arte modernas confere concreticidade a categorias tais como campo e habitus artísticos. Desse modo, a obra de arte passa a ser compreendida como um elemento estético e social, de mediação entre artista e público cultivado, agentes portadores de habitus artísticos diversos: o do criador e o do público. AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
93
A fim de restituir o lugar social que tais habitus ocupam no processo de autonomização do campo artístico, é preciso considerar a história mais ampla do campo de produção cultural (na qual se ‘produziu’ os produtores, os consumidores e as obras), a partir da qual elaboram-se as categorias de percepção artística moderna. Tal via de análise deixa transparecer que a transformação dos instrumentos de produção artística precede necessariamente a transformação dos instrumentos de percepção artística; ora, a transformação dos modos de percepção só pode ser operada de forma lenta, já que se trata de desenraizar um tipo de competência artística (produto da interiorização de um código social, tão profundamente inscrito nos hábitos e memórias que funciona no plano inconsciente) para ser substituído por outro, por um novo processo de interiorização, necessariamente, longo e difícil. (Bourdieu, 2003: 77)
Portanto, neste momento, é preciso compreender a força do condicionamento exercido pelas transformações formais das obras (entendidas como instrumentos de produção artística) na configuração de categorias da percepção que balizam a apropriação silenciosa de pinturas. Nesse contexto, é preciso lembrar que desde o momento em que a pintura renascentista impôs-se como forma predominante de representação visual do mundo, o “olho ocidental” conheceu um crescente processo de formalização daquilo que vemos. De fato, a perspectiva revelou-se como construção simbólica que liga elementos plásticos articulados. A partir do Renascimento, a pintura passou a ser um recurso que organiza a percepção visual das aparências mediante ‘planos’, figura e fundo, distância e pontos de vista, filtrando a razão que permanece a partir de então como justificativa do conjunto composto pelas leis da perspectiva. Se a pintura medieval simbolizava, idealizando e hierarquizando os elementos plásticos de composições religiosas, a perspectiva renascentista (em oposição e continuidade ao pensamento que conferia ordem às coisas do mundo), constitui-se como um filtro que colocava o observador da Renascença diante de uma cena, assumindo um ponto de vista. De fato, o que a pintura renascentista realiza é um modo de ver que sintetiza duas ordens, a do pensamento e a dos sentidos (visão). Mediante o recurso às leis da perspectiva (a proporção, o escalonamento de planos), a pintura enfatizava a composição, ou seja, os elos que uniam aquilo que sabemos e o que vemos, dando a ver não objetos mas elos entre os objetos. Pela tela ilusionista vemos o que somos levados a ver: as coisas mostradas em sua ligação. Não vemos, à semelhança da pintura medieval, a justaposição de coisas isoladas, mas o elo entre elas, ou seja um conjunto, uma composição. (Cauquelin, 2004) No contexto da pintura renascentista, os objetos que a razão reconhece separadamente não valem senão pelo conjunto proposto à visão. A razão, critério do plausível renascentista, torna-se lógica visual. (Cauquelin, 2004: 74/75) Portanto, os objetos que configuram a composição renascentista não têm valor a não ser integrando um conjunto que os articule. E é justamente a perspectiva, como artifício mental construído, que ordena e preside sua manifestação.
94
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
Diante da unidade compositiva conferida às obras a partir da Renascença, muito geralmente o termo “público” foi utilizado como globalmente oposto à artista. Porém, não seria o próprio artista um dos elementos integrantes desse púbico cultivado, apreciador privilegiado de sua produção e da obra de seus pares (colegas e concorrentes)? No âmbito específico da aprendizagem oportunizada pela formação acadêmica regular, o pintor moderno convertia-se, de modo sistemático, em público das obras de outros artistas. Era então corrente no domínio da arte figurativa a orientação de que o contato direto, o estudo detalhado e a realização da cópia de obras dos mestres, compunha o conjunto de procedimentos que tradicionalmente estruturavam o domínio formal do desenho e da pintura. No contexto europeu, a freqüência de pintores-aprendizes a museus de arte resultava em uma apropriação dos temas e soluções formais manifestos pelos mestres no percurso de depuração estilístico materializado em suas pinturas, esculturas e desenhos. Essa apropriação assumia a forma física do registro visual, mediante a produção de obras que tinham como ponto de partida a composição original criada pelos mestres. Assim, surgiam dessa prática cópias que buscavam recriar os efeitos estéticos provocados por composições originais. Nesse sentido, a partir do fim do século XVIII, o Louvre converteu-se na “grande escola” para pintores de todo o mundo, os quais afluíam numerosos a Paris. Ao possibilitar a socialização e intensificação do impacto visual vivenciado pelos artistas no contato direto com a densidade semântica própria a toda elaboração formal pinturesca, esse museu incorporou a cópia-didática das obras de arte como ferramenta de elaboração de um saber-fazer específico que reforçava este procedimento como valor próprio ao campo artístico, mediante um diálogo que se tornou mais e mais formal, histórico e auto-referencial no âmbito da arte moderna. Sigamos então as vias pelas quais se deu tal processo de formalização, pois é essa volta reflexiva que a pintura moderna realiza sobre ela mesma que a recobre, no âmbito das obras, de uma densificação semântica difícil de penetrar. … Uma obra de arte … nasce de uma rede complexa de influências, a maioria das quais se desenvolve ao nível específico da obra ou sistema de que faz parte; o mundo interior de um poeta é influenciado e formado pela tradição estilística dos poetas que o precederam, tanto e talvez mais do que pelas ocasiões históricas em que se inspira sua ideologia; e através das influências estilísticas ele assimilou, como uma espécie de modo de formar, um modo de ver o mundo. (Eco, 2000:34/35)
Configura-se assim um regime de crescente precariedade do verbo em ‘traduzir’ (sob forma leiga ou erudita) o modo de ver e sentir o mundo que emerge dessa teia de mútuas influências que modernamente passou a conformar a experiência (eminentemente visual) de apropriação de pinturas. Desse modo, o habitus silencioso aparece como corolário de tal processo de distanciamento entre verbo e imagem, ao mesmo tempo em que revela o caráter histórico dessa dinâmica, assinalada pelo paulatino abandono da condição narrativa ou alegórica da imagem pictórica, predominante nos períodos que antecederam a emergência da Modernidade.
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
95
Assim, se uma fenomenologia social do campo artístico que se volta sobre a criação plástica européia revela que, mesmo no século XIX, ainda subsistia uma produção marcada por formas figurativas codificadas – tais como o retrato, a paisagem e a naturezamorta – é mediante a análise sociológica de uma forma de apropriação bem particular, a qual distanciando-se do verbo realiza-se somente entre pintores – a apropriação-criação – que busco evidenciar a ligação entre a formação do habitus silencioso e o processo de autonomização do campo da arte. De fato, uma situação ideal de homologia entre a apropriação da imagem oferecida pela pintura moderna e a expressão dessa experiência estética somente pode ser encontrada em tal prática corrente entre pintores, pois, o domínio prático das aquisições específicas que estão inscritas nas obras passadas e registradas, codificadas, canonizadas por todo um corpo de profissionais da conservação e da celebração … faz parte das condições da entrada no campo de produção. (Bourdieu, 1996: 335)
Neste momento, o conceito de apropriação-criação parece encerrar a melhor aproximação do lugar-limite que esse tipo de apropriação ocupa junto a fenômenos mais gerais de recepção. Lembremos que para Roger Chartier, ‘apropriação’ corresponde ao núcleo criativo presente, potencial ou efetivamente, em todo processo de recepção de bens culturais. Nesse contexto, a apropriação de pintura por pintores parece constituir-se como exacerbação desse potencial criativo contido na apreciação leiga ou erudita, configurando-se como uma espécie de meta-criação. De todo modo, tal formulação teórica estabelece a exata medida da relação de continuidade e distanciamento que marca esses dois conceitos – toda apropriação encontra-se no âmbito da recepção de bens culturais, mas nem toda recepção realiza-se como apropriação. Embora bastante recorrente entre artistas, a prática da apropriação-criação permaneceu para a história da arte como um conhecimento residual, um lugar-comum entre pintores, tratado quer de forma secundária pelos críticos e apreciadores, quer como curiosidade que recobria o discurso da história da arte de maior sedução. Tendo sido tratada de modo recorrente como equivalente à cópia didática ou simplificada por noções pouco precisas tais como “versão”, “releitura”, “recriação”, “interpretação”, “reelaboração”, a apropriação-criação tem instrumentalizado o discurso histórico apenas como procedimento de atribuição de ‘ascendências’ estilísticas, enquanto que para a sociologia da arte, sequer se constituiu como matéria digna de estudo. De fato, a imprecisão conceitual que marca a questão da apropriação-criação revela muitas vezes a influência da cultura letrada, mediante um uso inadequado ou abusivo do termo “leitura”. Embora a uma história das imagens artísticas não faltem exemplos de justaposições, cruzamentos e mútua influência entre pintura e práticas da leitura e escrita, estas concretizam domínios simbólicos bem diversos. Ao contrário do que se professa de modo corrente, um quadro não pode ser lido como um texto, pois, a dinâmica associativo-visual que estrutura a experiência com imagens a coloca em um outro domínio do pensamento. Sobretudo quando relacionada à produção pictórica moderna, a apropriação discursiva da imagem pictórica figurativorepresentativa revela-se como prática válida em um tempo histórico bem delimitado. 96
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
É importante explicitar ainda porque, sendo a apropriação-criação um procedimento artístico que ultrapassa o processo de aprendizagem do desenho e da pintura acadêmica, não se restringe à prática contínua de esboços de detalhes (soluções formais) ou da “cópia fiel” de obras dos mestres expostas em grandes museus. De fato, o elemento diferencial entre a cópia e este tipo de apropriação é que, se ambas consistem na elaboração de uma imagem a partir do contato direto com uma obra original, a apropriação-criação configura-se mediante a existência de um estilo artístico já consolidado, que media a criação de uma segunda composição original. Dito de outro modo: se ambas servem à incorporação do modo de fazer de um dado artista (tomado como referência), tais práticas não se equivalem. Podemos pensar em termos de oposições que evidenciem essa dissimetria entre cópia didática e apropriaçãocriação – reprodução/invenção; matriz estilística em formação/ estilo consolidado; imersão nos problemas de forma-conteúdo representados pela obra original / “diálogo” que transcende o universo da obra depurando-a a partir de um modo de fazer que coloque seus problemas de forma-conteúdo em um patamar cujas respostas inventivas ultrapassam a base do estilo da obra original, inserindo-a em um outro tempo histórico. É possível citar ainda como elemento intermediário, entre a prática da cópia didática e o recurso à apropriação-criação, a chamada peinture de cabinet. Esse tipo de pintura, surgida na Holanda do século XVII, “é um gênero pictural singular … representação ao mesmo tempo descritiva e alegórica dos lugares de coleção”. (Schaer, 2002: 20) Assim, se a cópia didática evocava a experiência estética provocada por uma única obra, aquela que lhe servira de modelo, a pintura de gabinete concentrava literalmente várias obras em uma mesma e única tela. Embora a particularidade representada pela prática da apropriação-criação possa ter ocorrido de forma difusa ao longo da história da arte ocidental, somente modernamente essa prática artística ganhou sistematicidade, transformando-se em técnica consciente, a exemplo dos trabalhos de Pablo Picasso (1881-1973), Édouard Manet (1832-1883) e Vincent Van Gogh (1853-1890) entre outros. Estão entre as últimas obras de Picasso, no período que vai de 1951 a 1973, uma série de trabalhos que o ligam a mestres da história da pintura, bem como ‘citações’ de suas próprias obras.
Ilustração 1: Les Demoiselles …
Esse tipo de referência, que converte um detalhe em uma obra (é o caso da tela Les Demoiselles d’Avignon, de 1907), ou o contrário, encontra-se porém disperso ao longo de seu percurso artístico. AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
97
A tela Les Demoiselles d’Avignon, a qual instaura o cubismo no domínio da pintura, une assim a obra de Picasso a de Ingres (1780-1867). Picasso imitou o nu, no quadro de Jean Dominique Ingres ‘O Banho Turco’, que cruza os braços atrás da cabeça, tela em que são homenageadas as doces curvas das arredondadas formas femininas … Picasso aproveitou o motivo deste esboço para a mulher no centro do quadro. O contraste em relação ao Banho, de Ingres, fumegando de sensualidade e erotismo, não poderia ser maior. (Walther, 2000: 37)
Ilustração 2: O Banho Turco
Obedecendo ao todo da composição original, em 1951, Picasso pintou Massacre na Coreia (1,10 x 2,10 m. Vallauris, coleção Picasso)…
Ilustração 3: Massacre na Coreia
…em uma clara referência à obra O Três de Maio (tela, 2,66 x 3,45 m. Museu de Madri, Prado), de Francisco Goya (1808)…
Ilustração 4: O Três de Maio, de Goya
98
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
… a qual também foi motivo para a pintura de Manet, realizada em 1867, intitulada A Execução de Maximiano (tela, 2,52 x 3,05 m).
Ilustração 5: A Execução de Maximiano
Sobre este quadro Spence (1998) afirma que Manet pintou ao menos quatro telas sobre o tema, modificando-as de acordo com as notícias, à medida em que estas eram divulgadas na França. Com certeza, Manet a viu (a obra de Goya) quando visitou Madri em 1865, apenas dois anos antes de pintar A Execução de Maximiano. As semelhanças são marcantes, principalmente a proximidade dos soldados, que apontam seus rifles para as vítimas prestes a morrer. Goya e Manet colocaram as vítimas com os braços esticados, como um Cristo crucificado. (Spence, 1998: 16)
Em 1954, Picasso elaborou ainda a série Mulheres de Argel, inspirada na obra-prima de Eugène Delacroix. Em 1957, fez estudos e versões sobre As meninas de Velazquez, abordando a obra como um todo ou apenas um pormenor. E ainda muitas variações do Almoço sobre a Relva, de Manet, na década de 60. Em todas estas produções, Picasso transpôs formas, alterando as composições originais, submetendo-as ao seu próprio modo de formar. Aliás, um exemplo rico em variações consiste na filiação e desdobramentos de dois trabalhos de Édouard Manet: Almoço sobre a relva – 1862/1863 (tela, 2,08 x 2,64m); e Olympia – 1865 (tela, 1,30 x 1,90 m.). Concebidas a partir de obras anteriores, tais telas subsidiaram várias apropriações posteriores.
Ilustração 6: O almoço sobre a relva, de Manet
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
99
Quando a apropriação-criação se dá a partir da percepção da pintura como coexistência de várias obras numa só, o pintor abstrai o plano geral da composição original para concentrar-se no potencial expressivo, nos problemas formais e/ou técnicos representados por um dado momento da obra, dele extraindo uma nova tela. É isto que transparece o processo de criação de Almoço sobre a relva. Manet concentra seu interesse sobre o trio de divindades que dialogam no canto inferior direito da obra do italiano Marcantonio Raimondi (1480-1527), gravura do século XVI. Esta teve como referente a composição criada por Rafael (1483-1520).
Ilustração 7: O Julgamento de Paris, de Rafael (gravura)
… e provavelmente Rafael inspirou-se na imagem encontrada em um sarcófago romano do século III d.C., na qual três deuses conversavam às margens de um rio.
Ilustração 8: baixo-relevo romano
Assim, se o Concerto Campestre de Ticiano (1490-1576), tela feita por volta de 1510, divide com Rafael a precedência da elaboração da gravura criada por Raiamondi …
Ilustração 9: O Concerto Campestre, de Ticiano
100
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
O Julgamento de Páris, segundo Rafael (obra composta cerca de 1520), por Marcantonio Raiamondi, subsidiou, por sua vez, a polêmica versão de Manet, de 1863.
Ilustração 10: Julgamento de Páris, segundo Rafael, obra de Marcantonio Raiamondi
Desse modo, a nudez presente nas imagens clássicas seja de Rafael, Ticiano ou Raiamondi, ressurge com Manet, mediante recorte que valorizava o momento da composição original centrada na figura dos três deuses.
Ilustração 11: Almoço sobre a relva, de Monet
De todo modo, o Almoço sobre a relva de Manet provocou ainda o surgimento de uma outra obra. Claude Monet (1840-1926), em 1865, manteve-se fiel ao tema mas criou uma composição bem diversa. Se o estilo das imagens criadas por Manet e Picasso é extremamente diverso, a composição ou plano pictórico permanecem praticamente os mesmos, pois, é antes de mais nada a questão da afirmação estilística de cada artista que se encontra no cerne das apropriações particulares acima descritas. Excetuando-se aquelas criações que estabelecem com o original sobretudo uma afinidade temática (a exemplo da tela de Monet – ilustração 11), é evidente uma tendência à afirmação do primado da forma sobre o conteúdo. Abordados nessa perspectiva, os princípios estilísticos revelam-se não só como elemento definidor do valor da obra, mas também de tomadas de posição que dão vida ao campo artístico.
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
101
Nesse contexto, ligam-se apropriação cultivada, originalidade criativa e um certo sentido cumulativo da história da arte. Frente à dinâmica do pensamento associativo-visual do olhar puro lançado pelo artista criador sobre as obras do passado, cabe à Sociologia atentar para mudanças das propriedades formais das obras, na medida em que elas se vinculam à história social do campo artístico, instância mediadora da ligação entre a lógica que preside a criação/apropriação das obras de arte e um universo social mais amplo. Porém, não é o objetivo deste artigo traçar uma análise profunda das particularidades que ligam o campo da arte seja ao político, seja ao econômico – sobretudo se esta ligação se dá em contextos históricos tão diversos como aqueles vivenciados pelos artistas já mencionados. Levando em conta tais limitações, é possível ao menos afirmar que ao dar forma ao Almoço sobre a relva, em 1863, Manet vivia a euforia impressionista com os pés ainda instalados em solo realista. Naquele ambiente, “descobriu” as formas clássicas à medida em que construiu sua visão de mundo mediante a formalização desta, via estilo individual. É portanto partindo de um estilo realista, permeado pelo clássico, que Manet negou os valores que davam sustentação ao realismo ‘convencional’ e aderiu à atmosfera impressionista. Já a apropriação que Picasso fez do Almoço … evidencia o percurso de construção formal e pessoal do artista. Picasso já havia então passado pela exploração da estética e temática clássicas, por momentos existenciais que se traduziram em figuras sombrias ou exuberantes, pela desconstrução e relativização do mundo a partir do cubismo analítico e sintético. Assim, as formas por ele criadas revelam o que a consciência sabe que existe (a mulher nua ergue o braço expondo a axila e os seios de frente), bem como “deformam” o corpo de tal modo que levam o apreciador a perceber a figura sob diversos ângulos (enquanto a perna direita encontra-se numa disposição lateral, o sexo feminino mostra-se numa perspectiva frontal inesperada). A composição toda parece ter sido realizada com extrema velocidade, com traços vigorosos e sem nenhuma preocupação com a verossimilhança.
Ilustração 12: O Almoço …, de Picasso
Por fim, a famosa obra de Manet, Olympia (1863), baseia-se na lógica compositiva da Vênus de Urbino, de Ticiano (1538). Esta última teve ainda como referência a Vênus Adormecida (1510), de Giorgione (1477-1510).
102
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
Enquanto estas exibem formas arredondadas de uma figura feminina ideal e distante, com tranqüila sensualidade…
Ilustração 13: A Vênus de Urbino, de Ticiano
…a Olympia de Manet teve uma prostituta conhecida (e reconhecível) como sua modelo. Diferentemente das Vênus, de Giorgione e de Ticiano, largadas confortavelmente sobre almofadas, Olympia, apesar da evidente maciez dos travesseiros, está tensa e alerta, fixando firmemente o sujeito que a observa.
Ilustração 14: Olympia, de Manet
Sua tensão parece mesmo contagiar o gato preto eriçado que se posta aos seus pés, assinalando a presença de um olhar que recai sobre o dela. O incômodo que o observador causa é mais evidente se compararmos a postura do gato ao sono tranqüilo do cachorro que dormia junto a Vênus, de Ticiano. Aproximadamente em 1872-73, esse trabalho ganhou a atenção de Cézanne sob a forma de Uma Moderna Olympia. Marcada pelo “primitivo modo delirante de pintar” de Cézanne o quadro parodiava o frio original de Manet tanto em conteúdo como em tratamento: em vez de carregar um buquê, a criada negra está despindo Olympia com um floreio teatral; a própria Olympia tornou-se rosa e grande, até o ponto da vulgaridade; e o invisível visitante no limiar da porta do quarto no quadro de Manet – isto é, você ou eu – se materializou num troncudo e calvo homem da cidade, com uma semelhança suspeita com Paul Cézannne, à vontade numa espécie de sofá, apreciando o despimento. (Harris, 1987: 45)
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
103
De modo semelhante, no asilo de Saint-Rémy, onde havia sido internado no início de 1889, Vincent Van Gogh embarcou em um exercício pouco comum de apropriação de pintura. Ele produziu então uma série de obras coloridas a partir de uma coleção de reproduções em preto e branco de trabalhos de artistas os quais ele admitia como seus grandes modelos: Rembrandt, Jean-François Millet, Eugène Delacroix e outros. Durante sua permanência em Paris (1886-1888), ele já havia pintado cópias de gravuras japonesas, mas isto era diferente, pois aquela atividade compunha de fato seu aprendizado. No momento em que encontrava-se no asilo de Saint-Rémy, as gravuras que ele havia colecionado a partir de obras de grandes mestres serviam-lhe de inspiração para a pintura. Desse modo, o desafio que ele se impôs era o de traduzir impressões em branco e preto para outra linguagem – aquela da cor. A originalidade de tal produção residia não somente em sua habilidade de improvisar com a cor, mas também no fato de que este improviso era feito, não diretamente a partir da obra de um mestre da pintura, mas de sua lembrança do emprego da cor na obra original. Neste caso, o conceito de apropriação aproxima-se daquele de interpretação musical, pois, à semelhança de um músico que interpreta o trabalho de um compositor, Van Gogh manifestava lembranças de pinturas que já havia apreciado. É ‘a lembrança – esta vaga consonância de cores que harmonizo no espírito, e não de fato – que emerge como minha interpretação’.1 Realizado na distância imposta pelo tempo e espaço em relação as obras que lhe serviram de referência, o exercício de apropriação-criação desenvolvido por Van Gogh trazia marcas que revelavam o percurso de um aprendizado autodidata (o recurso à cópia e o registro pelo desenho ou gravura que antecedia ou sucedia a realização de suas pinturas) e seu contexto de criação (a loucura e a explosão de cores em Saint- Rémy). Recorrente entre pintores, esse tipo de apropriação contribuiu para a depuração de habitus perceptivos que estão na base tanto da atividade do público diante de obras modernas, quando do esforço criativo dos artistas em concebê-las. De fato, a contínua familiarização com esse tipo de produção contribuiu para a configuração do domínio do olhar cultivado, puro, mediado por uma experiência estética de caráter ‘intraduzível’. Vivenciada seja pelo público, seja pelo artista modernos, tal experiência revela a dinâmica de imagens pictóricas, progressivamente carregadas de maior densidade semântica, fruto de uma lógica compositiva circular, inter-icônica, de imagens historicamente acumuladas em criações originais. Mais recentemente, tal movimento circular de crescente depuração da criação/apropriação artística culminou na emergência da abstração pictórica, mediante paulatina conversão da pintura-representação em fato-pintura. Perante tais obras, o habitus silencioso do público erudito, bem como o habitus criador do pintor moderno, configuraram um espaço social autônomo no qual uma espécie de pensamento associativo-visual fez com que as descrições verbais, anteriormente aplicadas confortavelmente a obras representativas, se fragilizem, até perderem o sentido.
1
Cópias de grandes mestres – título de uma das sessões da exposição permanente das últimas obras do artista no Museu Van Gogh, em Amsterdam.
104
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
Considerações Finais Para a Sociologia, problematizar a formação do habitus silencioso do público de pintura e a prática da apropriação-criação como elementos simbólicos fundamentais ao processo de autonomização do campo artístico moderno possibilita apanhar o invariante, a estrutura, na variante observada … (apreendendo) mecanismos que, ainda que por razões diferentes, escapam tanto ao olhar nativo quanto ao olhar estrangeiro, tais como os princípios de construção do espaço social ou os mecanismos de reprodução desse espaço. (Bourdieu, 1996: 15) Se os fenômenos do habitus silencioso e da apropriação-criação configuram-se como as variantes observadas, a tendência à autonomização é o elemento invariante, ou ainda a homologia estrutural que se pode estabelecer entre os diversos campos de ação social. Correspondendo o senso estético a uma modalidade do senso prático, os elementos que o regem são de fato em boa mediada inconscientes. Nesse sentido, a centralidade ocupada pelos habitus silencioso e criador modernos na construção e/ou reprodução do espaço social representado pelo campo artístico, tem escapado tanto ao olhar nativo do artista, do público e da crítica de arte, como também e por motivos diferentes ao olhar estrangeiro do historiador e do sociólogo da arte. Assim, de objeto sociológico improvável, a relação entre silêncio e apropriação de pinturas converteuse nesse artigo em caminho imprescindível para a compreensão dos mecanismos que regem o processo de autonomização do campo artístico. O percurso conceitual realizado ao longo destas páginas exigiu atenção para o contexto de ramificações teóricas ligadas ao conceito bourdieusiano de ‘habitus’. No âmbito da Teoria Geral dos Campos apropriei-me de tal conceito a fim de dar forma a uma fenomenologia social do campo artístico, enfatizando vínculos entre manifestações que lhe são próprias e sua dinâmica estrutural. Ora, a dupla possibilidade (de socialização e individuação) que o habitus abriga, quer como disposição silenciosa do público de pintura, quer como fluxo de imagens subjacente ao pensamento criador moderno, integra público e artista no movimento simultâneo de permanência (reprodução) das estruturas que conformam o campo da arte e de mudança (inovação) deste último, mediante o processo de subjetivação da cultura artística. Como manifestação que integra o olhar puro do público cultivado, a disposição silenciosa supõe a existência de um capital cultural acumulado sob a forma de categorias estéticas, as quais são o fruto de um longo processo de sedimentação histórica. Do mesmo modo, o habitus criador conforma-se ao longo de um percurso de familiarização com mecanismos de apropriação estética / produção artística. Tais mecanismos apresentam uma certa complexidade e variedade a qual vai da cópia didática, passa pela peinture de cabinet, chegando às múltiplas formas assumidas pela apropriação-criação (aquela que prende-se quer à temática, quer à composição da obra original – em parte ou em sua totalidade; aquela que se volta para a produção pictórica de outros artistas ou do próprio pintor; ou ainda, a exemplo de Van Gogh, aquela que transpõe a lógica compositiva da obra original – pintura – para um outro registro visual – o desenho –, para depois, partindo do próprio desenho e da lembrança do emprego das cores na obra-referência, “improvisar” as cores gerando uma nova obra). O habitus criador, ao dar forma à lógica circular que dinamiza a história do campo da arte, instaura não só um modo de criação artística (regido pelo fluxo de um pensamento associativo-visual), mas também estabelece um padrão cognitivo similar para apropriação da obra. AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
105
Portanto, a dinâmica das categorias perceptivas modernas, que marca a experiência interior do público cultivado diante de pinturas, perde sua aura nebulosa sob o olhar sociológico, o qual apreende o campo artístico subjetivado na forma da silenciosa apreciação manifesta por esse público. Modernamente, a materialidade de gestos contidos e do conseqüente domínio do olhar, passou a integrar paulatinamente a unicidade da experiência estética de cada indivíduo. Em situações de exposição de obras plásticas, o apreciador tornou-se uma presença física que se desloca de uma obra a outra, que estanca e se demora diante de cada uma, que fica absorto ou saturado, que volta a caminhar, que processa nesse caminhar um misto de imagens e conteúdos afetivos provocados por telas que se afirmam e se revelam unicamente como pinturas que, como ‘pura criação’, exigem o olhar puro do público. Neste artigo, a invenção do olhar puro do pintor e do público de pintura, manifesto pela prática da apropriação-criação e pelo habitus silencioso respectivamente, emerge como um índice de autonomização do campo artístico. Porém, a centralidade que o habitus silencioso ocupou do momento de gênese do campo da arte à afirmação do fato ou forma-pintura, mediante produção do abstracionismo, parece ocupar um lugar secundário nos momentos subseqüentes da história da arte, frente a formas plásticas mais ‘interativas’. Por isso é preciso levar em conta que a análise contida neste artigo compreende tão somente um momento do desenvolvimento do campo artístico, de vez que os habitus criador e silencioso adequam-se sobretudo à forma-pintura moderna.
Bibliografia ARGAN, Giulio Carlo (1992). Arte Moderna. São Paulo: Companhia das Letras. BAXANDALL, Michael (1991). O olhar renascente: pintura e experiência social na Itália da Renascença. Rio de Janeiro: Paz e Terra. BOURDIEU, Pierre (2002). Questions de Sociologie. Paris: Les Éditions de Minuit. ______. Sociologie de la perception esthétique, p. 161-176 in Les Sciences Humaines et l’Oeuvre d’Art. Bruxelles: Ed. La Connaissance (coll. “Témoins et témoignages/Actualité”). ______. (1979). La distinction (critique sociale du jugement). Coll. Le Sens Commun. Paris: Les Éditions de Minuit. ______. (1996). As regras da arte: gênese e estrutura do campo literário. São Paulo: Companhia das Letras. BOURDIEU, Pierre e DARBEL, Alain (2003). O amor pela arte: os museus de arte na Europa e seu público. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo. BOURDIEU, Pierre e WACQUAN, Löic (1992). Réponses: pour une anthropologie réflexive. Paris: Éditions du Seuil. BURKE, Peter (1995). Anotações para uma história social do silêncio no início da Europa moderna. In A arte da conversação. São Paulo: Unesp. CAUQUELIN, Anne. L’invention du paysage. Paris: Quadrige/PUF. CHARTIER, Roger (1992). Textos, impressões, leituras. In. HUNT, Lynn. A nova história cultural. Rio de Janeiro: Martins Fontes. ______. (org.) (1996). Práticas da leitura. São Paulo: Estação Liberdade. ______. (1995). Textes, “Performances”, Publics. Cahier de Recherche, nº 16. Lyon, França: GRS/Lyon2.
106
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
______. (1993). Pouvoir(s) et Culture(s). Cahier de Recherche, nº 11. Lyon, França: GRS/Lyon2. ______. (1999). A aventura do livro: do leitor ao navegador. São Paulo: Editora UNESP. COMAR, Philippe (1992). La perspective en jeu – le dessous de l’image. Paris: Découvertes Gallimard Arts. DETREZ, Christine (2002). La construction sociale du corps. Paris: Editions du Seuil. ECO, Umberto (2000). Obra aberta. São Paulo: Perspectiva. ELIAS, Norbert (1985). La société de cour. Paris: Champs/Flammarion. ESQUENAZI, Jean-Pierre (2003). Sociologie des Publics. Paris: La Découverte. HALL, Edward T (1984). Le langage silencieux. Paris: Editions du Seuil. ______. (1971). La dimension cachée. Paris: Editions du Seuil. HARRIS, Nathaniel (1987). A arte de Cézanne. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico S/A. HEINICH, Nathalie (2004). La sociologie de l’art. Paris: Editions La Découverte. HUNT, Lynn (2001). A nova história cultural. São Paulo: Martins Fontes. LE BRETON, David (2003). Anthropologie du corps et modernité. Paris: Quadrige/Puf. ______. (1997). Du silence (essai). Paris: Editions Métailié. ______. (1992). Des visages (essai d’anthropologie). Paris: Editions Métailié. MANGUEL, Alberto (1997). Uma história da leitura. São Paulo: Companhia das Letras. MARIN, Louis. Ler um quadro de Poussain. In CHARTIER, Roger (org.) (1996). Práticas da leitura. São Paulo: Estação Liberdade. MOULIN, Raymond (1997). L’artiste, l’institution et le marché. Paris: Champs/Flamarion. ORLANDI, Eni (1997). As formas do silêncio: no movimento dos sentidos. Campinas, SP: Ed. UNICAMP. (Coleção Repertórios) PASSERON, Jean-Claude, PEDLER, E. (1991). Le temps qui est donné aux oeuvres. Marseille: IREMEC. SAUVAGEOT, Anne (1994). Voirs et savoirs (esquisse d’une sociologie du regard). Paris: PUF. SCHAER, Roland (2002). L’invention des Musées. Paris: Découvertes Gallimard / Réunion des Musées Nationaux. SONTAG, Susan (1987). A estética do silêncio. In A vontade radical: estilos. São Paulo: Companhia das Letras. SPENCE, David (1997). Manet: um novo realismo. São Paulo: Melhoramentos. (Coleção Grandes Artistas) TODOROV, Tzvetan (2004). Eloge de l’individu (essai sur la peinture flamande de la Renaissance). Paris: Éditions Adam Biro. WALTHER, Ingo F (2004). Vincent Van Gogh: vision et réalité. Köln, Alemanha: Taschen. ______. (2000). Pablo Picasso: o gênio do século. Köln, Alemanha: Taschen.
* Kadma Marques Rodrigues é Doutora em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará (UFC), professora do Departamento de Educação da Universidade Estadual do Ceará (UECE). Concluído o Doutorado, em novembro de 2006, foi cedida para o Centro de Estudos Sociais Aplicados (CESA), da mesma universidade, ministrando disciplinas junto aos Mestrados de Administração de Empresas e Políticas Públicas.
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
107
OS MODERNOS E A TRADIÇÃO CRÍTICA ENEIAS FORLIN*
H
á na filosofia uma certa tradição que poderíamos chamar de filosofia crítica. É aquela tradição filosófica que, antes de se por a falar sobre a realidade, investiga se é possível conhecê-la, quais são as condições de possibilidade do conhecimento; em suma, que antes de produzir um conhecimento sobre o real, ela investiga se é possível e como é possível o conhecimento. Caracterizada, assim, desta maneira bastante ampla, a tradição crítica remonta à antiguidade, sendo representada por escolas tidas como menores e periféricas na história da filosofia, tais como a sofística e o ceticismo. O Ceticismo é, por assim dizer, a figura mais radical do que poderíamos chamar a filosofia crítica. A história do ceticismo, definida como tradição ou “escola”, teve vários estágios: ela inicia com o ceticismo de interesse mais prático ou ético de Pyrrho, a partir do final do século IV a.c (360 a 275); converte-se numa crítica do conhecimento com os novos acadêmicos do século III (Arcésilas) e II (Carnéades) a.c; no século I a.c, o pirronismo é reavivado por Enesidumus, sendo sistematizado e desenvolvido dialeticamente; enfim, a partir do final do século II d.c (160-210), o ceticismo chega a seu desenvolvimento final com Sexto Empírico (Brochard I, p.35-45). Sexto Empírico foi aquele que fez uma suma de todo o ceticismo, reunindo e classificando todos os seus argumentos. Ele não considerava os acadêmicos propriamente
céticos, já que, segundo ele, os acadêmicos simplesmente sustentavam a tese o oposta do dogmatismo, a saber, de que a verdade é inapreensível, o que para Sextus Empiricus é como um dogmatismo invertido (Ibid. p. 316.). Deixando de lado as diferenças e as transformações sofridas pelo ceticismo ao longo dessa sua história, podemos, dizer que o cético, de modo geral, é aquele que suspende o juízo sobre todas as tentativas de fundamentar o conhecimento sobre as coisas em si mesmas. Os filósofos céticos tinham-se lançado, como os outros, à busca de um discernimento definitivo entre o verdadeiro e o falso, mas cedo constataram, a propósito de cada objeto e de cada questão investigada, que proposições umas com as outras conflitantes e incompatíveis se lhes propunham a aceitação com igual força persuasiva, tornando-lhes impossível uma opção fundamentada. Donde caracterizar-se como princípio fundamental do ceticismo essa atitude que consiste em descobrir e contrapor, a cada proposição e argumento, o argumento e a proposição que os neutralizam: a suspensão cética do juízo não é nada mais do que o corolário dessa experiência sempre renovada com sucesso. (Pereira 7, p. 9)
Em geral, o ceticismo aparece ou ganha fôlego naqueles momentos de crise e profundas transformações na sociedade, onde a tradição cultural e o saber instituído são postos em causa. Foi assim já com o surgimento pirronismo, que floresce no momento em que acontece a dissolução da unidade da cultura helenista, com a morte de Alexandre. E é assim que vai surgir um novo pirronismo no final da idade média com a dissolução da unidade da cultura cristã. No século XVI, os novos pirrônicos, sobretudo Montaigne, revitalizam a idéias de Sexto Empírico e inauguram uma nova crise pirrônica, mais acentuada ainda que as precedentes. Diferentemente dos seus predecessores céticos, que se contentavam com mostrar o conflito entre todas as opiniões, o pirronismo absoluto de Montaigne utiliza-se da dúvida para atacar até as últimas defesas da atividade racional. (Popkins 8, cap. III) É natural, portanto, que a filosofia da Idade Moderna que sucedeu imediatamente a época do novo pirronismo estivesse embuída da tarefa de combatê-lo. Até porque o surgimento de uma nova ciência, sobretudo com a física de Galileu, bem como os avanços e as descobertas que começam a se anunciar, inspiram uma nova onda de otimismo e confiança na razão. É importante notar, porém, que, paradoxalmente, a filosofia moderna como que assume, em certa medida, uma certa postura crítica do ceticismo. Não podemos esquecer que os modernos, assim como os novos pirrônicos, recusavam a tradição tomista-aristotélica perpetuada nas escolas. Há, pelo menos nos primeiro modernos, uma desconfiança e mesmo uma rejeição para com os dogmas herdados da tradição filosófica. Isso implicava, por um lado, que os modernos julgassem que os fundamentos da filosofia da escola fossem mesmo passíveis dos ataques céticos; e, por outro lado, que se eles, os modernos, acreditavam que a verdade era apreensível, então, não só não podiam apoiar-se no saber herdado pela tradição filosófica — dado que eles próprios, juntamente com os céticos, a criticavam — como tinham que mostrar, contra o próprio ceticismo, como era possível o conhecimento. Assim sendo, para alguns modernos impunha-se a tarefa de fazer uma
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
109
avaliação crítica das possibilidades do conhecimento para mostrar como era possível o conhecimento. Em suma, pode-se dizer que, na idade moderna, a filosofia crítica, da qual, como vimos, o ceticismo é uma das suas primeiras expressões e a mais radical, emancipa-se do ceticismo e assume novas figuras, algumas da quais se voltam contra o próprio ceticismo. Alguns dos filósofos modernos incorporam em seus projetos filosóficos, em maior ou menor grau, a tradição crítica, embora não cheguem às conclusões céticas e, alguns, cheguem mesmo, a refutá-las. Esta postura crítica na filosofia moderna se expressa com particular clareza em três de seus mais eminentes representantes, a saber, Descartes, Hume e Kant.1
*** Descartes, por exemplo, articula sua filosofia a partir de uma crítica generalizada sobre todo o conhecimento. E ele faz isso nos moldes céticos, utilizando-se de argumentos sugeridos pela tradição cética. Descartes, no entanto, não é um cético. Ele faz um uso metodológico do ceticismo para fins não céticos. Para Descartes, as dúvidas céticas servem, por um lado, para questionar a base empírica do conhecimento, sustentada pela tradição filosófica, e, por outro lado, para superar o próprio ceticismo, fazendo revelar um fundamento inquestionável para o conhecimento na própria razão humana e, por meio dela, em Deus. Até então a tradição filosófica que sustentava a possibilidade de conhecimento da realidade tinha basicamente duas posturas com relação ao ceticismo: simplesmente o ignorava ou, então, discutia com ele a partir de um sistema de idéias já constituído. Descartes é o primeiro filósofo dita tradição “dogmática” que aceita o desafio cético no ponto de partida. Ele começa por aceitar duvidar de todas as coisas, ele promove mesmo uma dúvida generalizada sobre a capacidade da razão em apreender o real, (Descartes 2, Quarta parte; Descartes 3, meditação I; Descartes 4, Primeira parte, artigos 1-6) para então, numa reviravolta completa, mostrar que, precisamente deste estado generalizado de dúvida, brota a primeira verdade: o certo é que duvido; se duvido, penso; penso, logo existo. (Descartes 2, Quarta parte; Descartes 3, meditação II; Descartes 4, Primeira parte) Sabemos que, a partir daqui, isto é, desta formulação do cogito, Descartes, por meio de uma ordem rigorosa de razões, vai, primeiramente, estabelecer o conhecimento da alma, substância puramente pensante, como o mais o primeiro e mais fácil de todos (Ibid); a partir dali, chegar ao conhecimento de Deus, causa primeira de todas as coisas, o qual fornece uma garantia metafísica à capacidade racional de apreender o real; (Descartes 2, Quarta parte; Descartes 3, meditação III; Descartes 4, Primeira parte) depois progressivamente vai recuperando o conhecimento do mundo exterior de corpos materiais, primeiro, estabelecendo que sua natureza é pura extensão, cujas propriedades essenciais são as propriedades físico-geométricas, (Descartes I, Quarta parte; Descartes 2, meditação V; 1
Trata-se, é claro, de uma pequena amostragem, não sendo a nossa pretensão tratar a questão de forma exaustiva, ao longo de toda a filosofia moderna. Iremos desconsiderar, entre outras, a contribuição crítica da filosofia de Pascal, por acreditarmos que ela se inscreve num projeto de interesse mais propriamente apologético do que epistemológico.
110
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
Descartes 3, Primeira parte) e finalmente, determinado que há uma realidade de corpos materiais que se apresentam aos meus sentidos — embora não se apresentem tal como são em si mesmas. (Descartes 1, Quarta parte; Descartes 2, meditação VI; Descartes 3, Primeira parte) Como podemos notar, em Descartes, a postura crítica é simplesmente um estágio preliminar, não para delinear os limites do conhecimento, mas, ao contrário, para fundamentar a legitimidade de um conhecimento absolutamente certo e seguro sobre a realidade em si mesma. Não podemos deixar de notar, entretanto, que esta aceitação cartesiana do desafio cético tem um certo custo, que deixa certas marcas indeléveis da filosofia crítica ali mesmo no interior de uma filosofia que se pretende demonstrar o conhecimento absolutamente certo e seguro do real. Ao levantar uma dúvida metafísica sobre a própria capacidade racional de apreender a realidade, Descartes só consegue vencê-la apelando para uma certeza metafísica. Ora, uma tal certeza não tem como fundamento a própria realidade da razão, mas a realidade absolutamente perfeita, causa primeira de todas as coisas, isto é, Deus. Quer dizer, uma vez levantadas as mais radicais duvidas céticas contra a capacidade racional de apreender o real, a razão não conseguirá mais garantir essa capacidade racional por si mesma, precisando apelar para uma realidade transcendente a ela, que é a sua causa. E ainda que a razão consiga essa garantia por seus próprios meios, ela não consegue essa garantia em si mesma, como algo intrínseco à sua própria natureza racional, mas ela a obtém a partir uma realidade que se manifesta a ela como não sendo ela própria. Em suma, a filosofia cartesiana deixa entrever que a natureza pensante por si mesma, sem o conhecimento de sua causa, não é capaz de vencer as dúvidas céticas. Basta, portanto, que se coloque em questão a concepção cartesiana de que temos um conhecimento inato de Deus, para que a razão se encontre incapaz de demonstrar por si mesma o acesso à realidade exterior.
*** Vejamos agora o caso de Hume, que como sabemos, é, por assim dizer, o mais cético dos filósofos modernos. Pode-se dizer que, no século XVIII, Hume, diferentemente de Descartes, tem uma real motivação cética, embora, tal como Descartes, não partilhe das conclusões céticas — ao menos das mais extremadas. A motivação cética de Hume está no fato de que ele, quando considera as condições de possibilidade do conhecimento, tem uma consciência mais aguda dos limites da razão para partilhar da mesma confiança que Descartes deposita nela. Hume não vê problema no uso metodológico da dúvida cética, mas ele não aprova do nível de radicalidade que ela atinge em Descartes. Não porque Hume esteja confiante demais na razão, mas, pelo contrário, justamente por julgar que a razão não teria como escapar dos argumentos céticos. Ele não acredita, tal como Descartes, em verdades ou princípios evidentes, inatos à razão, com os quais ela poderia derrubar as dúvidas céticas e alcançar a realidade em si mesma de um modo absolutamente seguro. (Hume 5, Sessão XII, Primeira Parte)
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
111
Com respeito àquelas dúvidas mais universais, de ordem por assim dizer metafísica, sobre a existência e a natureza da realidade em si mesma, Hume acredita que não há como vencer os céticos: a respeito deste tema sempre triunfarão os céticos mais profundos e mais filósofos quando se esforçam por inserir a dúvida mais universal em todos os objetos da investigação humana. Nem Deus, como queria Descartes, pode salvar a realidade. (ibid.) Mas, por isso mesmo, Hume parece sugerir que não devemos dar grande importância a tais questões. Quanto aos argumentos que os céticos fazem contra razão mais propriamente e a todos os raciocínios abstratos que ela opera a partir das idéias de espaço e tempo, Hume admite que é possível estabelecer dúvidas sobre os raciocínios mais evidentes, mas ele julga que o absurdo que resulta disto parece comprometer o próprio ceticismo que levanta tais dúvidas. (Ibid. seção XII, Segunda Parte) No que concerne às dúvidas céticas sobre a certeza moral ou os raciocínios a cerca dos fatos, Hume julga que elas possam ser, segundo seus próprios termos, populares ou filosóficas. As populares, que dizem respeito à fraqueza do entendimento, a contradição entre as opiniões de diversas épocas e lugares, a variação dos julgamentos de acordo com a idade ou o estado de saúde, etc., Hume as considera fracas porque elas são refutadas na prática, pela vida ordinária com nossas ações e ocupações. (Ibid.) As objeções filosóficas que os céticos levantam contra os raciocínios sobre os fatos são, enfim, as únicas dúvidas céticas que Hume atribui propriamente uma importância: elas dizem respeito, para falar de uma maneira bastante geral, à possibilidade de justificação do conhecimento para além dos dados imediatos dos sentidos ou da memória, o que quer dizer, à possibilidade de fazer uma ciência sobre a natureza. Essas objeções, como veremos mais adiante, (ibid.) Hume vai incorporar na sua filosofia, e pretenderá da uma resposta a elas. Em suma, mesmo julgando, contrariamente a Descartes, que o ceticismo extremado não pode ser racionalmente refutado, ou, precisamente por isso, Hume julga que não devemos nos deixar levar pelas dúvidas mais extremadas, sugerindo um ceticismo mais moderado, em parte, que resulta de uma correção que bom senso e a reflexão fazem do próprio ceticismo extremado ou pirrônico. (ibid., Sessão XII, Terceira Parte) O ceticismo moderado de Hume é aquele que limita as investigações filosóficas aos objetos que mais se adaptam à exígua capacidade do entendimento humano, ou seja, à vida diária e aos objetos compreendidos pela prática e pela experiência cotidiana. (Ibid.) Ele começa a sua própria investigação filosófica, portanto, por aquilo que é mais imediato e inegável para os próprios pirrônicos, os dados imediatos da consciência, ou para usar os termos de Hume, as percepções do espírito. Ele as divide em duas classes, segundo grau de vivacidade: as impressões sensíveis e as idéias ou pensamentos que são as imagens das impressões que guardamos na memória ou que imitamos na imaginação. Para Hume, portanto, todas as idéias derivam das impressões sensíveis. Neste sentido, ele se alia à tradição empirista, juntamente com Locke, Hobbes e Bacon, e dirige suas críticas à tradição racionalista reavivada por Descartes. (Ibid., Sessão III) Ele nega que a razão humana tenha um acesso privilegiado a verdades, independentemente da experiência, um conhecimento puro a priori. Mas Hume vai mais longe que os seus predecessores empiristas, utilizando-se de dúvidas céticas para colocar em cheque as operações do entendimento. (Ibid., Sessão IV)
112
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
Com a primeira delas Hume ataca a crença de que no conhecimento da natureza a razão é capaz de inferir os efeitos a partir de suas supostas causas. As causas e os efeitos não são descobertos pela razão, mas pela experiência. Todo efeito é um evento distinto de sua causa. A razão nunca pode encontrar pela investigação e pelo mais minucioso exame o efeito na suposta causa. Porque o efeito é totalmente diferente da causa e, portanto, não pode jamais ser descoberto nela. E mesmo depois que o efeito tenha sido sugerido, a conjunção do efeito com a causa deve parecer igualmente arbitrária, visto que há sempre outros efeitos que para a razão devem parecer igualmente coerentes ou naturais. Em suma, a razão não pode determinar qualquer evento particular ou inferir alguma causa ou efeito sem a ajuda da observação e da experiência. (Ibid., Sessão IV, Primeira Parte) Com isso Hume põe em cheque as pretensões racionalistas de um conhecimento puro a priori da natureza. Descartes, como sabemos, pretendeu deduzir a explicação dos fenômenos naturais a partir de princípios gerais estabelecidos a priori pela razão. É claro que Descartes tinha consciência de que não era possível assim explicar cada fenômeno em particular. Ele sabia que, quando se trava da explicação desta ordem, a experiência e mesmo um certo procedimento indutivo poderiam vir em auxílio da dedução. Ocorre que, apesar de tudo, Descartes julgava ser possível uma física-matemática pura a priori, isto é, ele julgava ser possível unicamente a partir do conhecimento da extensão e de suas propriedades geométricas, bem como do movimento, deduzir uma explicação geral da natureza, com suas leis gerais, aí incluídas todas as leis do movimento. Para Hume, entretanto, não é possível uma física-matemática pura a priori. As leis dos movimentos, bem como todas as leis da natureza só podem ser descobertas por experiência. As matemáticas são apenas instrumentos: os raciocínios matemáticos servem tanto para auxiliar a experiência na descoberta destas leis como para determinar a ação destas leis em casos particulares. (Ibid., Sessão IV, Primeira Parte) Com a segunda dúvida cética, que na verdade é um aprofundamento da questão levantada pela dúvida precedente, Hume vai mostrar que, não apenas as conclusões sobre a relação de causa e efeito não são fornecidas pela razão, mas sim pela experiência, como mesmo todas as conclusões a partir da experiência também não estão fundadas sobre raciocínios ou sobre qualquer processo do entendimento. (Ibid., Sessão IV, Segunda Parte) Quer dizer, o raciocínio não entra nem no ponto de partida para estabelecer uma conexão entre uma causa e um efeito, e nem depois, para produzir uma inferência a partir da conclusão obtida pela experiência. Dado que a razão não consegue determinar uma conexão necessária ou mesmo provável entre a causa e o efeito, de modo que ela própria não conseguiria inferir aquele efeito se ele não fosse estabelecido pela experiência, então também a razão não pode, quando se apresenta uma causa similar, inferir, de modo necessário ou meramente provável, a produção de um efeito similar, o qual, novamente, dada a relação de arbitrariedade entre a causa e o efeito, só pode ser estabelecido por experiência. De um ponto de vista estritamente racional, se não há nenhuma conexão entre certas qualidades sensíveis e determinados poderes ocultos, entre a causa e seu efeito, então não importa quanta vezes essas qualidades apresentem à razão — uma ou um milhão — a razão nunca poderá inferir de tais qualidades tais poderes. E não importa quantas experiências repetidas mostrem a razão que de qualidades sensíveis similares se produzem efeitos similares. A garantia fornecida pela experiência não é transitiva de uma para outra, de modo que se teria um resultado cumulativo: cada experiência só pode garantir a si mesma, não podendo ser
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
113
nem garantida pela experiência passada e nem garantir uma experiência futura. (Ibid., Sessão IV, Segunda Parte) Portanto, assim como não há nenhum raciocínio, necessário ou apenas provável, que, a partir das qualidades sensíveis de determinado objeto, leve-me ao conhecimento de determinado efeito, do mesmo modo, não há nenhum raciocínio, necessário ou meramente provável, que justifique a inferência que qualidades sensíveis similares estarão sempre conjugadas a efeitos similares. E, no entanto, essa inferência é comumente feita. Na verdade, é esse tipo de inferência que nos permite falar para além das impressões e dos dados imediatos da consciência, que nos permite fazer predições sobre os fenômenos, fazer ciência; enfim, é desse tipo de raciocínio que depende quase todo conhecimento humano. Sendo assim, as dúvidas céticas levantadas por Hume põem em causa toda a possibilidade de justificativa racional do conhecimento para além dos dados imediatos da memória e dos sentidos. Ela nos conduz, portanto, a uma crise cética quanto a nossa capacidade de apreensão da verdade. Ocorre que a motivação cética de Hume não o leva a mesma conclusão dos céticos, ao menos não “do ceticismo extremado ou pirronismo” para usar as próprias expressões de Hume. (Ibid. Sessão XII, Terceira Parte) Desta forma, Hume vai encontrar uma solução para as dúvidas céticas que levantou contra a possibilidade do conhecimento da natureza. Tal solução consiste em validar as inferências da razão com um princípio não-racional, a saber, o hábito. Se a repetição da experiência, onde determinadas qualidades sensíveis são sempre acompanhadas de efeitos similares, não possibilita que a razão, por força de seu próprio raciocínio, chegue à conclusão de que qualidades sensíveis semelhantes sempre sejam acompanhadas de efeitos semelhantes, isto é, se a repetição da experiência não possibilita que a razão, por força de seu próprio raciocínio, faça inferências gerais sobre a experiência, que transcendam a experiência particular imediata, todavia, a repetição da experiência pode, no entanto, habituar a razão a esperar que de determinadas qualidades sensíveis sejam sempre acompanhadas de tais efeitos, ou melhor, a força do hábito pode gerar na razão a crença de que qualidades sensíveis semelhantes estarão sempre acompanhadas de efeitos semelhantes. (Ibid. sessão V, Primeira Parte) Aqui Hume, para usar as palavras de Popper, substitui o princípio lógico da indução por um princípio psicológico: a crença gerada pelo hábito. Não podemos esquecer, entretanto, que para Hume, o sentimento da crença é o mais objetivo possível, consistindo numa “concepção mais intensa e mais firme do que aquela que acompanha as puras ficções da imaginação, e que está maneira de conceber nasce de uma conjunção costumeira do objeto com alguma coisa presente à memória e aos sentidos”. (Ibid. sessão IV, Segunda Parte) Como podemos notar a resposta teórica de Hume ao ceticismo é um tanto complexa. Por um lado, ele concorda com o ceticismo de que não há uma justificação propriamente racional para as nossas inferências que transcendam os dados imediatos dos sentidos. Por outro lado, ele não conclui, tal como os céticos, que não é possível uma justificação do nosso conhecimento, de modo que devemos suspender nosso juízo sobre todas as coisas. Devemos suspender nosso juízo sobre a possibilidade de uma justificação estritamente racional das inferências da razão, mas não sobre a possibilidade de uma justificação destas inferências — e uma justificação satisfatória. O hábito é, para Hume, não apenas um princípio explicativo satisfatório para as inferências da razão, como é mesmo superior a um princípio que estivesse fundamentado puramente nas próprias operações 114
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
racionais. Segundo Hume, esse tipo de inferência da razão é “tão essencial para a conservação de todos os seres humanos” que “não poderia ser confiada às falazes deduções da razão humana, que é lenta em suas operações e não se manifesta, em qualquer grau, nos primeiros anos de nossa infância e, no melhor dos casos, no decorrer da vida humana acha-se mais exposta ao erro e ao engano”. (Ibid. sessão IV, Segunda Parte) Quer dizer, a descoberta de que as inferências da razão fundamentam-se num princípio extra-racional não só não abala nossa confiança no conhecimento humano como, pelo contrário, tornao mais confiável. Não podemos deixar de notar, entretanto, que essa confiança no conhecimento não é propriamente uma confiança na razão. Pelo contrário, a razão sai de toda essa operação crítica com suas prerrogativas drasticamente limitadas. Não é mais ela que, sozinha, descobre o efeito pela análise da causa, mas a experiência; e, mesmo sobre o que a experiência oferece, não é a razão, por força de raciocínio, que produz as conclusões mais gerais a partir da experiência. Sobrevive aqui, portanto, uma crítica da razão de inspiração cética: há uma confiança no conhecimento que não é propriamente uma confiança na razão, já que o conhecimento se mostra confiável na medida mesma em que não tem a razão como seu fundamento último. Em Hume, portanto, a tradição crítica é incorporada de forma mais íntima e duradoura do que em Descartes.
*** Resta, enfim, analisar a posição filosófica kantiana. Kant é dentre os filósofos modernos aquele que mais explicitamente assume o projeto crítico (embora isso não signifique necessariamente que tenha sido ele o mais crítico dentre os filósofos modernos). Ele dedica três de suas obras filosóficas, talvez as mais importantes, a uma crítica completa e generalizada da razão. A primeira delas é dedicada inteiramente à razão teórica, onde ele instaura um verdadeiro tribunal para decidir o que ela pode ou não conhecer. Kant chega mesmo denominar de crítica a sua filosofia e, tal como o cético, chama de dogmatismo toda a tradição metafísica até ele. (Kant 6, Prefácio à Segunda Edição e Introdução) A exemplo de Hume, a inspiração cética é bem mais do que simplesmente utilizar o ceticismo como um recurso metodológico. Tal como Hume, e diferentemente de Descartes, Kant concede que não há como afirmar, contra o ceticismo, que conhecemos a realidade em si mesma. Kant chega mesmo a partilhar da distinção cética entre fenômeno e coisa-em-si, e reconhece que a filosofia não pode se pronunciar para além do mundo dos fenômenos. (Ibid., Prefácio à Segunda edição e Livro Segundo Analítica Transcendental, cap. III) Todavia, o “ceticismo” kantiano, por assim dizer, pára por aqui. É que se Kant não transcende o limite do mundo fenomênico, indo para além dele, ele como que o “transcende” por uma ampliação interna do seu território, que vai para aquém dos objetos dados na intuição sensível, e descortina toda a estrutura das condições de possibilidade da experiência. Tal é a região transcendental. Espaço e tempo são apenas as formas puras da intuição sensível, segundo as quais devem conformar- se todos os fenômenos; (Ibid., Estética Transcendental) os fenômenos,
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
115
assim moldados espaço-temporalmente, ficam submetidos às leis do entendimento que regram ou organizam todas as relações espaço-temporais. (Ibid. Analítica Transcendental) Em sentido inverso, podemos dizer: o entendimento é constituído de tal modo que possui, imanente a si, funções lógicas (juízos) que o predispõe a quantificar (universalizar, particularizar, etc.), qualificar (afirmar, negar, etc.), relacionar (categoricamente, hipoteticamente, etc.) e modalizar (assertoricamente, apoditicamente, etc.). Destas quatro tábuas de funções, deriva-se conceitos puros a priori (categorias) de quantidade, qualidade, relação e modalidade; estas categorias, aplicadas às formas a priori de nossa sensibilidade (ao tempo, diretamente, e, por meio dele, ao espaço), constituem-se em regras ou leis do entendimento unicamente sob as quais os fenômenos podem ser objetos do nosso conhecimento. É a faculdade da imaginação, pertencente à sensibilidade, mas submetida ao entendimento, que cabe o papel de mediadora entre os conceitos puros a priori e o múltiplo dado na intuição. Sob as ordens do entendimento, a imaginação vai esquematizar os conceitos puros no tempo, ou seja, aplicá-los ao tempo para a constituição das regras de formar imagens (não se trata, pois, de dar imagens, mas de dar regras unicamente sob as quais as imagens podem se constituir). Assim, o múltiplo dado na intuição só poderá ser figurado (receber uma imagem) segundo as regras estabelecidas pela imaginação de acordo com as determinações categoriais do entendimento. (Ibid., Capítulo Segundo da Analítica Tanscendental, Segunda Seção: “Dedução Transcendental dos conceitos puros do entendimento”, § 24) O entendimento, assim, é o verdadeiro legislador do conhecimento e da própria natureza. É o entendimento que dá unidade a todo o conhecimento, unidade essa que se expressa em seu princípio supremo como “unidade transcendental da apercepção” ou “unidade sintética originária da apercepção”: apercepção originária “por ser aquela autoconsciência que ao produzir a representação “eu penso”, que tem que acompanhar todas as demais e é una e idêntica em toda a consciência, não pode ser jamais acompanhada por nenhuma outra”; (Ibid. § 16) unidade transcendental da autoconsciência, “para designar a possibilidade do conhecimento a priori a partir dela. Com efeito, as múltiplas representações que são dadas numa certa intuição não seriam todas representações minhas se não pertencessem todas a uma autoconsciência …”.2 (Ibid.) Ora, toda esta explicação kantiana dos fenômenos é, para os céticos, falar mais do que os próprios fenômenos permitiram. Neste sentido, Kant representa mesmo um recuo frente à posição mais cética de Hume. De fato, Kant pretende justamente responder, con2 Além da sensibilidade e do entendimento, há ainda um terceiro estágio que corresponde mais propriamente à Razão. Segundo Kant: “Se o entendimento é uma faculdade da unidade dos fenômenos mediante regras, a razão é a faculdade da unidade das regras do entendimento sob princípios. Portanto, ela jamais se refere imediatamente à experiência ou a qualquer objeto, mas ao entendimento, para dar aos seus múltiplos conhecimentos unidade a priori mediante conceitos, a qual pode denominar-se unidade da razão e é de natureza completamente diferente daquela que pode ser produzida pelo entendimento”. (Ibid. Dialética Transcendental: Introdução, II B) No dizer de Deleuze, “o entendimento julga mas a razão raciocina”, e ele explica: “Kant concebe o raciocínio de maneira silogística: dado um conceito do entendimento, a razão procura um meio termo, isto é, outro conceito que, tomado em toda a sua extensão, condicione a atribuição do primeiro conceito a um objeto (assim, homem condiciona a atribuição de moral a Caio). Desse ponto de vista, é pois relativamente aos conceitos do entendimento que a razão exerce o seu gênio próprio: “A Razão chega a um conhecimento por meios de atos do entendimento que constituem uma série de condições”. (A Filosofia Crítica de Kant, p. 26)
116
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
tra a Hume, ao problema da causalidade levantado por este. Kant julga que a razão pode, sim, por seu próprio esforço, elevar-se acima dos dados imediatos da experiência, porque é a própria razão que organiza a experiência; portanto, mesmo quando a razão apreende algo com a experiência, isso só é possível porque a experiência é estruturada pela própria razão.3 (Ibid., livro segunda da Analítica Transcendental, cap. II, terceira seção, “analogias da experiência”) Antes de qualquer coisa, espaço e tempo, na medida em que são apenas as formas puras da intuição sensível, são eles próprios, intuídos a priori, anteriormente a qualquer objeto dado da experiência. Sendo assim, os juízos das matemáticas, e de modo geral, todos os juízos feitos a partir da intuição do espaço e do tempo, são todos a priori e, ao mesmo tempo, sintéticos. Não se trata, portanto, de juízos meramente analíticos, mas, como os chama Kant, sintéticos a priori.4 Além disso, como já dissemos, todos os fenômenos, dados no espaço e no tempo, são regrados pelos conceitos do entendimento. A causalidade é um destes conceitos ou categorias que regra a sucessão temporal: todas as mudanças acontecem segundo a lei da causa e efeito. Pela causalidade percebemos na mudança, não uma seqüência qualquer, mas necessária; ela torna necessária, na percepção do que acontece, a ordem das percepções sucessivas. Compreender um fenômeno é apreendê-lo como conseqüência necessária de outro. Sem causalidade o mundo não passaria de um sonho. A causalidade, portanto, longe de ser, como julgava Hume, um conceito derivado da experiência é a própria condição de possibilidade da experiência. É possível, portanto, contrariamente ao que pensava Hume, uma física ou uma ciência da natureza em parte pura a priori. (Ibid., livro segundo da Analítica Transcendental, Cap. II, Seção Terceira “As analogias da experiência”)
*** Como podemos notar a inspiração cética de Kant fica a meio caminho entre a de Descartes e aquela de Hume. Para Descartes, a utilização das dúvidas céticas serviu apenas como um recurso metodológico para vencer o próprio ceticismo e provar a solidez da razão e da capacidade dela em apreender as verdades. Para Hume, ao contrário, a utilização das dúvidas céticas serviu para mostrar limites da capacidade racional, e reduzir o papel da razão na fundamentação do conhecimento. Para Kant, o ceticismo serviu, tal como para Hume, para reconhecer um certo território inacessível para a razão, a saber, a realidade em si mesma da metafísica clássica (a qual Descartes manteve-se fiel); entretanto, tal como Descartes, isso não abalou a confiança na razão como instância superior de organização e “A experiência é, sem dúvida alguma, o primeiro produto que nosso entendimento obtém (hervorbringt) ao elaborar a matéria bruta das sensações. É precisamente o que faz dela o ensinamento primeiro e, de tal modo inesgotável de novas informações, no seu desenrolar, que, ao longo de todos os tempos, as gerações futuras jamais irão carecer de novos conhecimentos para adquirir neste terreno”. (CRP, Introdução, 1.a Edição, grifo nosso) 4 Como espaço e tempo não são meros conceitos, mas são antes de tudo intuições a priori que subjazem a todos os conceitos, os juízos feitos a partir deles não meros juízos analíticos, nos quais, sem sair do conceito, apenas elucidamos o predicado já contido no sujeito, mas são juízos sintéticos, onde podemos sair do conceito dado e encontrar aquilo que pode ser descoberto a priori na intuição que lhe corresponde, ligando-o sinteticamente ao conceito. 3
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
117
inteligibilidade da experiência. Na verdade, Kant, tal como Descartes e contrariamente a Hume, moveu-se com o propósito mesmo de salvar essas prerrogativas da razão. Nenhum deles, é claro, rendeu-se propriamente ao ceticismo; todos, porém, incorporaram, e maior ou menor, grau a tradição crítica da qual o ceticismo é uma das primeiras e mais radicais expressões. Essa tradição revela-se no projeto comum, ainda que com resultados diferentes, de um exame prévio da razão e de uma avaliação das condições de possibilidade do conhecimento5
*** A partir da filosofia moderna, a filosofia crítica parece ainda mais ter assumido novas e diversas expressões, influenciando, em maior ou menor grau, quase todas as expressões filosóficas contemporâneas. Em áreas como a filosofia da ciência, a filosofia analítica, a filosofia da lógica, filosofia da linguagem, bem como em algumas tendências do empirismo contemporâneo, esta tradição crítica é explicita e mesmo predominante. O mais curioso, talvez, é notar as influências da tradição crítica mesmo naquelas expressões filosóficas contemporâneas que, até certo ponto, parecem ser herdeiras da tradição metafísica precisamente visada pela filosofia crítica. É assim que, a partir filosofia kantiana, mesmo quando nossos filósofos arriscam falar do absoluto, do Mundo como Vontade e Representação, como Vontade de Potência, ou próprio Ser na sua original indeterminação, quase todos evitam falar em nome da razão clássica; pelo contrário, muitos se converteram em fervorosos críticos, quase mais que os próprios céticos, dos limites e ilusões desta racionalidade que faz dos valores humanos verdades eternas, que duplica os mundos, que substancializa o devir; quase todos estão convictos dos limites de nosso entendimento, da restrição de seus objetos e da fragilidade de seus raciocínios. É por isso que se começou a falar, primeiramente, em nome de uma razão essencialmente prática; daí para uma vontade antes de toda a razão; depois, contra a própria razão, em nome da vida; e, por fim, em nome do Ser que se desvela a nós. É por isso que se começou a substituir a lógica clássica pela dialética, a descrição pela narração, a explicação pela interpretação, as sentenças pelos aforismas etc. Soa como se estes filósofos contemporâneos concordassem plenamente com a filosofia crítica: “Sim, a razão não é mesmo capaz de apreender a realidade, a verdade, o ser. Vocês têm toda razão …podem ficar com ela: nos prosseguiremos sozinhos.” Eis aqui uma conseqüência não prevista da avaliação crítica dos limites do conhecimento.
5
Se Descartes manteve inabalável sua confiança na razão, ele, ao menos, reconheceu a justeza e mesmo a necessidade de se fazer uma avaliação prévia das condições de possibilidade do conhecimento, antes de se por a falar sobre a realidade; e, se ele pretendeu mostrar que a razão é capaz de vencer as dúvidas céticas, ele mostrou, ou mesmo tempo, que ela não consegue fazer isso apenas com seus próprios recursos, mas precisa apelar para realidade Deus; e ainda que ele tenha pretendido que tal apelo seja de ordem estritamente racional, ele foi forçado a reconhecer que ele não é atendido na estrita esfera da razão humana. Tanto que Descartes mesmo reconhece que o ateu, por mais hábil matemático que possa ser, nunca consegue vencer o ceticismo. Sem Deus, a razão humana, por suas próprias forças, não é capaz nem mesmo de provar a realidade exterior de corpos materiais. Isso, é claro, revela que a crítica cartesiana da razão trouxe algumas conseqüências para o esforço de compreensão dos limites da razão. Tais são os vestígios da tradição crítica em Descartes.
118
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
Referências bibliográficas 1. Brochard, Victor. Les Sceptics Grecs, Paris: 1887, p. 35-45. 2. Descartes, R. Discours de la Méthode. In: Oeuvres de Descartes, vol VI, Adam et Tannery, 11 vols. Paris: Vrin, 1996. 3.______. Méditations Métaphysiques. In: Oeuvres de Descartes, vol IX, Adam et Tannery, 11 vols. Paris: Vrin, 1996. 4.______. Principes. In: Oeuvres de Descartes, vol IX, Adam et Tannery, 11 vols. Paris: Vrin, 1996. 5. Hume, D. Enquiries Concerning Human Understanding and Conerning the Principles of Morals. SElby-Bigge, L. A. (Ed.), 2. Ed. Oxford, 1902. 6. Kant, I. Critique de la Raison Pure. Traduction française avec notes par A. Tremesaygues et B. Pacaud. Paris: PUF, 1963. 7. Pereira, Oswaldo P.. O Conflito das Filosofias. In Vida comum e Ceticismo. São Paulo: Editora Brasiliense, 2.a edição, 1994. p. 9. 8. Popkins, Richard, The History of Sceptcism from Erasmus to Spinoza. PUF: Paris 1979.
* Enéias Forlin é Professor de Filosofia da Unicamp.
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
119
EMMANUEL LEVINAS E A INTELIGIBILIDADE DA EXPERIENCIAÇÃO
MARCELO LEANDRO DOS SANTOS*
A palavra é a carne da experiência Adélia Prado
H
á algum tempo ouvi, de uma pessoa que amei, a seguinte frase: “Uma palavra é um tiro.” Para mim, essa foi uma sentença violenta. A violência se estabeleceu ao ser proferida a frase, e já isso denunciava que o próprio falar representava um tiro. Na ocasião, não pude escapar de tentativas frustradas de depuração de cada nova palavra dessa pessoa. Instaurou-se, a partir de então, para mim, uma constante ameaça de cada nova frase. Confesso, que vivi sob certo terror naquela situação. Em pouco tempo, não consegui mais conversar de modo tranqüilo com essa pessoa, uma vez que a sentença por ela colocada também me fez acreditar que a minha fala tivesse o poder de ferir. Na vida, inevitavelmente, feri – e ainda firo – muitas pessoas, mas o cuidado com essa era maior. Muito de imediato, o silêncio se fez bastante presente, mascarado em cacofonias e monossilabismos do nosso relacionamento. A possibilidade de diálogo entre nós passou, então, a depender de estratagemas. Havia desconfiança em pequenos lampejos de conversações; e logo, nada mais houve. Mais tarde interpretei que aquele silêncio não constituía por si só uma proposta de paz. Mas interpretei na solidão. E essa talvez tenha sido uma derrota parcial. É incrível, mas hoje aquela mesma frase possivelmente não me impressionaria com tanta força. Disponho do aprendizado de que outras frases podem transbordá-la. Uma dessas poderia ser sugerida como: “O ouvido não tem filtros”. Hoje, posso dizer que aque-
la frase foi, por mim, compreendida. Hoje, ao menos ela não seria, para mim, tão temível. Compreendê-la me fez também enfraquecê-la. O que sinto é que me foi revelada a obviedade dessa frase. Contudo, essa obviedade não me permite dizer, entre outras coisas, que domino a direção da palavra em sua condição de tiro. Qualquer palavra continuará com sua possibilidade de me ameaçar, mesmo que seja apenas com o eco de seu longínquo estampido. A palavra tem uma potência indomável e rebelde. Dessa maneira, o que falo também pode atingir alguém de forma grave. Mas esse alguém pode ser atingido por mero acaso, sem carga retórica de minha parte, ou seja, sem minha intencionalidade. Acertos e equívocos são vizinhos, e residem na periferia da minha fala, da palavra, enfim. Existo, e o meu existir exige o convívio não apenas com a ameaça da palavra-tiro – de seu desacerto com uma possibilidade permanente de paz –, mas na tentativa que é minha de discernimento do que representa esse tiro. Sinto-me, então, na tarefa de compreender a realidade, a concretude e a corporalidade dessa ameaça. Estou na tentativa de ilustrar o que Levinas propõe ao dimensionar o existir como um plano de chamamento à articulação de todo universo que não pode ser considerado apenas como contingência ingênua. “Toda incompreensão não é senão um modo deficiente de compreensão. Sendo assim, a análise da existência e do que se chama sua ecceidade (Da) nada mais é que a descrição da essência da verdade, da condição da própria inteligibilidade do ser.”1 Enfim, tornou-se inteligível, para mim, uma dinâmica que me permite abordar com maior poder2 aquela primeira frase, pois agora aceito que falar é também disparar. Mas, ao mesmo tempo, esse meu aceitar não se deu de forma amistosa e indiferente. Foi necessário haver atrito. Foi necessário experienciar, pois não me bastava olhar para dentro de um acontecimento, mas, ser por ele afetado. Foi necessário, portanto, um ouvido incapaz de ignorar. Um ouvido que não se desvia. Mas o imprescindível é que existia um alguém dinamizando e, ao mesmo tempo, sendo dinamizado por todas essas facticidades, que irromperam de contingências e as abandonaram instantaneamente em favor de necessidades. Aqui estou.3 Posso, arbitrariamente, tapar os olhos, fechar a boca, usar sapatos e luvas; mas há clamores que deixarão resíduos. Atritos e animosidades podem também abandonar a figuração e, por vezes, emplacarem como protagonistas. Aí está esse peso do que é poluente na situação experiencial. Considerando o percurso, como potencializado pela experienciação, perde-se a possibilidade de planejamento. Nessa corrente, Levinas argumenta que “quando filosofia e vida se confundem, não se sabe mais se alguém se debruça sobre a filosofia, porque ela é vida, ou se preza a vida, porque ela é filosofia.”4
1 “A ontologia é fundamental?”, p. 25. (doravante OF) 2 Um poder mais amplo, é certo, mas de forma alguma, total e liquidante. 3 Com a falência de sistemáticas que almejavam garantir um domínio da realidade humana, a contemporaneidade se faz momento único na história do pensamento humano. Exige-se, na contemporaneidade, uma presença vivente e dramaticamente singular para que o pensar se dê. Como observa Ricardo Timm de SOUZA: “Definitivamente, na contemporaneidade, é alguém que pensa, alguém não genérico mas específico, ocupando com seu pensamento um papel grave e não intercambiável, com seu intelecto específico em suas circunstâncias e condições únicas e totalmente particulares, circunstâncias e condições estas que são, exatamente, as deste tempo e espaço particulares nos quais o ser é pensado e que definem não dimensões neutras, mas posições muito bem definidas de origem, absolutamente inalienáveis.” (Sentido e alteridade, Porto Alegre: EDIPUCRS, 2000, p. 71) 4 OF, p. 23.
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
121
A tentativa da filosofia moderna de dominar as circunstâncias existenciais através do pensamento perde, então, a segurança de seu campo de ação. Com a ontologia contemporânea aparece um novo “jogo” de realidades. “Compreender o instrumento não consiste em vê-lo, mas em saber manejá-lo; compreender nossa situação no real não é defini-la, mas encontrar-se numa disposição afetiva; compreender o ser é existir.”5 A dificuldade maior consiste em aceitar que qualquer um de nós é, de saída, incompetente para esse jogo de realidades, mas, ao mesmo tempo, não pode ser considerado infértil, enquanto lançado à encenação de improvisos.6 Aprendizados não apenas envolvem a compreensão do ser, como também, são capazes de permitir tal compreensão. No entanto, essa incompetência para o jogo de realidades se caracteriza pelo fato de um aprendizado vivido ser incapaz de determinar uma situação futura. Convivemos com fracassos. Aspiramos a possibilidades de fracassos. Levinas vai mais longe, ampliando a órbita do convívio de nossos fracassos a um universo de “acontecências”.7 Em um primeiro momento, essas acontecências parecem provir de uma condição de orfandade, porém, constituemse através de nossa ecceidade: A comédia começa com o mais simples de nossos gestos. Todos eles comportam uma inevitável falta de habilidade. Ao estender a mão para aproximar uma cadeira, dobrei a manga do meu casaco, risquei o parquê, deixei cair a cinza do meu cigarro. Ao fazer aquilo que queria fazer, fiz mil coisas que não queria. O ato não foi puro, deixei vestígios. Ao apagar esses vestígios, deixei outros.8
O derramamento de fatos mencionado no exemplo de Levinas é fruto de nossa responsabilidade. Estamos aí, afinal. O que desencadeamos é também dramático, na medida em que “somos responsáveis para além de nossas intenções.”9 É de forma responsável que não devo assustar-me com o fato de uma palavra ser um tiro. Da mesma maneira, devo sustentar a inteligibilidade que me habilita a conviver com a ameaça permanente da palavra. Também esta disposição à clareza é constituída através de um ângulo singular do real. Uma experienciação particular deverá conviver com uma infinidade de outras disposições à própria experienciação. No entanto, todo esse foco de inteligibilidade não se perde em um comportamento completamente desregrado, como um completo entregar-se ao caos. Segundo Levinas, esta possibilidade é salvaguardada pela filosofia de Heidegger, pois mesmo ao ultrapassar nossas intenções – denúncia do quanto somos irrisórios – não nos desligamos do mundo: “O fato de a consciência da realidade não coincidir com nossa habitação no mundo – eis o que na filosofia de Heidegger produziu forte impressão no mundo literário.”10 Somos finitos em nossa singularidade, porém, o que podemos criar e desconstituir através de nossa interferência inteligível – 5 OF, p. 23. 6 Uma analogia artística produtiva aqui poderia ser sugerida a partir da proposta do Teatro do Oprimido, inserido no Brasil por Augusto Boal, onde os expectadores são invocados, de forma totalmente aleatória, a contracenar na peça. 7 Levinas não utiliza o termo “acontecência” no seu texto. Optei por utilizar este termo, na intenção de caracterizar as facticidades da existência. 8 OF, p. 23-24. 9 OF, p. 24. 10 OF, p. 24.
122
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
nosso interpelar – está lançado ao abissal, está solto no infinito, tendo por condenação a impossibilidade de consolo de uma moldura lógica. Contudo, é dentro dessa condenação que a ética contemporânea reivindica seu acontecer. É nesse vácuo deixado pela corrosão das armaduras conceituais, que efetuamos nossas escolhas como condenação, mais propriamente no sentido da filosofia de Sartre e Camus. Essa nova abordagem da filosofia a partir da condição de experienciação, parece ser a derrocada da máxima cartesiana. “Penso, logo existo” está confinado. De fato já bastaria: “Existo”. É nesse sentido que, para Heidegger, o termo ‘filosofia da vida’ constitui já uma tautologia. Ou seja: “A que outro assunto a filosofia deveria se empenhar, a não ser à vida?” É também dessa maneira que o existir é reconhecido em sua condição de fundamento por Levinas: O primado da ontologia entre as disciplinas do conhecimento não repousa sobre uma das mais luminosas evidências? Todo conhecimento das relações que unem ou opõem os seres uns aos outros não implica já a compreensão do fato de que estes seres e relações existem? Articular a significação deste fato – retomar o problema da ontologia – implicitamente resolvido por cada um, mesmo que sob a forma de esquecimento – é, ao que parece, edificar um saber fundamental, sem o qual todo conhecimento filosófico, científico ou vulgar permanece ingênuo.11
A importância da ontologia é justamente apontar para um ponto esquecido na história do pensamento humano. A dimensão de atrito pela qual aquele alguém pensa, configura tanto a condenação a que estamos lançados, quanto nossa possível recusa. Porém, o atrito tem sua familiaridade em um elemento histórico que obrigou uma nova tomada de foco do pensamento no início do século XX, sem dúvida, a realização das Guerras mundiais. Aliás, as Guerras significaram a dimensão totalizante do atrito. Seria impossível recuar frente ao problema de nossa existencialidade contemporânea após as Guerras. Com o pós-guerra morre a recusa pelo existir como condição “conceitual”. A deficiência dos antigos conceitos perde sua garantia de rigidez na estruturação do pensar. Souza identifica esse momento: Na virada do século e nos anos que seguem imediatamente até a segunda Guerra (e, naturalmente, ainda para além desse tempo), nenhum conceito permanece igual, ou melhor: nenhum conteúdo de conceito se atém a formalidade de sua expressão consagrada. Assim, termos e noções como “ser”, “essência”, “tempo”, “lógica”, “linguagem”, “metafísica”, “moral”, “existência”, “religião”, etc. são obrigados a se confrontar consigo mesmos, no âmbito das grandes metamorfoses culturais; e o delírio da guerra torna essa exigência simplesmente mais urgente e aguda. É no contexto da urgência desta releitura que muitas das obras principais do século se gestam, como as de Russel, Bloch, Wittgenstein, Sartre, Jaspers, Husserl, Camus, Heidegger, Rosenzweig, Ortega y Gasset, Benjamin, Adorno – para citar apenas alguns contados exemplos já ativos na primeira metade do século. Nenhum desses pensadores 11 OF, p. 21.
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
123
de primeiríssima relevância se utiliza, por exemplo, do termo “ser”, ou “existência” – ou mesmo, “tempo” – desde a mesma perspectiva de seus colegas de um ou dois séculos atrás (o que não seria totalmente digno de admiração, caso se admita ser a filosofia passível de algum tipo de “evolução” segundo padrões de outras produções do espírito humano); e nem utilizam, esses filósofos, estes termos de forma “unívoca” entre eles, o que é, sim, mais admirável do que parece à primeira vista – admirável porque exemplar. Pois a filosofia contemporânea se caracteriza exatamente por isso; o desabrochar de muitos ramos fecundos desde troncos geralmente pouco reconhecíveis na agitação dos tempos, porém persistentes e desvendáveis pelo labor da crítica. É nesse contexto que toma sentido o artigo fundamental de Levinas “A ontologia é fundamental?”, escrito exatamente entre as duas metades do [século XX].12
Fala-se de uma filosofia que pode contar com esse tipo de “evolução”, que difere totalmente da corrente positivista. Estão sendo trazidas contextualizações da gravidade, do trauma propriamente. Como acrescenta Souza sobre o texto “A ontologia é fundamental?” de Levinas: Trata-se de um texto chave, tecido desde o momento histórico preciso em que a ontologia e a filosofia da existência, temperadas pelo trauma recente da grande guerra e pelo que isto implicitamente significou para o pensamento, retomam suas trilhas de compreensão do mundo e disseminam largamente sua linguagem.13
O que coloca a ontologia na condição de importância é a “nova” exigência de embarcarmos no questionamento somente a partir da precondição da existencialidade. Uma vez que a filosofia não pode mais contar com a depuração da realidade através de conceitos, o ato de questionar assume também um “novo” peso. Não nos permitimos elucubrações sobre uma situação traumática, que passa a “sustentar” o pensamento, mas, ao mesmo tempo, não podemos contar com a ingenuidade de um tempo que não se expõe ao trauma. Nesse sentido, Levinas entende que “questionar esta evidência fundamental é um empreendimento temerário.”14 Novamente, o próprio perigo do ferimento recoloca aquele alguém que pensa na roda de fogo do existir. Por isso é que a própria recusa configura já uma postura de ação, na medida em que eticamente ela não é neutra. O traumático agora se apresenta como espécie de motivador de uma tentativa de inteligibilidade, nunca de uma solução completa, mas de uma possibilidade de convivência o mais saudável possível, para o que, a partir de então, deverá também ser aceito como partícipe da realidade. A condição do pós-traumático, do pós-guerra, não consegue anular seu originário. Eis um sentido para o compreender. De maneira análoga, a condição de “evolução” assume dimensões concretas. Concretas, aqui, não porque “eu” passo a aglutinar novas “ferramentas psíquicas” para uma suportação da existência, mas – e a isto se deve atentar – a “minha” existência se qualifica na resistência ao fato de que 12 Sentido e alteridade, p. 67-68. 13 Sentido e alteridade, p. 68. 14 OF, p. 21.
124
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
esta ou aquela teoria filosófica não sejam aceitas na qualidade de manual de instruções. É a inteligibilidade do pós-traumático que proporciona a evolução. Contudo, meu corpo pensante exorciza algumas dores, mas nunca a possibilidade de não mais sentir dor. Ele não quer se anestesiar, porque vive. Assim segue o argumento de Levinas: O homem inteiro é ontologia. Sua obra científica, sua vida afetiva, a satisfação de suas necessidades e seu trabalho, sua vida social e sua morte articulam, com um rigor que reserva a cada um destes momentos uma função determinada, a compreensão do ser ou a verdade. Nossa civilização inteira decorre desta compreensão – mesmo que esta seja esquecimento do ser. Não é porque há o homem que há verdade. É porque o ser em geral se encontra inseparável de sua possibilidade de abertura – porque há verdade – ou, se se quiser, porque o ser é inteligível que existe humanidade.15
O que Levinas percebe como inteligibilidade do ser é, portanto, a própria condição de um comportamento humano contemporâneo, uma vez que “a compreensão do ser não supõe apenas uma atitude teorética, mas todo o comportamento humano.”16 Esse comportamento humano deve passar a perceber as dinâmicas destrutivas – que, no sentido nietzschiano, ameaçam a vida – na constituição de uma lucidez autêntica. Como visto, tal autenticidade não se dá de forma gratuita, mas, justamente, na sua própria exposição ao existir qualificado. A própria filosofia de Nietzsche, propõe a errância como condição existencial, na figura do andarilho. Também Heidegger assume esta prática: “O caminho está sempre em perigo de converter-se em um caminho errado. Trilhar estes caminhos requer prática na marcha. A prática requer ofício. Permaneça no caminho em penúria e, sem-sair-docaminho, mas na errância, aprenda o ofício do pensar.”17 A errância merece ser percebida, portanto, em seus dois sentidos: errar (vaguear) e errar (equivocar-se). Essa é uma condição contemporânea e a filosofia está acontecendo dentro dessa condição. Ao mesmo tempo, a qualificação do existir, que envolve também o aprendizado do pensar, suspende a ameaça de a filosofia que considera a existencialidade ser acusada de relativista. A filosofia levinasiana está “situada” entre as que se ocupam com a qualificação do existir (pensar). No entanto, ela abandona a condição de neutralidade no que se refere ao transbordamento da própria inteligibilidade do que significa agora existir, pensar, viver. Pode-se dizer que o incremento levinasiano é a relação com outrem. ( …) como a relação com o ente poderá ser, de início, outra coisa que sua compreensão – o fato de livremente deixá-lo ser enquanto ente? Salvo por outrem. Nossa relação com ele consiste certamente em querer compreendê-lo, mas esta relação excede a compreensão. Não só porque o conhecimento de outrem exige, além da curiosidade, também simpatia ou amor, maneiras de ser distintas
15 OF, p. 22-23. 16 OF, p. 22. 17 Martin HEIDEGGER, “Carta a um jovem estudante”, Conferencias y artículos, disponível no site personales.ciudad.com.ar/M_Heidegger
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
125
da contemplação impassível. Mas também porque, na nossa relação com outrem, este não nos afeta a partir de um conceito. Ele é ente e conta como tal.18
Outrem – esse “incremento”19 na filosofia contemporânea – não é um simples apelo, mas uma proposta de ultrapassagem da possibilidade de um enredamento conceitual. Isso se dá porque “outrem não é primeiro objeto de compreensão e, depois, interlocutor”.20 Outrem já está também “envolvido”. Simplesmente “deixá-lo ser” torna-se uma proposta impossível, pois outrem não é apenas uma etapa de minha inteligibilidade. Trata-se justamente do contrário. É em função de outrem que existe inteligibilidade, e a palavra mantém sua “periculosidade” – seja qual for sua dimensão – somente dentro dessa inteligibilidade. É assim que “a palavra delineia uma relação original”,21 pois ela não se propõe à mera tolerância de um deixar-ser. Ela pode se propor à guerra, ao conflito, em sua condição bélica de tiro, como também pode se propor à paz, não na condição de acordo, mas como negatividade22 da condição de guerra. A negatividade da condição de guerra (atrito) representa um contexto maior no qual Levinas procura situar a relação com outrem, isto é, a alteridade como tema filosófico. É nesse sentido que, “trata-se de perceber a função da linguagem não como subordinada à consciência que se toma da presença de outrem ou de sua vizinhança ou da comunidade com ele, mas como condição desta “tomada de consciência””.23 A partir desta tomada de consciência, a paz não é mais apenas uma proposta, pois evolui à condição de inteligibilidade possível. E enquanto inteligível, ela vive, mesmo na condição de ausência, pois, uma vez quebrado o silêncio, haverá o ouvido (que não tem filtros). Nisso se constitui o chamamento, a invocação. “Não penso somente que ela [a pessoa com a qual estou em relação] é, dirijo-lhe a palavra. Ela é meu associado no seio da relação que só devia torná-la presente. Eu lhe falei, isto é, negligenciei o ser universal que ela encarna, para me ater ao ente particular que ela é.”24 Invocar, chamar, proferir, lançar a voz são, dentre outros, disparos inevitáveis no encontro humano. O encontro humano não é o mesmo que encontrar com o vento. A inteligibilidade não qualifica o vento como outrem unicamente porque ele não me responde dentro de uma “tomada de consciência”. Assim, a dimensão da alteridade em Levinas concentra-se no antropocentrismo, por prescindir a vizinhança da linguagem em sua própria constituição. Nesse sentido, O homem é o único ser que não posso encontrar sem lhe exprimir este encontro mesmo. O Encontro distingue-se do conhecimento precisamente por isso. Há em toda atitude referente ao humano uma saudação – até quando há recusa de saudar. A percepção não se projeta aqui em direção ao horizon18 OF, p. 26. 19 Sugere-se que este termo seja entendido a partir da proposta de Levinas: “( …) por que não alargar a noção da compreensão segundo o procedimento que se tornou familiar pela fenomenologia?” (OF, p. 27) Aliás, na seqüência desta passagem, Levinas passa a utilizar o termo “alargamento”. 20 OF, p. 27. 21 OF, p. 27. 22 Essa negatividade merece ser entendida como espécie de “fundo falso” da condição de guerra. 23 OF, p. 27. 24 OF, p. 28.
126
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
te – campo de minha liberdade, de meu poder, de minha propriedade – para apreender, sobre este fundo familiar, o indivíduo.25
A linguagem pode abarcar situações de guerra e paz, mas não consegue aniquilar o encontro. Não existe desencontro definitivo, somente a possibilidade, mesmo que ínfima, sempre aberta de novamente encontrar.26 Contra este signo, na relação com outrem, apenas o homicídio pode anular a possibilidade aberta do encontro. “Outrem é o único ente cuja negação não pode anunciar-se senão como total: um homicídio. Outrem é o único ser que posso querer matar”.27 Assim, o homicídio desconstitui28 a relação com outrem, pois “no preciso momento em que meu poder de matar se realiza, o outro se me escapou.”29 Matar é, não apenas objetivar o outro, mas livrar-se da resistência que ele me impõe. Tal tentativa de “liberdade” pode se dar através da finalização da tortura de conviver com a ameaça da palavra-tiro, por exemplo. Assassinar alguém – no caso de o assassino acreditar estar matando por amor – é sintoma de que a alteridade se tornou insuportável, e sua inteligibilidade não pôde ser alcançada. Não há justificativa para o assassinato. Talvez eu chegasse a essa convicção sem livro algum. Entretanto, é possível que eu suporte ouvir o que leva algumas pessoas a dizerem que mataram por amor.
Bibliografia LEVINAS, Emmanuel. A ontologia é fundamental? In: Entre nós: ensaios sobre a alteridade. Petrópolis: Vozes, 1997, p. 21-33. SOUZA, Ricardo Timm de. Sentido e alteridade: dez ensaios sobre o pensamento de Emmanuel Levinas. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2000.
25 OF, p. 28. 26 Assim, a morte, no sentido heideggeriano, pode figurar como única manifestação completamente autêntica do universo humano. Com isso, em uma leitura levinasiana, pode-se dizer que a morte sustenta seu caráter único de autenticidade, pelo fato de representar o definitivo cerrar de portas para o encontro. Ao assumir a condição de ser-para-a-morte, assume-se a realidade de que a alteridade vai sempre produzir suas formas de resistências enquanto a morte não se concretiza. Outrem não cai no esquecimento de forma voluntária. Ele precisa ser empurrado, por minha parte, ao esquecimento. Negligencio-o com meu tapar ou desviar de olhos, por exemplo. Mas esse olhar omisso não consegue ser mais forte que o encontro, pois para efetuar seu desencontro provisório, sofre antes a ameaça da potencialidade do encontro. Essa ameaça é circular, e por isso se faz constantemente presente. A quebra definitiva do circuito depende, necessariamente, de um não-mais-existir. 27 OF, p. 31. 28 Na medida em que não mais tem o poder de constituir. 29 OF, p. 31. * Marcelo Leandro dos Santos é Mestre em Filosofia – PUCRS.
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
127
ROBERTO MANGE E A RACIONALIZAÇÃO DO TRABALHO a participação de um engenheiro suíço na constituição do serviço nacional de aprendizagem industrial1 DANIELA DE CAMPOS*
Introdução1 Em janeiro de 1942 o presidente Getúlio Vargas assinava o decreto número 4.048 que criava o Serviço Nacional de Aprendizagem dos Industriários2 . Esse ato foi a culminância de esforços realizados por setores do governo no sentido de implantar um sistema de aprendizagem em todo o território nacional que desse conta de formar a mão-de-obra para a indústria, a qual se encontrava em processo de expansão. Entretanto, isso não ocorreu somente a partir da “boa vontade” do Estado. Obviamente que trabalhadores pressionavam também o governo nesse sentido. Porém em se tratando do SENAI, órgão desde o início ligado à Confederação Nacional da Indústria (CNI) os industriais tiveram um papel destacado na sua criação, assim como o engenhei-
1
Versão modificada da dissertação de mestrado intitulada “O Ensino Profissional no Brasil e a Criação do SENAI”, apresentada ao Programa de Pós-Graduação em História da Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS. 2 Meses mais tarde a instituição receberia o nome que possui até os dias atuais: Sistema Nacional de Aprendizagem Industrial.
ro Roberto Mange, suíço radicado em São Paulo e com estreita ligação com o empresariado desse estado. O SENAI fora criado num contexto de expansão industrial e de aumento demográfico do operariado urbano, quando o Brasil passava por transformações de ordem política e econômica. Ainda um país essencialmente agrário, pois a maioria da população vivia na zona rural, o país conhecia um gradativo deslocamento dessa população para áreas urbanas. Esses dois processos, o crescimento industrial e a expansão de áreas urbanas, eram complementares e fruto da experiência de décadas anteriores, pois a indústria desenvolvia-se no Brasil desde o final do século XIX. Paralelamente ao crescimento da indústria, aumentava também o número de pessoas empregadas nesse setor da economia. Assim como ocorrera em outros países que passaram de uma economia agrária para uma economia de cunho industrial, nos primeiros tempos as condições do operariado urbano eram extremamente precárias, trabalhando muitas horas nos estabelecimentos fabris, percebendo baixos salários, sem direitos sociais e vivendo em situação de extrema precariedade. Os baixos níveis de escolaridade desse segmento também eram uma realidade. Mesmo após a promulgação de leis sociais, as quais entende-se não apenas como fruto da boa vontade do mandatário, mas também das lutas dos trabalhadores nos anos anteriores, essa realidade não se transformou de forma radical. A necessidade de melhorar o “nível” de formação do operariado brasileiro era premente, pois não era possível para o país aprimorar a sua indústria sem que isso passasse também pela qualificação de seus trabalhadores. Além disso, havia a necessidade de “nacionalizar” a mão-de-obra qualificada, geralmente composta de trabalhadores estrangeiros ou seus descendentes diretos. Nas décadas de 1920 e 30 circulavam no Brasil idéias acerca da racionalização do processo produtivo, idéias que já estavam em curso em países da Europa e nos Estados Unidos, onde a experiência industrial era anterior à brasileira. Dessa forma, conceitos provenientes do taylorismo, do fordismo e da psicologia aplicada foram difundidos no Brasil, especialmente através de técnicos vindos do exterior. Certamente, essas concepções não chegaram até nós em sua forma “pura”, mas sim foram devidamente adaptadas às características de nosso meio industrial. A racionalização da produção não estava ligada somente a técnicas e aos equipamentos mais modernos que deveriam ser implantados no processo produtivo, dizia respeito também ao operariado. Ou seja, era preciso “adaptar” os trabalhadores à nova organização do trabalho. Para muitos isso se daria através de uma formação que utilizasse métodos racionais, semelhantes aos utilizados no sistema da fábrica. Segundo Roberto Mange, um operário formado através de métodos racionais e que tenha utilizado essa aprendizagem com “o máximo de proveito”, poderia representar para a indústria nacional “um elemento de valor positivo: é uma roda dentada que se adapta a qualquer sistema de engrenagem de formação idêntica”.3 Posto isso, o objetivo desse artigo é verificar a importância de Roberto Mange na concepção do maior sistema de ensino profissional do País.
3
MANGE, Roberto. Escolas Profissionais Mecânicas. In: Revista Polytechnica, São Paulo, out/nov, 1924, p. 12. Grifo nosso.
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
129
Roberto Mange e o ensino profissional brasileiro A história da criação do SENAI e da expansão do ensino profissional no Brasil passa pela história pessoal de Roberto Mange, um engenheiro suíço nascido no final do século XIX, que juntamente com outros profissionais foi convidado a vir ao Brasil para atuar na Escola Politécnica de São Paulo. Tratar da atuação de Roberto Mange após sua vinda para o Brasil justifica-se devido a sua importância para o ensino profissional no país, com a introdução de novas metodologias por ele propugnadas, oriundas de sua vivência na Europa, onde já existia considerável experiência na formação de técnicos para a indústria e na constante preocupação com a modernização e crescimento desse tipo de ensino. Segundo Mange, o ensino técnico-profissional era um fator indispensável para a modernização e crescimento de uma indústria nacional. Justifica-se igualmente pelo fato de que Mange foi um representante típico de uma determinada época, herdeiro de uma determinada tradição – a moderna – e que esteve receptivo às novas idéias e às novas concepções de “como fazer” em seu campo de trabalho.4 Esse engenheiro não pode ser descrito como uma pessoa comum, e encaramos o seu pensamento e o seu modo de agir como o de um representante de um determinado segmento da sociedade que nos anos 1920 e 1930, defendia idéias sobre racionalização e padronização de processos produtivos. Essas idéias eram sustentadas por grupos de intelectuais, que podiam ser tecnocratas, engenheiros ou industriais, com destaque para estes últimos que vieram a dar forma ao que atualmente se constituiu no maior sistema de aprendizagem industrial do país. Trata-se de encarar o “indivíduo como uma via de acesso para o exame de questões mais amplas”,5 dentro dos limites a que esse texto se propõe. Roberto Mange estudou engenharia mecânica na Escola Politécnica de Zurique, diplomando-se em 1910, tendo, dois anos depois, ido trabalhar na Bélgica. Em sua infância, Mange morou em Portugal, onde aprendeu o português, o que facilitou sobremaneira sua adaptação no Brasil. Já no ano de 1913, com 28 anos, foi indicado, juntamente com outro ex-aluno da Politécnica de Zurique, para transferir-se para o Brasil,6 e lecionar uma cadeira de desenho de máquinas na já citada Politécnica de São Paulo,7 permanecendo nessa instituição até o ano de 1952.8 O fato de Roberto Mange ter se instalado em São Paulo, o maior centro industrial do país, foi decisivo para sua atuação no ensino profissional e para a influência que este veio a exercer na constituição do SENAI. Nesse estado, após algum tempo, ele começou a estabelecer contatos com diversos industriais, inclusive Roberto Simonsen, obtendo deste apoio e consideração no desenvolvimento de seus projetos. Em vários momentos, Mange, 4 ZANATTA, Marisa. (org). De Homens e Máquinas: Roberto Mange e a formação profissional. Projeto Memória SENAI/SP e Universidade Estadual de Campinas, São Paulo: SENAI, 1991. 5 SCHMIDT, Benito Bisso. O Gênero Biográfico no Campo do Conhecimento Histórico: trajetória, tendências e impasses atuais e uma proposta de investigação. In: Anos 90, Porto Alegre, n.6, dez/1996, p. 181. 6 Essa indicação foi solicitada pelo engenheiro brasileiro Antônio Francisco de Paula Souza, também exaluno da Politécnica de Zurique. ZANATTA, 1991. 7 A Escola Politécnica de São Paulo foi criada em 1894. 8 Em 1914 Roberto Mange voltou à Europa em virtude da Guerra, servindo na Guarda Nacional Suíça durante um ano. ZANETTI, Augusto. A engenharia pedagógica: taylorismo e racionalização no pensamento de Roberto Mange, 2001. 255 p. Tese (Doutorado em História), Universidade Estadual de Campinas, Campinas.
130
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
apesar de dedicar-se ao campo educacional, demonstrou preocupação com o crescimento industrial. Em um dos primeiros escritos de Mange sobre a formação profissional ficara evidente a relação que este fazia entre o ensino profissional e o desenvolvimento industrial e, por conseguinte, de toda a sociedade. Levando em consideração a situação das indústrias mecânicas,9 especialmente do estado de São Paulo, afirmara: O progresso das indústrias mecânicas depende de uma classe de tais operários ‘formados’ e que vem a constituir um benefício para a indústria, para a sociedade e para o Estado. Para a indústria as vantagens são evidentes: boa, segura e rápida execução do trabalho, diminuição de custo e aumento de rendimento. A sociedade adquire aí elementos sãos, de caráter disciplinado, conscientes dos seus deveres e suscetíveis de exercerem, pelo exemplo, benéfica influência sobre as classes laboriosas. Por sua vez o Estado tem nesse artífice formado um cidadão laborioso e ordeiro, fator seguro de seu progresso.10
Mange também participou do debate sobre a valorização do “elemento nacional”, advogando que estado e industriais deveriam investir na formação de trabalhadores qualificados e técnicos para incrementar a indústria nacional, substituindo a prática de buscar trabalhadores estrangeiros, especialmente os técnicos. Essa discussão ocorreu de forma mais incisiva no seio das indústrias ferroviárias devido, em grande parte, ao grau de especialização exigido a seus funcionários e pelo fato de os mesmos utilizarem isso como elemento de barganha em suas reivindicações. Lembremos que no início do século XX muitos trabalhadores que se encontravam em atividades industriais eram estrangeiros ou seus descendentes diretos. Por vezes essa característica – o fato de ser estrangeiro – era associada à uma percepção de maior mobilização operária e sindical. Dessa forma, Mange via a introdução do “elemento nacional” como algo benéfico, além de formar um contingente de operários prontos a serem recrutados pelas indústrias ferroviárias, ou outro tipo de indústria, sem que essas tivessem que se preocupar com sua formação (aprendizagem do ofício), uma vez que esta já havia ocorrido nas instituições próprias a esse fim. Defendendo a substituição do trabalhador estrangeiro pelo nacional, Mange nunca menosprezou o trabalhador nacional, o qual deveria receber a instrução adequada, pois julgava que os operários brasileiros eram “certamente equivalentes e mesmo quiçá superiores (…) [se submetidos a] igual período de aprendizagem, aos de cursos semelhantes que tivemos ocasião de observar detidamente, em viagem de estudos por alguns países da velha Europa”.11 Assim, os industriais brasileiros podiam contar com uma mão-de-obra mais qualificada e disciplinada para o trabalho fabril. A formação adequada do trabalhador brasileiro deveria ser efetuada de forma gradual, mas perseverante:
9
Por indústria mecânica entendia as indústrias de construção ou conserto de máquinas, incluindo aí as elétricas, as indústrias de material de estradas de ferro e as indústrias metalúrgicas. MANGE, Roberto. Escolas Profissionais Mecânicas. Revista Polytechnica, São Paulo, n. 77, out/nov. 1924. 10 Idem, p. 5. 11 MANGE, Roberto, BOLOGNA, Italo. Formação Racional do Pessoal de Oficina. São Paulo: CFESP, 1940, p. 21. Em 1929 Mange foi à Alemanha para tomar contato com os métodos racionais de aprendizagem da Reichsbahn, um consórcio formado pelas empresas ferroviárias alemãs. ZANATTA, 1991, p. 96.
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
131
Certo será empresa de paciência, essa de formar uma nova classe social a que faltam ainda os costumes decorrentes do meio e de aptidões humanas. Mas se não houver excesso de rigor na disciplina inicial, a adaptação progressiva se fará num tempo relativamente curto e com resultados compensadores. Tenho tido ocasião de verificar quão rápida é a transformação do ‘caboclo’ em um bom operário. (…) Se nos diversos ramos da Indústria Brasileira pudéssemos atingir um tal escopo, pudéssemos, pelo costume do trabalho bem orientado, suscitar e facilitar no elemento nativo a ação perseverante que conduz ao respeito da disciplina na organização técnica, teríamos certamente realizado um requisito de progresso nacional – a independência do operário estrangeiro.12
Dez anos depois de sua chegada ao Brasil foi inaugurado, através de uma iniciativa do próprio Mange, o curso de Mecânica no Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, do qual seria diretor no período 1924-1929. No curso teve a oportunidade de introduzir métodos modernos e racionais de ensino, oriundo das concepções sobre Organização Racional do Trabalho. Porém o curso teve duração efêmera, funcionando até o ano de 1924, uma vez que as subvenções recebidas do governo federal foram suspensas no mesmo ano de sua implantação (1923). Um ano depois surgiu a Escola Profissional Mecânica, com o objetivo de preparar oficiais para as profissões mecânicas. Grande parte dos alunos egressos dessa escola ocupariam postos nas empresas ferroviárias do estado de São Paulo, que necessitavam de trabalhadores qualificados para a manutenção dos trilhos e carros. A partir dessa experiência é que se criaram os cursos ferroviários, também dirigidos por Roberto Mange. Inicialmente, a Estrada de Ferro Sorocabana formou o SESP – Serviço de Ensino e Seleção Profissional, em 1930, com o objetivo de qualificar os seus trabalhadores. Posteriormente outras empresas, com auxílio do governo estadual, vieram a formar o CFESP – Centro Ferroviário de Ensino e Seleção Profissional, cujo objetivo era fornecer cursos aos ferroviários e a seus filhos e parentes, centralizando assim a educação profissional nas mãos dos próprios donos das empresas. Tanto o SESP quanto o CFESP foram organizados e dirigidos por Mange, e foram transformados em verdadeiros laboratórios para os métodos racionais de formação do operariado. No 2o. Congresso de Engenharia e Legislação Ferroviária, em Curitiba (1938), Mange apresentava os resultados obtidos pelo CFESP, comparando a aprendizagem comum, praticada anteriormente e onde não existiam cursos, e a aprendizagem racional praticada pelas Escolas Ferroviárias dirigidas por ele. Assim, Diante dos resultados alcançados com a formação racional dos aprendizes para oficinas ferroviárias, completada ainda pelo aperfeiçoamento de ajudantes e oficiais, não se pode deixar de considerar a adoção de tais processos como sendo uma medida administrativa altamente econômica. O benefício daí de-
12 MANGE, Roberto. A Profissão de Engenheiro. Boletim do Instituto de Engenharia, no 14, jan 1922, pp. 90-91. In: BRYAN, Newton Antonio Paciulli. Educação e Processo de Trabalho. Contribuição ao estudo da formação da força de trabalho no Brasil, 1983. 232 p. Dissertação (Mestrado em Educação), Universidade Estadual de Campinas, Campinas, pp. 22-23.
132
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
corrente não se limita, porém, à aquisição por parte da Estrada de pessoal qualificado para seus trabalhos de oficina, mas estende-se em primeiro lugar ao indivíduo e ainda à população ferroviária. Já pela seleção inicial, já pelo método de formação racional, proporciona-se ao candidato aceito uma elevada probabilidade de êxito na carreira profissional, evitando destarte possíveis fracassos e desilusões ou o aparecimento de complexos de inferioridade próprios daqueles que exercem sua atividade fora do campo adequado à sua estrutura física e psicológica.13
A partir dessas experiências foi erigida a estrutura de ensino do SENAI, da qual participou ativamente Roberto Mange. Sua importância na constituição dessa instituição pode ser traduzida pelo convite que receberia para dirigir o Departamento Regional de São Paulo, que, na época, recebia o maior número de escolas e os maiores investimentos, uma vez que, além do fato deste estado concentrar o maior número de indústrias do país, a instituição nacional fora idealizada, principalmente, por empresários paulistas. A influência das concepções de Mange sobre a metodologia de ensino também pode ser traduzida pelo fato de que o Departamento Regional de São Paulo era quem fornecia as diretrizes metodológicas para todas as escolas do país, especialmente através das séries metódicas.14 Além das diversas instituições de ensino em que atuou, Mange participou também da criação do Instituto de Organização Racional do Trabalho - IDORT, no ano de 1931, juntamente com empresários e intelectuais paulistas, com intuito de divulgar e aplicar em empresas e órgãos públicos princípios da Organização Racional do Trabalho - ORT. Sobre essa instituição, afirma Maria Antonieta Antonacci, em obra de referência sobre o tema: O Instituto de Organização Racional do Trabalho surgiu em São Paulo, em 1931, fruto da experiência acumulada, no decorrer da década de 20, por vários grupos envolvidos com questões da organização científica do trabalho, num momento de redefinição das práticas de dominação social. Assegurando o crescimento desses grupos ligados ao estudo e aplicação dos postulados da administração científica, o IDORT foi, em 1931, o portador das mais modernas exigências da racionalização, configurando-se na matriz de vários ‘elos’ que foram compondo a nova mentalidade e a nova ordem social.15
No IDORT, Mange ficou encarregado da Segunda Divisão, denominada Organização Técnica do Trabalho, a qual competia cuidar da orientação profissional, seleção e
13 MANGE, Roberto, BOLOGNA, Italo. Formação Racional do Pessoal de Oficina. São Paulo: CFESP, 1940, p. 20-21. 14 “As séries metódicas foram desenvolvidas por Victor Della Vos, diretor da Escola Técnica Imperial de Moscou, a partir de 1875, para enfrentar a necessidade de formação de grande quantidade de trabalhadores qualificados para apoiar a expansão das ferrovias da Rússia. Embora concebidas num país economicamente atrasado, as séries metódicas vieram a substituir os padrões artesanais de aprendizagem de ofícios, e eram perfeitamente compatíveis com o taylorismo, concebido no país economicamente mais avançado.” CUNHA, Luiz Antonio. O Ensino de Ofícios nos Primórdios da Industrialização. São Paulo: Editora UNESP, Brasília: FLACSO, 2000a, p. 132. 15 ANTONACCI, Maria Antonieta Martinez. A Vitória da Razão (?). O IDORT e a Sociedade Paulista. São Paulo: Marco Zero, 1993, p. 17.
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
133
educação de profissionais, tecnopsicologia do trabalho e higiene do trabalho.16 Paralelamente também participou de outra instituição criada por industriais paulistas, a Escola Livre de Sociologia Política,17 onde lecionou Psicotécnica. Em 1932, na chamada Revolução Constitucionalista, em que houve intensa mobilização de setores de elite e populares do estado de São Paulo contra o governo de Getúlio Vargas, os industriais paulistas tiveram papel preponderante, juntando-se Roberto Mange aos revoltosos e participando ativamente da Revolução.18 Esse fato não prejudicou, contudo suas futuras relações com o governo central, pois viria a participar com Roberto Simonsen, de comissão interministerial19 que elaborou o projeto do SENAI. Muito do sucesso da atuação de Roberto Mange deveu-se à sua proximidade e influência nos setores empresariais paulistas e por ter uma visão muito parecida com aquela do engenheiro e empresário Roberto Simonsen, líder do setor na época. Para a historiadora norte-americana Bárbara Weinstein, apesar de se dedicar à educação, Mange era “em primeiro lugar e sempre um tecnocrata industrial”.20 Apesar de ser considerado por diversos autores o introdutor dos métodos tayloristas no Brasil, Mange não era um seguidor ortodoxo das idéias de Taylor e apontava as deficiências que esse sistema possuía, procurando sempre conciliar os procedimentos norte-americanos com aqueles desenvolvidos por europeus, como era o caso da Psicotécnica e das séries metódicas. Conforme acreditava, a Psicotécnica viria suprir algumas deficiências do método taylorista, que não se preocupava com a satisfação do trabalhador em sua ocupação e com a acomodação em seu local de trabalho. A Psicotécnica era uma forma mais elaborada de tratar os trabalhadores do que a simples punição e recompensa, possibilitando melhores relações nas fábricas, aumentando, por sua vez, o próprio rendimento do trabalhador.21 Outro método desenvolvido e implantado por Mange nas instituições de ensino onde atuou, e que posteriormente deveria ser introduzido nas indústrias, foi a Seleção Racional. Ela constituía, basicamente, na arregimentação de trabalhadores certos para as diferentes atividades industriais, verificando se o candidato possuía as aptidões físicas e mentais
16 Relatório Preliminar da Reorganização Administrativa do Estado de Goiás. IDORT, São Paulo, Vol. I, 1937, p. 11. 17 A Escola Livre de Sociologia e Política foi criada em 1933 como uma iniciativa de industriais paulistas, especialmente da parte de Roberto Simonsen. Segundo TENCA, a Escola teria o objetivo de aplicar as pesquisas empreendidas no campo das ciências sociais para organizar a sociedade e amenizar o conflito capital x trabalho por meio da aplicação de preceitos científicos. TENCA, Alvaro. Razão e Vontade Política. O IDORT e a grande indústria paulista nos anos 30, 1987. 130 p. Dissertação (Mestrado em História), Universidade Estadual de Campinas, Campinas. 18 Roberto Mange foi nomeado delegado do Departamento Central de Munições (DCM) e consultor técnico da Comissão Técnica Civil de Material Bélico (CTCMB), coordenando a produção de material bélico, além de ter projetado um dispositivo para produção seriada de cartuchos. Ver: BRYAN, Newton Antonio Paciulli, 1983, p. 27. ZANATTA, 1991, p. 65. 19 Essa Comissão que foi presidida por Euvaldo Lodi e por Roberto Simonsen, ambos industriais proeminentes de Minas Gerais e de São Paulo, respectivamente, foi instituída, por solicitação do presidente Getúlio Vargas, para elaborar um novo projeto de criação de um sistema nacional de aprendizagem sob o encargo dos industriais. 20 WEINSTEIN, Barbara. (RE)Formação da Classe Trabalhadora no Brasil (1920-1964). São Paulo: Cortez: CDAPH-IFAN: Universidade São Francisco, 2000, p. 56. 21 Conforme WEINSTEIN, 2000, p. 25.
134
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
necessárias ao desempenho das funções inerentes ao cargo. Essa seleção utilizava metodologia desenvolvida pela Psicotécnica, de acordo com os esquemas acima apresentados. A Seleção Racional, conforme sustentava Mange, possibilitaria aproveitar o máximo da capacidade do trabalhador, ao mesmo tempo em que o satisfazia, pois o colocava em uma tarefa que se adaptava perfeitamente aos seus atributos. No âmbito da aprendizagem, a aplicação da Seleção Racional retiraria de vez o caráter assistencialista22 dos cursos de formação profissional, pois os candidatos aos cursos deveriam possuir já uma instrução básica e passar por uma série de testes que indicariam a que ofício o aluno deveria dedicar-se. Assim, o ensino profissional deixa de destinar-se aos pobres e desfavorecidos, dirigindo-se aos “aproveitáveis”.23 Essa seria, então a primeira etapa na implantação de métodos racionais ao processo produtivo e ao processo de aprendizagem voltado para o trabalho. A segunda etapa constituía a Formação Racional. Esta estaria em oposição à formação comum, praticada anteriormente nas escolas profissionais e também no próprio local de trabalho. A aprendizagem comum, segundo Mange, é aquela realizada mediante imitação do trabalho efetuado por um artífice mais experiente na função, tendo caráter puramente empírico, sem base teórica. Nesse tipo de aprendizagem, na qual o saber está nas mãos do próprio trabalhador fugindo ao controle dos industriais e dirigentes do processo produtivo (papel do engenheiro), além das informações necessárias para a execução do trabalho são transmitidos igualmente os vícios inerentes aos trabalhadores, sendo por isso um método deficiente, inapropriado e até mesmo perigoso para os donos das empresas. Em uma comunicação, Mange e seu “braço direito”, Ítalo Bologna, comparavam as duas aprendizagens, procurando mostrar as deficiências do método denominado por eles de “comum”: O sistema comum de aprendizagem, infelizmente ainda bastante enraizado nas oficinas de muitas estradas de ferro no Brasil, consiste em se admitir um jovem diretamente como praticante ou como aprendiz de baixa classe. Quanto ao processo de seleção para essa admissão inicial, quando existe, é rudimentar e pouco significativo, prevalecendo em geral como critério seletivo, a recomendação ou ainda motivos estranhos a eventual capacidade do candidato. O preparo desses jovens vai se processando em geral sem o necessário aperfeiçoamento cultural e técnico teórico e à mercê de uma improvisada ação técnico-didática dos mestres, da boa ou má vontade de oficiais e mesmo da aquisição de vícios e defeitos. É freqüente também a utilização industrial intensiva e permanente da capacidade produtiva já porventura adquirida pelo aprendiz – por ser mão-de-obra econômica – em detrimento do processo evolutivo que levaria à formação integral do artífice.24
22 No início do século XX a maioria dos cursos profissionalizantes do país possuía caráter assistencialista, destinados, essencialmente, à população carente, sendo também uma forma de disciplinar os jovens a quem se destinavam esses cursos. 23 BRYAN, 1983, p. 35. 24 MANGE, Roberto, BOLOGNA, Italo. Formação Racional do Pessoal de Oficina. São Paulo: CFESP, 1940, p. 13-14.
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
135
Já a Formação Racional formaria o trabalhador em instituições específicas e destinadas a esse fim, com professores habilitados e acostumados não só com a parte empírica, mas também procurando transmitir os aspectos teóricos do processo produtivo. Objetivava imbuir o trabalhador da disciplina fabril, fazendo com que o mesmo executasse suas tarefas com a máxima eficiência eliminando o tempo inútil e tornando-se cada vez mais produtivo. A aprendizagem racional “formaria” um trabalhador especializado num tempo inferior àquele utilizado pela aprendizagem comum. Segundo Mange, comparando os alunos matriculados nos cursos de cinco estradas de ferro de São Paulo (aprendizagem racional) com aqueles que tiveram uma aprendizagem comum, na própria oficina, o tempo que estes levaram para atingir uma “eficiência profissional” foi de 3,2 anos, enquanto os alunos que freqüentaram os cursos dirigidos pelo engenheiro alcançaram essa eficiência em apenas ¾ de ano.25 Mange recorria freqüentemente, para defender seus métodos de ensino, às características positivas, regeneradoras e moralizantes dos mesmos, como por exemplo, ao falar sobre a aprendizagem racional afirmando que esta poderia ser implantada em instituições correcionais devido às suas “vantagens indiscutíveis de ordem psíquica”, realizando uma “verdadeira formação ética e moral no indivíduo”.26 Ademais, viria compensar a crescente redução da jornada de trabalho reivindicada pelos trabalhadores e considerada nefasta pelo engenheiro suíço, demonstrando de forma clara o seu alinhamento com os setores dirigentes da sociedade: Não pouco contribuiu para isso [os problemas na manutenção da indústria] a tão desejada, mas perigosa e nefasta ‘diminuição das horas de trabalho’ que, constituindo do ponto de vista econômico um círculo vicioso, vem agravando de modo sempre crescente a instabilidade das condições da vida moderna. Para compensar o desfalque do tempo de trabalho e as suas conseqüências econômicas, é necessário procurar os meios de, por um trabalho acurado, perfeito e rápido. Em que todo movimento inútil seja eliminado, produzir mais e produzir melhor em um lapso de tempo mais curto. Isso nos conduz ao estudo fisiológico do trabalho, nos leva a considerar a organização profissional sobre o ponto de vista das aptidões físicas, psico-fisiológicas e profissionais, com o intuito de poder proporcionar a todo candidato às profissões mecânicas, pela organização racional de Escolas.27
A aprendizagem racional trazia em si alguns elementos importantes na visão de Mange, um deles era a introdução das séries metódicas de aprendizagem (SMA), utilizadas nas escolas ferroviárias e implantadas igualmente no SENAI. Como já referido, o Departamento Regional do SENAI de São Paulo, dirigido por ele, era o responsável pela elaboração do material didático utilizado em todas as unidades da instituição. Esse material compunha-se basicamente das folhas de séries metódicas. As SMA consistiam numa sucessão de exercícios, dos mais simples aos mais complexos, respeitando os princípios 25 Idem, p. 20. A eficiência profissional era “mensurada” pelo tempo despendido à realização do trabalho e a eficiência com que ele era realizado. 26 Apostila do curso de Psicotécnica elaborado por Roberto Mange. São Paulo, 1934, aula do dia 21/05/1934. 27 MANGE, Roberto, 1924, pp. 7-8.
136
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
teóricos inerentes a cada atividade. Utilizando esse método de ensino, o aprendiz deveria cumprir primeiro uma etapa, para poder passar à seguinte, pois, conforme Mange, “nenhuma operação de determinada dificuldade será executada sem que as que lhe são anteriores apresentem treino, precisão e perfeição aceitáveis, princípio fundamental este que, não observado, ou traz o desânimo, ou leva à má execução e a vícios que dificilmente se corrigem”.28 Imbuído de idéias provenientes do taylorismo e de outras correntes que defendiam a implantação de métodos racionais no processo produtivo, que ele e colaboradores próximos estendiam também para outras esferas do cotidiano, o engenheiro elaborou uma equação que traduzia todos os elementos indispensáveis a uma educação racional: “Seleção + Formação + Adaptação = Eficiência”.29 Além de visar uma maior produtividade, todo esse aparato foi projetado para diminuir tensões entre os empresários e seus empregados, e parece procurar retirar do trabalhador seu saber, o que lhe permitia certo controle do processo produtivo. Com a introdução de métodos racionais esse saber passa para as mãos dos engenheiros, únicos responsáveis pela direção do processo. As folhas das séries metódicas traduzem bem isso, uma vez que o aprendiz era ensinado a repetir incessantemente os mesmos movimentos de acordo com instruções pré-determinadas, desconsiderando qualquer experiência anterior. Por fim, cabe ressaltar que esse tipo de ensino ou metodologia de ensino defendido por Roberto Mange não era único: existiam outros educadores que propugnavam outros tipos de aprendizagem, mais voltadas para questões humanísticas e menos direcionados para o setor produtivo.30 Pode-se afirmar que havia uma disputa pelo modelo a se tornar hegemônico, na qual a proposta do engenheiro suíço saiu vitoriosa, pois foi esta que foi implantada no SENAI, ainda hoje a maior instituição voltada à educação profissional do país.
Referências Bibliográficas ANTONACCI, Maria Antonieta Martinez. A Vitória da Razão (?). O IDORT e a Sociedade Paulista. São Paulo: Marco Zero, 1993. BRYAN, Newton Antonio Paciulli. Educação e Processo de Trabalho. Contribuição ao estudo da formação da força de trabalho no Brasil, 1983. 232 p. Dissertação (Mestrado em Educação), Universidade Estadual de Campinas, Campinas.
28 MANGE, Roberto. Ensino Profissional Racional no Curso de Ferroviários da Escola Profissional de Sorocaba e estrada de Ferro Sorocabana. In: IDORT, nº 1, ano 1, São Paulo, janeiro/1932, p. 18. 29 MANGE, Roberto. O Fator Humano na Organização Científica do Trabalho. Boletim do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, n° 93, 1945. In: BRYAN, 1983, p. 29. 30 Segundo Weinstein, 2000, em São Paulo, durante as décadas de 1910 e 20, a mais importante instituição de ensino profissional era a Escola Profissional Masculina e Feminina, dirigida durante esse período por Aprígio Gonzaga. Nessa escola, as diretrizes adotadas em alguns aspectos aproximavam-se daquelas do Liceu, onde atuava Mange. Era o caso, por exemplo, do combate a métodos baseados no empirismo. Gonzaga e Mange possuíam discordâncias de fundo, pois a Escola Profissional adotava princípios divergentes do taylorismo, e seu diretor, apesar de admitir que escola e indústria deveriam manter boas relações, era contrário à utilização de mão-de-obra infantil nos estabelecimentos industriais. Gonzaga considerava o aprendizado profissional como um meio de promoção e proteção do trabalhador e não como uma forma de os industriais conceberem sua mão-de-obra.
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
137
CUNHA, Luiz Antonio. O Ensino de Ofícios nos Primórdios da Industrialização. São Paulo: Editora UNESP, Brasília: FLACSO, 2000. MANGE, Roberto. Escolas Profissionais Mecânicas. Revista Polytechnica, São Paulo, n. 77, out/nov. 1924. ______. Ensino Profissional Racional no Curso de Ferroviários da Escola Profissional de Sorocaba e estrada de Ferro Sorocabana. In: IDORT, nº 1, ano 1, São Paulo, janeiro/1932. ______. Apostila do curso de Psicotécnica. São Paulo, 1934, aula do dia 21/05/1934. ______. BOLOGNA, Italo. Formação Racional do Pessoal de Oficina. São Paulo: CFESP, 1940. Relatório Preliminar da Reorganização Administrativa do Estado de Goiás. IDORT, São Paulo, Vol. I, 1937. SCHMIDT, Benito Bisso. O Gênero Biográfico no Campo do Conhecimento Histórico: trajetória, tendências e impasses atuais e uma proposta de investigação. In: Anos 90, Porto Alegre, n. 6, p. 165-192, dez/1996. TENCA, Alvaro. Razão e Vontade Política. O IDORT e a grande indústria paulista nos anos 30, 1987. 130 p. Dissertação (Mestrado em História), Universidade Estadual de Campinas, Campinas. WEINSTEIN, Barbara. (RE)Formação da Classe Trabalhadora no Brasil (1920-1964). São Paulo: Cortez: CDAPH-IFAN: Universidade São Francisco, 2000. ZANATTA, Marisa. (org). De Homens e Máquinas: Roberto Mange e a formação profissional. Projeto Memória SENAI/SP e Universidade Estadual de Campinas, São Paulo: SENAI, 1991. ZANETTI, Augusto. A engenharia pedagógica: taylorismo e racionalização no pensamento de Roberto Mange, 2001. 255 p. Tese (Doutorado em História), Universidade Estadual de Campinas, Campinas.
* Daniela de Campos é Licenciada e Mestre em História pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS. E-mail: <dcampos7@hotmail.com>.
138
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
QUERO SER DR. MANHATTAN
a percepção espaço-temporal compartilhada entre Dr. Manhattan e o leitor ROGÉRIO SECOMANDI MESTRINER*
E
spaço e tempo são conceitos puros e primordiais que limitam e reduzem a vivência da realidade a dimensões palpáveis e administráveis, conceitos fora dos quais nada pode ser concebido. Tentar imaginar algo que não ocupa lugar no espaço e que exista fora do tempo é um exercício impossível à mente consciente. Vivemos, portanto, sob o jugo dessas percepções puras que restringem a experiência do real. Porém, a arte nos oferece opções que permitem experiências diferenciadas dos conceitos primordiais de espaço e tempo que nos guiam, como a invocação da imaginação e abstração às palavras da literatura, os cortes entre diferentes lugares e tempos em pequenos trechos contínuos no cinema ou a união de texto e imagens estáticas na história em quadrinhos, também chamada de arte seqüencial. Quando um autor como Alan Moore – conhecido por ser um autor de arte seqüencial que busca incorporar a esse meio recursos literários e cinematográficos, e cujo formalismo revela-se na busca constante de unir forma à narrativa de modo que uma estrutura acrescente à outra – cria uma história a fim de explorar a mídia na qual a narrativa é veiculada, permitindo que o leitor vivencie os poderes de um personagem fantástico sem explicitar totalmente que essa é uma metáfora sobre a propriedade única dos quadrinhos, talvez isso explique o fascínio que as HQs exercem sobre o público e justifique-se como uma arte legítima e única na forma de lidar com o espaço-tempo e com as percepções do leitor.
Watchmen é considerada a grande obraprima dos quadrinhos e também a obra máxima de Alan Moore por diversos motivos, e um de seus diferenciais está na forma como é exposto e explorado o tempo único das HQs, uma vez que nelas se vivencia a percepção espaço-temporal de uma forma fora do ordinário. Em uma realidade alternativa na qual indivíduos disfarçados combatem os crimes nas ruas, surge um homem com poderes que fazem dele a arma suprema, colocando os EUA em vantagem bélica sobre a URSS durante a Guerra Fria. Devido a uma lei governamental, os vigilantes mascarados têm suas atividades proibidas e, após anos de ostracismo, ex-justiceiros começam a ser assassinados. Rorschach, um vigilante ainda ativo, suspeita de uma possível conspiração contra os mascarados e começa a investigar, desencadeando uma série de eventos que mudará drasticamente a situação geopolítica vigente e testará a moral dos envolvidos. O envolvimento de Jon Osterman, também chamado de Doutor Manhattan, é decisivo para o decorrer dos fatos. Sendo o único ser humano detentor de superpoderes, o fato de trabalhar diretamente para o governo estadunidense suspende a Guerra Fria, impedindo os avanços da URSS comunista sobre o mundo. Dr. Manhattan obtém seus poderes ao ser acidentalmente exposto a uma experiência sobre campos intrínsecos, transformandose praticamente em um deus, ganhando o controle sobre a matéria, vôo, telecinese, capacidade de se multiplicar, aumentar sua massa e, principalmente, enxergar o continuum espaço-temporal como uma coisa só: presente, passado e futuro; tudo ao mesmo tempo agora. Aos poucos, Jon perde interesse pelas pessoas e pelas preocupações mundanas, e despreza seu próprio lado humano, devido à sua mudança de percepção e natureza. Em um programa de televisão sensacionalista, provas acusam Dr. Manhattan de causar câncer às pessoas próximas a ele, como sua ex-esposa e seu antigo arquiinimigo, Moloch. A rejeição pública e a dor da suspeita de ter envenenado as pessoas próximas a ele levam-no a se exilar em Marte. Uma vez que a arma suprema dos EUA sai de cena, a URSS imediatamente avança sobre o Afeganistão, iniciando então uma contagem regressiva para a retaliação americana e início da Guerra Nuclear. Dr. Manhattan mostra-se frio e distante quanto à possibilidade do apocalipse nuclear que se anuncia na Terra, e só se convence do contrário ao perceber como a vida humana é um milagre termodinâmico, um evento raro no universo, subestimado por sua abundância no planeta. Ele então retorna à Terra para encontrar uma Nova York destruída e com metade de sua população morta pelo teletransporte mal-sucedido de uma criatura alienígena, que na verdade foi concebida pelo ex-vigilante mascarado Ozymandias como o clímax de uma cadeia de eventos em busca da paz mundial. 140
REVISTA OLHAR – ANO 10, NO 17
Num ato de compaixão e medo, a URSS anuncia o fim da hostilidade com os EUA, unindo as superpotências mundiais contra um pretenso mal maior. Dr. Manhattan reconhece que o plano de paz mundial de Ozymandias foi bem sucedido e que revelar a verdade por trás dos eventos só causaria mais estragos, levando-o conseqüentemente a matar o único envolvido que era contra a ocultação da história, Rorschach. Dr. Manhattan então abandona a Terra, dizendo que vai para uma outra galáxia e talvez criar vida. Jon Osterman se diferencia dos outros personagens de Watchmen uma vez que ele percebe a realidade de maneira extrema, sendo seus limites de percepção os limites extremos da física, ou seja, tempo e espaço, que, hipoteticamente, são os limites da estrutura fundamental da mente. Tempo e espaço são afirmações universais que nos permitem compreender e sentir a experiência. Nada pode ser percebido exceto através destas intuições, pois são elementos da estrutura mental necessários para sentir a experiência de qualquer ser racional. Ainda que não acrescente novidade quanto aos conceitos universais, os quadrinhos permitem uma experiência singular do tempo e espaço, por relacioná-los de forma única. De acordo com Scott McCloud, nas histórias em quadrinhos o tempo é percebido espacialmente; a duração do tempo e as dimensões do espaço são determinadas pelo conteúdo do quadro. Portanto, tempo e espaço são uma única coisa para a arte seqüêncial. Como leitores, têm-se a sensação de que, movendo-se pelo espaço, nossos olhos também estão se movendo pelo tempo. Em Quadrinhos e Arte Seqüencial, Will Eisner diz que o tempo não é absoluto, mas sim relativo à posição do observador, e as histórias em quadrinhos fazem dessa afirmação uma realidade. O tempo é sugerido pelo quadrinho em si, pela forma imagética da composição das ações dentro dele e também pela percepção pessoal de tempo do indivíduo. Exemplificando; ao colocar ações paralelas no mesmo quadro, como na página 11 do capítulo VIII, onde paralelamente a um diálogo, um navio se aproxima da praia ao mesmo tempo em que uma artista plástica desenha um retrato. [Fig. 1] Para perceber o tempo transcorrido entre uma imagem e outra você deve ter sua própria percepção de quanto tempo uma embarcação leva para chegar à orla, ou sobre o tempo de tal conversação, ou ainda, o tempo de se desenhar um retrato. Jacques Aumont já reconhecia essa propriedade única das histórias em quadrinhos ao dizer que “se uma imagem que, por si própria, não existe em modo temporal pode, entretanto transmitir uma sensação de tempo é porque o espectador nela coloca algo de seu e acrescenta alguma coisa à imagem”;1 e sintetiza a experiência de ler uma novela gráfica, dizendo que “uma página de história em quadrinhos é lida imagem por imagem, mas também e ao mesmo tempo (inclusive às vezes de maneira contraditória) de modo global”,2 referindo-se à avalanche de imagens com diferentes temporalidades que estão dentro do alcance visual do leitor em uma página. Essa experiência descrita por Aumont sobre a simultaneidade de acontecimentos nas páginas das novelas gráficas remete a uma leitura alegórica das habilidades especiais de Jon Osterman. Os poderes divinos de Dr. Manhattam podem ser tomados como uma metáfora da percepção espaço-temporal do leitor diante de uma história em quadrinhos qualquer. Dentro do romance, Dr. Manhattan é o leitor supremo, que visita os diferentes 1 AUMONT, Jacques. A Imagem. 2 Idem.
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
141
momentos dos personagens que o cerca, podendo ver o futuro deles e fazendo o que bem entender, uma vez que lhe é possível manipular a matéria. Assim como o leitor, que ao folhear aleatoriamente uma novela gráfica visita diferentes momentos da narrativa e, mesmo quando lê uma história linearmente, não consegue deixar de ter relances do futuro e do passado, pois vários quadros representando diferentes momentos do tempo estão em seu campo de visão; revelando dessa forma o controle que tem sobre a linearidade temporal. Ou ainda quando simplesmente abandona a leitura, folheia páginas e manuseia o livro, refletindo metaforicamente os poderes de Dr. Manhattan sobre a matéria com o nosso controle sobre o material impresso. Sobre isso, McCloud diz que: diferente de outras mídias, nos quadrinhos, o passado é mais do que apenas lembrança, e o futuro, mais do que só possibilidade. O passado e o futuro são reais e visíveis, e estão ao nosso redor. Onde seus olhos estiverem concentrados, esse vai ser o agora, só que seus olhos também captam a paisagem circunvizinha do passado e futuro. […] Nós esperamos que o olhar sempre se mova pra frente, mas, como as tempestades, ele pode mudar de direção.3
Quando manuseamos uma novela gráfica, temos um universo fechado sob o nosso controle que pode ser manuseado como bem entendermos. Comparativamente, somos deuses diante de um universo pequeno, o qual podemos controlar e visitar a nosso bel prazer. Essa característica metalingüística é bastante explorada por Grant Morrison, notável seguidor de Alan Moore, principalmente na história O Evangelho do Coiote, na qual um encontro entre criatura e criador é visto em primeira pessoa pelo leitor [Fig.2] e, no final da história, a mão do pintor entra em quadro para colorir o sangue do personagem morto. [Fig. 3] Aos olhos dos personagens de ficção, somos deuses para os quais eles vivem continuamente seus destinos, já definidos, para nosso deleite. Comparativamente, a metalinguagem de Alan Moore se dá em escalas menores com o personagem de Dr. Manhattan; uma metalinguagem metafórica que se encaixa dentro da narrativa e sem ser explicitada, ainda que esse herói com poderes fantásticos assuma o manto de representante das percepções do leitor dentro da história. Porém, referência metalingüística mais explícita aparece em Watchmen na forma de uma HQ de pirata que, de várias formas, reflete a narrativa principal, o que esclarece a ambição de Alan Moore em fazer de Watchmen uma obra única nos quadrinhos, que discute suas propriedades e apropria-se delas de forma a concebê-la exclusivamente nessa mídia. Sabendo que Alan Moore compreende o tempo como “uma coisa só, um momento só; não há passado presente ou futuro; há apenas agora, e é a mente consciente que ordena as coisas no passado, presente e futuro”,4 é natural assumir que a mídia escolhida para realizar seus trabalhos é a mais apropriada para suas sensibilidades. Como explorador das estruturas narrativas, ele pensou e concebeu a passagem do tempo na narrativa de forma engenhosa a fim de explorar os recursos dos quadrinhos. De acordo com Moore, um leitor leva, teoricamente, de sete a oito segundos para ler um quadrinho que contem texto médio de 35 palavras e imagem não muito detalhada,
3 MCCLOUD, Scott. Desvendando os quadrinhos. 4 Palavras do próprio Alan Moore retiradas da entrevista cedida à Revista Kaos! no 01.
142
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
antes de passar para o próximo.5 Tendo o timing em mente e um conhecimento de ritmo do texto, o escritor de quadrinhos pode ter algum controle sobre o tempo do leitor, podendo até utilizar técnicas cinematográficas, como enquadramentos cuidadosos e justaposições engenhosas de quadros, para passar a sensação de tempo real, movimento e concatenação de idéias. Porém, a característica única dos quadrinhos se mantém. Mesmo tentando ter o controle sobre o tempo, não há como impedir um leitor de se prender por minutos sobre um mesmo quadrinho, ou controlar o olhar dele para além do quadrinho que, linearmente, ele deveria se ater, ou ainda, revisitar quadrinhos passados. A cena da página 16 do capítulo IV [Fig. 4] serve tanto para elucidar a propriedade única dos quadrinhos, assim como exemplificar a percepção de Dr. Manhattan sobre o tempo. Confrontado por sua esposa, Janey Slater, ao descobrir que ele sabia sobre o assassinato do presidente Kennedy e não fez nada para impedir, o personagem explica que não pode alterar a história, pois, para ele, o futuro já está acontecendo. A discussão é desmembrada em vários quadrinhos, nos quais a própria fala de Jon revela os diferentes momentos que ele vê simultaneamente, como ouvir sua esposa gritando em 1959 e 1963 e o futuro próximo, no qual eles farão amor após a chegada do presente que encomendou pra Janey. O último quadrinho contem a narração de Dr. Manhattan, que acontece no presente diegético. Assim como Dr. Manhattan, o leitor também pode acompanhar a discussão da página quadro a quadro, seguindo a linha narrativa, ou visitando diferentes quadros fora da narratividade, ou ainda ter uma visão geral da página e todos os acontecimentos ocorridos nela. De forma ainda mais complexa, na página seguinte [Fig. 5] os momentos da narrativa presente e passados diversos se embaralham na página, seguindo o fluxo de consciência de Dr. Manhattan, passando por trechos ambientados em 1964, 1966 e 1985, nos quais ele visita o momento no qual conheceu sua segunda esposa, Laurie Juspeczyk, o primeiro beijo entre eles, uma relação sexual em seu segundo casamento e um momento de crise com Janey, sua primeira esposa. Nesse momento, o trânsito de Dr. Manhattan por esses diferentes momentos, que se caracterizam dentro da história como um fluxo de consciência e revisitação de momentos pessoais, remete também ao ato do leitor de folhear a novela gráfica, uma vez que todos os momentos presentes nessa página já foram mostrados ou referenciados anteriormente. Outra forma que Moore encontrou de mostrar a simultaneidade do tempo nos quadrinhos através de seu personagem ocorre no último capítulo da saga, na qual Dr. Manhattan, confuso na sua percepção de tempo devido a uma descarga de táquions ocasionada pelo teleporte da falsa criatura alienígena, repete as mesmas ações e falas por duas páginas, 11 e 12 [Fig. 6 e 7]. A posição de Jon no quadro e na folha e sua fala são colocadas na mesma disposição nas diferentes páginas, porém em diferentes contextos, criando um efeito de déjà vu tanto ao leitor quanto ao personagem. Nessas duas páginas testemunha-se a confusão temporal de Dr. Manhattan e consegue-se a ilusão de poder estar em dois lugares ao mesmo tempo. No capítulo 9, página 5, Jon Osterman discute sua percepção do tempo com Laurie. [Fig. 8] As pessoas mais próximas a ele sempre ficaram perturbadas pelo diferente modo de Jon perceber o tempo, e ele conceitua sua percepção com a frase “Todos nós somos [marionetes], Laurie. Eu sou apenas uma marionete que vê as cordas”, depois que ela critica o fato de Dr. Manhattan poder ver o futuro e não fazer nada para alterá-lo. A primeira 5
MOORE, Alan. Como escrever estórias em quadrinhos.
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
143
esposa de Jon se amedronta ao ser confrontada com uma nova noção de tempo e sente-se insegura, diante de algo grande e invisível, algo que ela não consegue compreender inteiramente. Estariam os personagens, nesses momentos, tomando consciência de seus destinos e caminhos predeterminados? Essas cenas transcendem os quadrinhos, rompem a quarta parede e colocam leitor e personagem frente a frente, passando a impressão que os personagens sabem que estão sendo observados, assim como o leitor toma consciência de sua superioridade sobre as personagens. É a revelação da verdade de seus respectivos papéis, e a revelação é mediada por Dr. Manhattan, o personagem consciente de seu papel e sua existência como um todo, preso à mídia que o limita. Portanto, Jon Osterman, dentro de Watchmen, é o representante das percepções do leitor, o personagem fantástico que podemos ser e que já somos durante o simples ato de ler uma história em quadrinhos, um personagem com o qual dividimos a percepção da realidade, estando ele dentro de sua narrativa, estando nós diante de uma novela gráfica. E também é o mediador de Alan Moore para o encontro do leitor com suas criações e da revelação da unicidade da mídia que é a arte seqüencial. Assim, Alan Moore entretém o leitor com sua narrativa, ao mesmo tempo que propõe uma reflexão sobre a propriedade inerente às HQs ao explicitar a forma como o tempo é tratado nessa mídia, o que comprova a importância de Watchmen para o legitimação da linguagem própria dos quadrinhos, seu amadurecimento e seu peso crescente na cultura popular contemporânea, assim afirmando-se como uma das grandes obras de ficção do século XX.
Bibliografia AUMONT, Jacques. A Imagem. Campinas: Papirus, 1995. EISNER, Will. Quadrinhos e Arte Seqüencial. São Paulo: Martins Fontes, 2001. MCCLOUD, Scott. Desvendando os quadrinhos. São Paulo: Makron Books, 1995. MOORE, Alan. Como escrever estórias em quadrinhos, in: http://www.4shared.com/ dir/1736588/56df452/sharing.html. ______. Watchmen. New York : DC Comics, 2005. MORRISON, Grant. O Evangelho do Coiote, in: DC2000 no 7. São Paulo: Abril Jovem, Julho de 1990. PIZZARRO, João Ricardo; MANTO, Leandro Luigi Del; MUNIZ, Maurício; e GIASSETTI, Ricardo. Entrevista Internacional com Alan Moore, in: Revista Kaos! no 01. São Paulo: Manticora, 2004. WINNINGER, Ray. The Watchmen Sourcebook. Niles: Mayfair Games, 1990.
144
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
Anexos
Figura 1 Ações paralelas apelam à percepção temporal do leitor para que o tempo seja sentido na narrativa em Watchmen.
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
145
Figura 2 O encontro entre criador e criatura em O Evangelho do Coiote, de Grant Morrison.
146
REVISTA OLHAR â&#x20AC;&#x201C; ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
Figura 3 O autor se faz presente, convidando a uma reflexão metalingüística em O Evangelho do Coiote.
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
147
Figura 4 Dr. Manhattan é confrontado por sua esposa a respeito de sua percepção do tempo.
148
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
Figura 5 A simultaneidade do presente e passado.
AGO-DEZ 2007 â&#x20AC;&#x201C; JAN-DEZ/2008
149
Figuras 6 e 7 A representação da confusão temporal de Dr. Manhattan.
150
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
Figura 8 “Somos todos marionetes. Sou apenas uma marionete que pode ver as cordas”.
* Roger Secomandi Mestriner é mestrando em Imagem e Som pela UFSCar. Atua como produtor audiovisual no Instituto de Estudos Avançados da USP, São Carlos. E-mail: <roger.mestriner@gmail.com>.
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
151
O CEGO FEZ VER A PORTA SUSAN BLUM*
Quien llegue a despertar a la libertad dentro de su sueño habrá franqueado la puerta y accedido a un plano que será por fin un novum organum. (Cortázar in Ultimo Round).
N
o conto O Amor,1 de Clarice Lispector, encontramos um fato “estranho” que modifica o resto da história: um cego mascando chicletes é visto pela protagonista Ana. Essa cena é revestida de um certo surrealismo e existencialismo. É como se a visão de um cego mascando chicletes provocasse uma abertura na vida cotidiana de Ana. Essa abertura será aqui associada a uma idéia de Cortázar (que se encontra na epígrafe) de uma porta que deve ser aberta. Em seu ensaio “para una espeleologia a domicilio”2 Cortázar nos alerta para uma importante possibilidade de visão de mundo: abrir a porta. Para ilustrar essa possibilidade ele cita a literatura e a história de Barba Azul: Con la más convencional de las sonrisas, Barba Azul ordena: “Jamás abras esa puerta”, y la pobre muchacha que algunos llaman Anima no cumplirá el destino que la heroína de la leyenda le proponía con un oscuro signo de complicidad. No solamente no abrirá la puerta sino que sus mecanismos de defensa llegarán a ser tan perfectos que Anima no verá la puerta, la tendrá al 1 Em Laços de Família, 1995. 2 Em Ultimo Round, 1974.
alcance del deseo y seguirá buscando el paso con un libro en la mano y una bola de cristal en la otra. ¿No quieres la verdadera llave, Anima? En Judas ha podido verse la máquina necesaria para que la redención teológica cuajara en su espantoso precio de maderas cruzadas y de sangre; Barba Azul, esa otra versión de Judas, sugiere que la desobediencia puede operar la redención aquí y ahora, en este mundo sin dioses. A la luz de figuras arquetípicas toda prohibición es un claro consejo: abre la puerta, ábrela ahora mismo. La puerta está bajo tus párpados, no es historia ni profecía. Pero hay que llegar a verla, y para verla propongo soñar puesto que soñar es un presente desplazado y emplazado por una operación exclusivamente humana, una saturación de presente, un trozo de ámbar gris flotando en el devenir y a la vez aislándose de él en la medida en que el soñante está en su presente, que concita fuera de todo tiempo y espacio kantianos las desconcertadas potencias de su ser. En ese presente para el que Anima no sabe todavía usar sus fuerzas liberadas, en esa pura vivencia donde el soñante y su sueño no están distanciados por categorías del entendimiento, donde todo hombre es a la vez su sueño, estar soñando y ser lo que sueña, la puerta espera al alcance de la mano. No hay más que abrirla (“Jamás abras esa puerta” dio Barba Azul) y la manera es esta: hay que aprender a despertar dentro del sueño, imponer la voluntad a esa realidad onírica de la que hasta ahora sólo se es pasivamente autor, actor y espectador. Quien llegue a despertar a la libertad dentro de su sueño habrá franqueado la puerta y accedido a un plano que será por fin un novum organum. Vertiginosas secuelas se abren aquí al individuo y a la raza: la de volver de la vigilia onírica a la vigilia cotidiana con una sola flor entre los dedos, tendido el puente de la conciliación entre la noche y el día, rota la torpe máquina binaria que separaba a Hipnos de Eros. O más hermosamente, aprender a dormirse en el corazón del primer sueño para llegar a entrar en un segundo, y no sólo eso: llegar a despertar dentro del segundo sueño y abrir así otra puerta, y volver a soñar y despertarse dentro del tercer sueño, y volver a soñar y a despertar, como hacen las muñecas rusas. “Jamás abras esa puerta” dice Barba Azul. ¿Qué harás tú, animula vagula blandula? (Cortázar, 1974, p. 172)
Nesta citação pode-se perceber a consideração de Cortázar para com a fissura, ou seja, uma abertura de visão.3 E é nesse sentido que se pode fazer uma associação ao conto de Clarice Lispector, pois essa autora brasileira também se dirigia para a possibilidade de visões do leitor.4 O conto “Amor” traz a abertura de visão de Ana, que vivia em um mundo rotineiro de dona-de-casa e que, de repente, após ver o cego mascando chiclete, passa a perceber o mundo de uma forma diferente. Os espaços se “transformam”. Um dos temas recorrentes em Cortázar é o leitor ativo (leitor cúmplice) e não passivo. Mesmo em Jogo de amarelinha ele diz que: “No que me toca, pergunto-me se alguma vez conseguirei fazer sentir que o único e verdadeiro personagem que me interessa é o leitor, na medida em que algo do que escrevo deveria contribuir para mudá-lo, para deslocá-lo, para chocá-lo, para aliená-lo”. (Cortázar, 1999, cap. 17) 4 Clarice Lispector envolve o leitor porque sua narrativa é psicológica, ela ressalta o cotidiano com a re-educação dos sentidos do leitor. O leitor se sente assim envolvido, há uma identificação com o texto. Dois livros que podem interessar: Leitores e leituras de Clarice Lispector - org. por Regina Pontieri (São Paulo: Hedra, 2004) e Clarice Lispector a narração do indizível (vários autores, Porto Alegre: Artes e ofícios, 1998). 3
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
153
Essa abertura ou fissura é apresentada por Cortázar com a metáfora do ponto vélico,5 que será visto mais adiante. Para se compreender melhor essa busca por uma nova visão é que foi citado, no início do artigo, o surrealismo. Cortázar também apresenta em sua obra um certo surrealismo,6 ele aceita que uma outra realidade pode ser atingida dentro da realidade presente. Assim, para esse surrealismo, existe uma realidade percebida através dos sentidos e da lógica, que é encontrada na vida cotidiana, no trabalho, na tradição e nos hábitos. Mas também há uma segunda realidade que não se deixa entender facilmente e que perturba a comodidade e a tranqüilidade da primeira; uma realidade que não é sentida e sim intuída, uma realidade da imaginação com sua subconsciência e seus desejos. Dessa forma o surrealismo teve como intenção descobrir e explorar “uma realidade mais real que o mundo real, cruzando as fronteiras do real”. (Jogo de amarelinha) Um dos obstáculos para se chegar a essa “realidade segunda” é o uso das categorias lógicas de conhecimento e de instrumentos racionais. Clarice, assim como Cortázar, cria uma tensão rítmica entre dois espaços diferentes: o mundo circundante e o espaço interior. Para fins de maior compreensão, vamos aqui definir o que são esses espaços que irão permear a análise do conto.7 Como a abertura permite não somente a co-existência de dois espaços físicos ou de um espaço físico e outro onírico, ou outros ainda, mas também permite o diálogo de um espaço exterior e um interior, se faz necessário aqui conceituar e exemplificar esses espaços interiores que co-habitam aos físicos e metafísicos. Lembremos que é através do espaço interior que se tem percepção e consciência do espaço exterior.8 O espaço interior reflete o caráter sensório-sentimental, volitivo e racional do personagem. O entorno pessoal se caracteriza por um espaço ao redor do personagem no qual ele manifesta sua “territorialidade”. O entorno relacional é o espaço no qual há o encontro de dois ou mais indivíduos que interferem no entorno pessoal de cada um, seja pela invasão seja pela permissão. O mundo circundante é o espaço no qual todos os personagens e seus respectivos espaços estão inseridos, independente de estarem ou não se relacionando. Outro elemento que será utilizado no conto, como já visto, é o ponto vélico. Este ponto pode ser visto como uma fissura entre duas ou mais realidades aqui e agora, sendo um “lugar de passagem” para olhares mais observadores e questionadores. Cortázar menciona o ponto vélico quando fala do “sentimento do fantástico” que se encontra em Valise de Cronópio: …lembro-me sempre da admirável passagem de Victor Hugo: “Ninguém ignora o que é o ponto vélico de um navio; lugar de convergência, ponto de intersecção misterioso até para o construtor do barco, no qual se somam as forças dispersas em todo o velame desfraldado”. Estou convencido de que esta manhã Teodoro [o gato de Cortázar] olhava um ponto vélico do ar. Não é difícil encontrá-los e até provocá-los, mas uma condição é necessária: fazer uma idéia muito especial das heterogeneidades admissíveis na convergência, O ponto vélico foi apresentado e trabalhado em Moura (2004), na dissertação Abrindo as portas para ir brincar nos espaços de Final del juego. 6 Aquele surrealismo de Breton cujo ponto básico é a crença em uma realidade dual na visão de mundo. 7 Esses espaços foram apresentados e trabalhados em Moura (2004), na dissertação Abrindo as portas para ir brincar nos espaços de Final del juego (cap. II). Os espaços explorados neste artigo são, principalmente, o mundo circundante (exterior) e o espaço interior, mas existem outras diferenciações como: espaço interior, entorno pessoal, entorno relacional e mundo circundante. 8 Merleau-Ponty em sua Fenomenologia da percepção (1999) explica bem esse processo. 5
154
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
não ter medo do encontro fortuito (que não o será) de um guarda-chuva e uma máquina de costura. O fantástico força uma crosta aparente, e por isso lembra o ponto vélico; há algo que encosta o ombro para nos tirar dos eixos. Sempre soube que as grandes surpresas nos esperam ali onde tivermos aprendido por fim a não nos surpreender com nada, entendendo por isto não nos escandalizarmos diante das rupturas da ordem. (Cortázar, 1993, p. 179)
O ponto vélico, capaz de alterar o equilíbrio de tudo, força a “quebra” da crosta da aparência e traz a possibilidade de novas percepções. Este ponto pode estar presente em qualquer elemento ou objeto, trazendo ao leitor uma certa vertigem e desconforto. Lembremos que o sentimento mais comum na leitura da obra de Cortázar é o estranhamento,9 e que ele também aparece na obra de Clarice Lispector. Depois de expostos os termos que irão abrir as portas de nossa re-leitura do conto, passa-se então ao diálogo com a própria obra. Percebe-se que no conto Ana passa freqüentemente do mundo circundante para o espaço interior e vice-versa. Sendo que seu espaço relacional era restrito à família e de escasso intercâmbio, pois não possui riqueza de troca, e sim, na grande maioria das vezes, apenas doação. Esse conto apresenta vários “alimentos” ou elementos relacionados ao mastigar. Logo no início do conto Ana nos fala que seus filhos são uma coisa verdadeira e sumarenta, ou seja, de certa forma ela se “alimentava” dessa relação, tirava o sumo dessa convivência para alimentar a sua vidinha doméstica, ordenada, certa e previsível. Outros elementos como os ovos (que se quebram), as frutas, o mel, os bifes, as ostras e os jantares se juntam a um elemento principal: um cego mascando chiclete. O chiclete não é um alimento. Ele é mastigado apenas por prazer (traz um gosto diferente e não usual). E isso era algo que Ana não permitia a si mesma: fazer algo que não fosse útil, que não fosse alimentar a família e o seu sossego como mãe.10 A dona de casa Ana fez uma escolha na vida que a levou a caminhos diversos dos que ela poderia ter trilhado. Ela não tem conhecimento do que pode ter deixado para trás, mas percebe (uma vez ou outra) que esse caminho atual não a satisfaz. Ela tenta sublimar a dúvida, e possível desgosto, com cuidados à casa, aos filhos e ao casamento, porém há momentos, quando tudo está em ordem na casa e/ou quando seus filhos e marido estão ausentes, em que ela percebe a angústia11 que existe dentro de si. Nesse contexto percebese a importância dada por Ana ao mundo circundante em contraposição ao seu interior. Naquela sua vida rotineira ela vacilava, se arrastava, estacava (tal como o bonde), porém acontece algo estranho, de repente, não mais que de repente, ou seja, ela não estava buscando aquilo. E aquele algo estranho a faz aprumar-se (se coloca em estado de alerta, sai do estado de distração)12 e o ponto vélico do conto aparece: um cego mascando 9 Cleusa Passos aborda de forma exemplar esse sentimento em O Outro modo de mirar (1986). 10 A respeito da alimentação nesse conto, um artigo foi escrito por Moura, porém, não se sabe quando será publicado. 11 A palavra angústia possui em sua etimologia (latim) o espaço: significa estreiteza, limite, restrição (Cunha, 1996, p. 49). Já a palavra ansiedade (também de derivação latina) remete a angere que significa apertar, estreitar. Os dois termos estão associados à compressão do espaço. 12 A distração também é um elemento analisado por Cortázar. Ver Moura (2004) Abrindo as portas para ir brincar nos espaços de Final del juego. Cortázar, em entrevista a Bermejo (2002) e a Prego (1991), fala do estado de distração.
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
155
chiclete. Essa visão a desequilibra, a tira do prumo, abre uma porta pela qual Ana passa quase sem perceber. O que ela passa a perceber é que as coisas mudam e que essa mutação é principalmente sensorial … Quando ela penetra nessa outra realidade as leis mudam, nada mais é sólido. O insólito participa pela primeira vez. Nada era como antes, tudo balança, vacila, e certas “leis” imutáveis e “verdadeiras” se desfazem, como por exemplo, quando Ana descobre que: “a morte não era o que pensávamos”. (p. 36) Para os sentidos, tanto do tato quanto da visão, entre outros, o que era íntimo se torna áspero, perde o sentido, “tudo era estranho, suave demais, grande demais” e em contraste com o pequeno mundo áspero que ela (sobre)vivia ela passa a conhecer outro “mundo”: grande e suave … os sentidos se invertem como se pode perceber, pois o íntimo se torna áspero e também grande e suave. Grande em comparação com o pequeno que a angústia denuncia (lembrar da etimologia) e suave em contraste à dura rotina. É interessante observar os finais de cada parágrafo, pois, tal como em uma psicanálise, geralmente o mais verdadeiro sai nos finais das falas. Vejamos: logo no primeiro parágrafo um indício de que Ana não estava totalmente satisfeita, pois se recostou no banco do bonde “… num suspiro de meia satisfação”. (p. 29) No segundo parágrafo, ao falar de corrente de vida, ela traz ambigüidade, pois pode ser a corrente como continuação (vários elos juntos) mas também pode ser apresentado como uma “prisão”. Ela está acorrentada àquela vidinha. Outro elemento que remete a essa impressão é a necessidade de Ana de sentir a raiz firme das coisas, pois com raízes firmes o deslocamento pode ser impedido ou ao menos dificultado. Afinal, “a vida podia ser feita pela mão do homem”, (p. 30) ela podia “fazer” sua vida com suas mãos de cozinheira e dona-de-casa. Quando o narrador afirma que o que Ana tivera antes do lar se confundia com felicidade insuportável (o que vem a ser comprovado depois com os enjôos) e a troca disso por uma vida de adulto, compreensível; traz um dado, novamente final de parágrafo, que é: “assim ela o quisera e escolhera”. Aliás, frase que também finaliza o parágrafo seguinte, em uma repetição quase que obrigatória, como que para convencer. Convencer quem? Ana ou o leitor? Ou ambos? Novamente Ana respira profundamente (um suspiro oculto?), mas dessa vez “uma grande aceitação deu a seu rosto um ar de mulher”, (p. 31) ou seja, a vida de adulto que ela quisera e escolhera (?), uma mulher dona-de-casa, mas não dona de si. O próximo final de parágrafo inicia a transformação: “Foi então que olhou para o homem parado no ponto”. Justamente quando estava “descansando” ela tem essa visão que a perturba a tal ponto: “era um cego”, frase de final do parágrafo, aliás, tão curto quanto o anterior e o seguinte que termina com: “um homem cego mascava chicles”. No próximo parágrafo Ana ainda tenta recuperar a “sanidade” pois “ …ainda teve tempo de pensar por um segundo que os irmãos viriam jantar”. Novamente, tanto a família quanto o “comer” e o mundo exterior, com seus relacionamentos externos re-aparecem em primeiro plano. É a partir do instante da visão do cego mascando chicletes que seu coração bate violento e espaçado … é a partir daí que ela vê que não há sofrimento no cego (e que há nela), em que ela vê o “sorriso” nascido da mastigação do cego e em que ela vê esse sorriso como um insulto dirigido a ela. Pode-se associar novamente ao chiclete mastigável mas que não deve ser engolido – do cego – para o que vai estar na mesa de Ana à noite, que é mastigável e que deve forçosamente descer garganta abaixo. O cego
156
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
então está livre disso, é como se ele sorrisse para Ana o seu controle e sua capacidade de exercer escolhas. É nesse instante que qualquer pessoa que a visse “teria a impressão de uma mulher com ódio”. (p. 32) É nesse momento que ela está distraída13 e que com o movimento do bonde ela deixa cair seu pesado saco de tricô (que de certa forma representa aqui a vidinha dela, levando alimento aos outros, também feita pela mão do homem). Neste instante a vida dela, tal como o saco, “ruiu no chão”. Tudo que ela construiu cai nesse momento. Por isso considero o cego como o ponto vélico desse conto, pois transporta Ana a outro mundo que veremos adiante. A última frase desse parágrafo? “Os passageiros olharam assustados” (p. 32) que pode remeter tanto ao fato de se assustarem com o grito dado por Ana, como também pode remeter a uma percepção deles para uma certa mudança na personagem. O parágrafo seguinte mostra a mutação que ocorre em Ana e, ao mesmo tempo, a vida rotineira que continua independente da mudança interior da personagem, pois a frase final desse parágrafo é: “… o bonde deu a nova arrancada de partida”, (p. 33) ou seja, a vida continua independente do que está acontecendo dentro de Ana. Tanto é assim que o parágrafo seguinte termina com a frase “mas o mal estava feito”, frase, aliás, que é repetida no parágrafo seguinte. Estas repetições: “o mal estava feito”, (2x na pág. 33) “Assim ela o quisera e o escolhera” (2x na pág. 31), podem parecer um convencimento neste, e um descobrimento naquele. Mas de certa forma há um cinismo aí, pois esse escolher do ser humano é minúsculo por vezes. Pensemos no livre arbítrio, alguém já disse que ele é do espaço que sobra entre um violino e sua caixa. Quem quis? Quem escolheu? No conto se percebe claramente duas Anas. Aliás, o próprio nome ANA já é especular: um A “olhando” outro A através de um espelho N. No caso, a imagem vista por cada A é inversa: N ou N. Como possibilidades de mundos diferentes.14 Desse momento em diante Ana experimenta uma outra “vida” ou realidade que lhe traz culpa e enjôo. Como ela mesma fala: “o que chamava de crise viera afinal”. (p. 33) Nela, ela sentia um prazer intenso, achava que na rua Voluntários da Pátria estava prestes a rebentar uma revolução. “Ana caíra numa bondade extremamente dolorosa”, (p. 34) através da piedade aparecia uma vida cheia de náusea doce, uma fraqueza, uma desorientação. Sentia medo por não saber onde estava (este deslocamento não era só físico), um território desconhecido, não somente físico, mas também interior. Essa revolução e crise são interiores. Se inicia, a partir do contato visual com o cego, o contato não tão visual com seu espaço interior. Ela andava pesadamente (leis que mudam), ela adormecia dentro de si e percebia que tudo era estranho, suave demais, grande demais. Os opostos de sua vida presa, pequena, áspera se contrapõem, como já visto. Ela tinha o sentimento de ter caído em uma emboscada, era como ela entrasse em um labirinto que a levasse para dentro de si mesma. O mundo circundante e o mundo interior da personagem se contrapõem. Esses opostos já são evidenciados desde o início, quando o narrador informa que Ana sublimara sua própria desordem com seu gosto pelo decorativo [“com o tempo, seu gosto pelo decorativo se desenvolvera e suplantara a íntima desordem” (p. 30)], ou seja, 13 Rever nota de rodapé anterior. 14 Lembrar que o n na área experimental é usado para indicar um número repetido de experimentos, sem a necessidade de sua especificação. No caso do conto poderia haver n possibilidades de Ana “despertar”. Uma delas foi o cego mascando chicletes.
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
157
ela tinha consciência (no fundo) de uma desordem interior. Novamente a “luta” entre exterior e interior transparece. Nessa luta o desejo de retorno ao “paraíso” perdido se reflete no local de descida do bonde: o Jardim Botânico. Da descida do bonde e na entrada no Jardim Botânico, o espaço se transforma, os sentidos se modificam e tudo se torna diferente, como um mundo descoberto por uma menina que seguiu um coelho correndo ou por uma mulher que viu um cego mascando chiclete. Esse mundo tão rico que apodrecia, esse mundo com um abraço macio e colado, esse mundo faiscante e sombrio, “era um mundo de se comer com os dentes”. (cf. p. 36) Tal como o cego fazia com o chicles … “Agora que o cego a guiara até ele”, (p. 36) ele a guiara até o jardim, o boosco deleitoso. E ela achou que o “Jardim era tão bonito que ela teve medo do Inferno” sendo que esse inferno pode ser metaforizado na vida (mundo cotidiano e exterior) que ela tinha até o momento. Ana aspirava esse mundo maravilhoso, era fascinante e ela tinha nojo, mas é nesse momento que ela lembra das crianças e novamente sente a culpa. A guerra entre os mundos não cessa. Com “exclamação de dor” se levanta e tenta sair pelos portões que já se encontram fechados, como se quisessem “salvar” ela do mundo anterior. Retorna para casa, sentindo que esse mundo sim era seu: sujo e perecível, porém seu. Ocorre um estranhamento nesse retorno: ela se pergunta “que nova terra era essa?” e lhe parece que vida que teve nesses poucos instantes anteriores era um “modo moralmente louco de viver”. Retorna assim ao seu mundinho criado, ao seu modo “moralmente são” de viver. Abraça muito forte seu filho como se quisesse reter essa vidinha dependente em seus braços para sempre e assim apagar o sentimento anterior: “Não deixe mamãe te esquecer”. (p. 38) Ela não precisa ter esse receio, pois seus dedos ainda estavam presos à rede …. apesar do cego ter permitido que seu coração se enchesse com a “pior vontade de viver”. Percebe-se que a “luta” continua, pois apesar de se encontrar em seu território cotidiano, sentia que o jardim a chamava, que o cego a tinha levado ao pior dela mesma: a possibilidade de uma vida diferente (e conseqüentemente sua insatisfação). Houve uma revelação, houve uma epifania que nunca mais a deixaria. Como estava com medo, levantou-se e foi até a cozinha para ajudar a empregada a preparar o jantar (novamente a rotina e o cotidiano são “soluções” de suas dúvidas, seus desejos e seus medos). O cuidado com o mundo exterior sobrepuja o pensar do mundo interior. Mas já é tarde demais. O cego a fez ver que há mais espaços além das paredes de casa, mesmo com outro cego (seu marido) a levando ao interior das paredes: “levando-a consigo sem olhar para trás, afastando-a do perigo de viver”. (p. 41) Sim, viver é muito perigoso, já dizia Riobaldo. Ao final, Ana (com seu nome especular) se penteia na frente do espelho (que permite a visão do exterior - mundo circundante; e do seu rosto - mundo interior). Pode-se perguntar quem, afinal, dentre as duas é sujeito, quem é objeto. E a pequena chama (hoje acesa) que poderia iluminar seu caminho de “cega” é apagada por ela. Ela decide retornar ao conhecido, ao “normal”, ao cuidado com a casa, marido, filhos e sem tempo para si no mundo. Ela retornou, mas no fundo sempre saberá que existe em outro “mundo” um cego e um Jardim esperando por ela. Basta ela assim o quiser e escolher …15 15 Existem outros textos de Clarice que também traduzem um sentimento diferente ou de “dor” relacionado ao amor ou prazer, alguns deles são: “O nascimento do prazer”, “A lucidez perigosa”, “Não entendo …”, entre outros.
158
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
Para finalizar este artigo, apenas insiro um trecho de Clarice que Cortázar utilizou como epígrafe em seu conto “Anillo de Moebius”. O trecho transmite a imagem criada no conto Amor: Imposible explicarlo. Se iba apartando de aquella zona donde las cosas tienen forma fija y aristas, donde todo tiene un nombre sólido y inmutable. Cada vez ahondaba más en la región líquida, quieta e insondable donde se detenían nieblas vagas y frescas como las de la madrugada. (Clarice Lispector, Cerca del corazón salvaje)
Bibliografia Bermejo, E. G. Conversas com Cortázar. Rio de Janeiro: Zahar, 2002. Cortázar, Julio. Último Round. Madrid: Siglo XXI, 1974. ______. Jogo de Amarelinha. Rio de Janeiro: Civ. Brasileira, 1999. ______. Valise de Cronópio. São Paulo: Perspectiva, 1993. Cunha, A G. Dicionário etimológico. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1996. Lispector, Clarice. Laços de família. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1995. Merleau-Ponty, Maurice. Fenomenologia da percepção. São Paulo: Martins Fontes, 1999. Moura, Susan Blum P. Abrindo as portas para ir brincar nos espaços de Final del juego. Curitiba: UFPR, 2004 (dissertação). Passos, C. R. P. O Outro Modo de Mirar – Uma leitura dos contos de Julio Cortázar. São Paulo: Martins Fontes, 1986. Pontieri, Regina (org.) Leitores e leituras de Clarice Lispector. São Paulo: Hedra, 2004. Prego, O. O fascínio das palavras – entrevistas com Julio Cortázar. Rio de Janeiro: José Olympio, 1991. Vários autores. Clarice Lispector, a narração do indizível. Porto Alegre: artes e ofícios, 1998.
* Susan Blum é graduada e mestre em Psicologia pela PUC/PR.
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
159
o chamado da
MÍDIA EXTERIOR REGIANE CAMINNI PEREIRA DA SILVA*
Introdução Hoje, inegavelmente, os espaços das cidades passaram a ser um canal de comunicação. Qualquer metrópole ou cidade que expanda e movimente o seu espaço urbano torna-se um lugar apropriado ao convite do consumo. Na maioria das vezes, o universo da venda invade o nosso transitar sem se preocupar se estamos interessados ou não em comprar. Nem sempre as operações para essas vendas são diretas. Geralmente, a exposição ou exibição das peças publicitárias funciona como reforço, pois já transitaram por outros meios de comunicação. O fato é que, para esse evento publicitário, de um mercado ao livre, são convocadas outras mídias para tal processo comunicativo, que passam a ocupar esses espaços. E, é justamente, essa relação entre mídias, espaço urbano e sistemas culturais que interessa para a reflexão deste artigo ao articular as linguagens que participam desta produção comunicacional. Há muito tempo, os outdoors não promovem a venda sozinhos, mas também os veículos em movimento carregam os anúncios, por exemplo, como também, telões televisuais são expostos em grandes avenidas. Podemos, então, perceber que a publicidade interfere na paisagem urbana. Ela desvia os nossos sentidos daquilo que é próprio de uma arquitetura e paisagem de uma cidade. De um outro lado, poderíamos pensar se ela
harmoniza-se ou relaciona-se com os diversos elementos do espaço urbano. Naturalmente, um desenho na cidade organiza-se diante da entropia existente da convivência entre diferentes. E, nesse sentido, esse desenho urbano faria-nos um convite para uma nova leitura da cidade. Essas são algumas das possibilidades geradas por essa produção entre cidades, mídias e publicidade para pensarmos. Afinal, o homem passa grande parte do tempo transitando nesse espaço, onde as mídias foram levadas para as ruas. A chamada mídia exterior nos disponibiliza de um manancial de linguagens para a reflexão de como olhamos a cidade diante dos meios de comunicação existentes em inter-relações com os sistemas culturais expostos. A mídia exterior é importante aos olhos da semiótica e ao estudo das mídias como frutífero trabalho interdisciplinar como nos diz Nöth, (1996: 49) em que a propaganda é uma importante área do estudo da semiótica aplicada. O objeto que trago para tal investigação é emblemático e poderíamos, até, dizer histórico. A campanha publicitária Faz um 21,1 vinculada aos serviços de sistemas de telefonia da Embratel, foi protagonizada pela atriz e modelo Ana Paula Arósio com exclusividade intensa no seu primeiro ano de veiculação. Já no final de 2000 outros atores, não conhecidos, foram arriscados a aparecer nessas mostragens, mas a imagem de Arósio garantiu-se no domínio até 2004. Em 2005 já pudemos ver outros atuantes, tanto atores desconhecidos do público geral como algumas celebridades como Marília Gabriela, que até então representou a concorrente 23 e Maria Paula. O período de seleção para este artigo está entre os anos de 1999 a 2001,2 justamente pelo modo como tal publicidade concentrou-se na cidade de São Paulo, especificamente. Esta campanha, neste período, caracteriza a mídia exterior como um grande chamado no espaço urbano. Não havia como deixar de vê-la e por isso traga-a como referência para pensarmos na construção da produção comunicativa desta mídia. Ela envolve, através da publicidade, as linguagens do ator, televisão, fotografia, espaço urbano, recepção; portanto, caracterizou ativamente o processo de modelização3 que envolve a mídia exterior, confirmando assim a importância e atualidade dos estudos lotmanianos (Lótman et allii 1981)4 da semiótica da cultura. Iúri Lótman defendeu a idéia da convivência entre as diversidades num mesmo espaço cultural por meio de seu conceito de semiosfera (Idem., 2000) Nessa abordagem tanto as relações como as conexões são importantíssimas para compreender os encontros entre sistemas tão diferentes. Era impossível na cidade de São Paulo não se deparar com as imagens da atriz e modelo. As fotos da performer,5 em primeiro plano ou plano médio e com o estereótipo 1 A Garota da Embratel: Faz um 21, ações criadas em conjunto pela Carillo Pastore e W/Brasil Filmes, 1999. 2 Esta campanha fez parte do estudo de minha dissertação de mestrado, na qual trabalhei o trânsito do ator de televisão para outras mídias. Migrações do texto-imagem-ator a outras mídias – O ator televisual nos trânsitos midiáticos em O ator televisual nos trânsitos do tecido cultural-midiático, PUC-SP, PEPG em Comunicação e Semiótica, sob a orientação do Prof. Dr. Renato Cohen (in memoriam), 2001. 3 Recodificação no processo comunicacional, em que o objetivo é conferir estruturalidade a sistemas que, por natureza, não dispõem de um modo organizado para a transmissão de mensagens. MACHADO, Irene. Vocabulário básico de semiótica da cultura em Escola de semiótica, 2003, p. 163. 4 Vejamos Lótman como representante do grupo de Tártu da semiótica russa, mas também, estão envolvidos nestes estudos, ensaístas como Uspenski, Ivanóv, Mink, entre outros. 5 Chamo de performer, pois o conceito de ator hoje vem se ampliando ou abrindo vertentes com a sua inserção na TV como campo de atuação. Outras espécies de agentes televisuais fazem uso da representação de caráter cênico, não mais somente o ator no seu conceito.
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
161
gesto da mão de quem vai telefonar, ficavam estampadas continuamente, nas vias públicas de maior acesso e movimentação dos bairros paulistanos,6 como as avenidas Vinte e Três de Maio, Brasil, Henrique Schaumann, Sumaré, Indianópolis, Domingos de Morais, Radial Leste, Marginal Pinheiros, Vicente Rao e tantas outras. Esta veiculação também foi reforçada anterior e paralelamente, pelas mídias televisual e impressa. A campanha foi um típico objeto semiótico de exemplificação para a reflexão da qual fazemos aqui, isso pela signicidade que acabou criando no espaço urbano em rede com as demais mídias. A ação do signo Faz um 21, por meio da imagem de uma pessoa em específico, instaurou um comportamento através de seu chamado. Isso porque a sua maior exposição foi nos relógios públicos - um hábito de consulta secular do homem. O chamado era um convite para o ato de telefonar no cotidiano do indivíduo e parecia não deixar espaço e lembrança para que ele escolhesse outro serviço interurbano de telefonia. Nas tramas do tecido cultural, imagens, textos, códigos, linguagens migram de uma mídia para outra. Temos aqui, de imediato, dois elementos que participam do processo desta mídia: a imagem da performer e o espaço urbano. Arósio traz consigo, pelo menos, as linguagens do ator e da televisão; a cidade, por sua vez, traz a da recepção nos movimentos da percepção de motoristas e pedestres, que dão de cara com enormes outdoors ou relógios no meio das vias públicas.
A mídia exterior Antes de darmos continuidade às articulações entre mídias, a publicidade em específico e a paisagem urbana numa conexão entre várias linguagens, é necessário conhecer um pouco mais sobre o que é a mídia exterior. As duas referências que se seguem são de um momento em que tal mídia estava em destaque no meio publicitário, oferecendo-nos inclusive um caderno especial que articulava as relações que esta mídia vinha estabelecendo com a cidade, o que coincide muito com as reflexões deste artigo. Por isso, fiz questão deixá-las nas datas consultadas no primeiro estudo que fiz desta temática. A mídia exterior7 no Brasil compreende os outdoors, que atuam isoladamente, mais os painéis eletrônicos, back e frontlights, busdoors, taxidoors, mídia no metrô, relógios, pontos de ônibus. É também conhecida como mídia extensiva e mídia complementar, no sentido de reforçar, dando continuidade à publicidade já veiculada em outras mídias. Ela está permanentemente em cena, não nos palcos, mas nas ruas, ou melhor, por onde transitam os homens nas atividades do seu dia-a-dia. E, com certeza, foi o grande achado das empresas de propaganda e publicidade para exporem seus produtos aos consumidores, tanto que o meio a tem definido como: A chamada Mídia Exterior é o ramo da publicidade que compreende peças como painéis eletrônicos, luminosos, publicidade em ônibus, táxis, etc, todas
6 A cidade de São Paulo foi eleita como o espaço da observação, pelo fato de eu transitar continuamente nela, podendo vivenciar tais percepções. 7 O caderno especial da revista referida foi de grande contribuição a este artigo, em relação a dados técnicos, como a própria reflexão do estudo. M & M Especial: Mídia Exterior. Editor: Roberto Perrone. 27.03.2000.
162
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
destinadas à veiculação de peças de propaganda. Essa atividade vem crescendo sensivelmente nos últimos anos, fato que gerou o surgimento de novos modelos de peças, tecnologias avançadas para a criação de anúncios atraentes e criativos.8 (Sinal Extensivo 2000)
Para ela construir-se no espaço urbano, relaciona-se e estabelece uma rede de diálogos com outros sistemas da cultura, como também com outras mídias para atingir o objetivo de propagar a sua publicidade, realizando transferências, passagens e deslocamentos de códigos de várias linguagens num processo de intercâmbios. Tal foi o seu crescimento que passou de simples outdoor em painéis de papel a telões cinematográficos, os quais exibem as propagandas, dando-nos a sensação de estarmos assistindo à TV na rua, dentro de um veículo ou a pé. E é, justamente, por fazer uso de várias linguagens que se encadeiam uma na outra, que podemos considerá-la como um sistema modelizante numa dinâmica infindável. No seu desenvolvimento, apresentação e relações com outras linguagens presentes neste espaço, predominam os códigos visuais que, geralmente, estão acompanhados dos códigos verbais, seja de forma explícita ou subtendida, fazendo uso dos códigos cinéticos para provocar a sensação de movimento no receptor. Num processo contínuo, vai estabelecendo uma imagem na mente do consumidor ao exibir seus quadros nas ruas. O que há de comum entre os outdoors, frontlights, taxidoors, busdoors, relógios é o fato de serem apresentados como quadros numa ditadura visual, dando a sensação de estarem em movimento. Esta sensação é causada pela sucessividade em que se apresentam ao transitarmos nas vias públicas, seja através do nosso próprio movimento de receptor ou do veículo que nos conduz. Mas além do uso da estruturalidade9 destas linguagens de familiaridades mais “atuais” como a televisão e a computação gráfica, que já possuem em si a interação de várias linguagens e códigos, há a memória reestruturada de alguns elementos e atuações da linguagem das artes no seu caráter de performatizações e mesmo no uso de algumas palavras. A publicidade comanda a movimentação das comunicações na nossa contemporaneidade, ela coloca quem, como e onde ela quiser, só que sempre reutilizando conceitos, elementos de outras linguagens.
O mercado de publicidade ao ar livre O mercado de publicidade ao ar livre (ou Mídia Exterior) vem crescendo em média 35% ao ano no Brasil. Os investimentos feitos em publicidade, através desse tipo de mídia, alcançaram a marca de R$ 150 milhões de reais (base novembro de 1999), número invejável quando comparado com outras mídias
8 Referências e dados através do site da revista SinalExtensivo: www.sinalextensivo.com.br/imprensa/ mar2000/press4.htm em 11.11.2000. Atualmente o site dessa revista encontra-se fora do ar. 9 “Dinamismo modelizante que garante a organização de um sistema como linguagem, ainda que não possua uma língua, ou seja, uma estrutura regulada por um código definido”. MACHADO, Irene. Vocabulário básico de semiótica da cultura em Escola de semiótica, 2003, p.158.
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
163
tradicionais que vêm mantendo o mesmo volume de investimento e outras que até mesmo vêm perdendo terreno ano a ano. (fonte Projeto Inter-Meios). O crescimento dos investimentos, aliado à crescente profissionalização das empresas que trabalham nessa área vem proporcionando um campo promissor para anunciantes que, a cada nova campanha, destinam mais verbas para as mídias exteriores. (Sinal Extensivo 2000)
A mídia exterior chega a ultrapassar o rendimento da propaganda em rádio. E para que o espetáculo faça sucesso, garantindo um excelente rendimento, o casamento entre as agências, que dão asas à imaginação e os clientes, que comprovam a eficácia da mensagem, vem dando certo. Os negócios e os segmentos crescem gradativamente. É nos segmentos que ela desenvolve, cada vez mais, relações com os transeuntes e espaços da cidade, oferecendo-nos grande material para estudos semióticos da comunicação.
Embratel: Faz um 21 O tema publicitário consiste na propaganda da opção de escolha para o número 21 - Embratel para as chamadas interurbanas e internacionais dos sistemas de telefonia agenciada por Ana Paula Arósio, que traz, para o ato performativo, a sua própria imagem. Este momento da campanha foi emblemático para a mídia exterior pela quantidade de imagens que se expunham exaustivamente na cidade, desde 1999 a 2001. O relógio é muito perceptível, tornando-se uma mídia muito bem recebida pelo público, a qual está associada a algum tipo de serviço, além do que é impossível passar por esses locais e não os ver, pois estão colocados proposital e criativamente em pontos estratégicos. O discurso apresentado visualmente pelos quadros consistia num chamado que convidava para telefonar no momento em que se ia olhar as horas e subtendia, conseqüentemente, um slogan como: “É hora de ligar”, expondo a equação - Embratel = hora + telefonar. A própria composição visual do quadro foi montada de forma a que todos os elementos construíssem uma mensagem marcada pelo movimento, ação e atitude. O “texto-imagem” da atriz-modelo Ana Paula Arósio, advindo da televisão à paisagem urbana, é, publicitariamente, carregado de codificações que, por sua vez, expõe-se modelizantemente como mídia externa, compartilhando o espaço urbano nos processos recodificativos. Chamo Arósio de “texto-imagem” como peça publicitária, pois traz em si um discurso visual que foi sendo construído a partir de sua própria imagem atuando nas mídias e, também, por possuir um caráter dinâmico que pode ser pensado a partir do conceito de texto da semiótica russa. Procuro pensá-lo, principalmente, a partir da reflexão do conceito de Lótman (1978: 107 e 1999), em que o texto pressupõe um caráter codificado e é visto como resultado da interação de linguagens e códigos numa relação temporal ou espacial, dialogando consigo próprio ou com outros signos, ao mesmo tempo em que ele comunica, gera novos sentidos, transmitindo significados e interesses publicitários. Todas as relações de texto foram criadas ou possibilitadas a partir da imagem que se construiu de Arósio, imagem esta carregada dinamicamente de texto no texto, (Idem., 1993) textos em que a atriz ou modelo ou atriz-modelo vai tecendo nos gêneros em que 164
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
participa do tecido cultural-midiático: nos gêneros ficcionais televisuais, como as novelas; no universo da moda ou no mundo fashion e na publicidade. Por isto a imagem aqui ganha dimensão, não é simplesmente o visual, mas uma construção midiática que se personifica por meio da imagem. É importante ressaltar que esta campanha publicitária entrou em veiculação no momento em que a atriz protagonizava a telenovela Terra Nostra,10 em horário nobre da televisão brasileira, na Rede Globo, que é uma emissora de grande audiência no país e também de alcance em outros países. Portanto, a publicidade11 aproveitava o “gancho” de sua participação na telenovela, dando início às suas performatizações da garota Faz um 21 - via TV, mídia impressa e exterior. Nesta modelização, trazemos não só linguagens, mas, justamente, um texto que já se formou a partir da imagem que se criou da atriz. Um texto que interage com as linguagens da televisão e do ator, modelizando-se como mídia exterior. Da televisão podemos considerar, pelo menos, o enquadramento em plano médio ou primeiro plano, da qual se apresentam as “fotografias” em quadros sucessivos que, num veículo em movimento, tínhamos a sensação de estar assistindo a algo através destas imagens. Do ator, observamos a migração do “texto-imagem” da atriz televisual à publicidade, e que, também nesta propaganda, já havia sido veiculada na televisão com representação cênica da própria atriz, registrada na memória do receptor do espaço urbano a sua voz dizendo Faz um 21. Além do que, a disponibilidade físico-espacial de como se apresentavam os outdoors, lembrava-nos da exposição do ator no palco italiano como foco das atenções e, portanto, “teatralizava” o ato comunicacional. Estes textos permaneceram durante um bom tempo, invadindo nossas percepções visuais, onde numa mesma via pública paulistana a víamos várias vezes a poucos metros de distância, quando não, duas imagens suas destacavam-se à nossa frente. Agora, para uma melhor compreensão de como esta mensagem se construiu, é preciso investigar como se deu à composição dessas imagens, principalmente pela forma como elas se apresentaram. As fotografias da performer nos relógios eram apresentadas em primeiro plano, evidenciando algumas partes de seu corpo a partir do busto para cima, com sutis variações de ângulos da sua frontalidade e com roupas que variavam nas cores branca, bege e azul-escura, de uma foto para outra.
10 BARBOSA, B. R. Terra Nostra. Direção: Jaime Monjardim. TV Globo, 1999/2000. 11 Tal força marcou a imagem da atriz na campanha, que o diretor Luiz Fernando Carvalho, da minissérie Os Maias (2001), na Rede Globo, decidiu mudar a cor dos cabelos da atriz para desvinculá-la da memória criada pela peça publicitária.
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
165
Os braços não apareciam por inteiro. Em um dos quadros, havia parte de seu braço direito como continuidade do ombro que supunha apoiar-se na cintura. O rosto se mostrava com uma das mãos direita ou esquerda, no estereótipo gesto, de quem vai telefonar. A boca, em meio sorriso, parecia falar Faz um 21, havendo uma leve inclinação do peito para frente, impondo presença. Esses detalhes do corpo completavam-se com os enunciados verbais. A composição lembrava-nos a montagem das histórias em quadrinhos, em que as falas são colocadas num balão acima das cabeças das personagens e o slogan Faz um 21 estava bem acima de sua cabeça em letras brancas com ponto final, o 21 terminava de forma inclinada, tirando parte do número 1. A sensação que dava era que ela falava tal frase ao público que, de certa forma, já estava na sua memória, pois a peça publicitária já havia sido veiculada anteriormente na televisão com representação cênica da própria atriz. Na parte inferior da composição, a Embratel registrava, em preto ou branco, contrapondo a cor da roupa, a sua marca que escrevia o próprio nome seguido do E ao l por uma linha semicircular que carimba o 21 acima da letra m. O formato destes relógios assemelhava-se ao design dos relógios digitais de pulso, registrando, abaixo da imagem, as horas ou a temperatura em branco sobre fundo preto. Geralmente, o primeiro ato como receptor, era ver as horas ou a temperatura, mas que nos levavam conseqüentemente, de forma praticamente imperceptível, ao rosto da performer, que nos falava Faz um 21. O interessante era que estes quadros-relógios, quando numa mesma via, seguiam-se como num movimento de um filme, com poucos metros de distância um do outro, mudando sutilmente nas fotografias os ângulos do rosto, ora bem frontal com a mão do lado esquerdo, ora com o queixo inclinado para cima com a mão do lado direito, ora com o queixo para baixo com a mão do lado direito, mas mantendo a mesma gestualidade, reforçando a idéia de parecer que estavamos assistindo a algo. O anúncio publicitário que pegava-nos, num primeiro momento, pelo movimento das imagens da televisão e pelo ritmo de sua sonoridade, “reproduzia-se” também na paisagem urbana. Nesse sentido, no espaço da cidade ele utilizava-se da estruturalidade da linguagem da TV, mas só que quem fazia o movimento nesta situação não era a câmera, mas sim o nosso olhar ao transitarmos. “Inconscientemente” éramos pegos ou convida-
166
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
dos a fazer um 21 pelo excesso de imagens que nos eram expostas ao olharmos ou consultarmos as horas: é hora de telefonar! Já as fotografias da performer nos outdoors iluminados eram apresentadas tanto em plano médio como em primeiro plano, que aproximavam o seu rosto de um close sobre um fundo azul, como nos relógios. O slogan Faz um 21 e a marca da Embratel mantinham-se respectivamente acima e abaixo e variavam mais para a direita ou esquerda, dependendo de onde estava posicionada Arósio. Ambas as frases estavam em letras brancas. Quando em primeiro plano, estava vestida com uma camiseta azul-escura, na qual o 21 da marca Embratel centralizava-se no seu peito, seus braços apareciam, um se apoiava na letra E, e o outro dobrado faziao o gesto de quem ia telefonar, tinha o cotovelo saindo da letra b, assim se frisava o triângulo imaginário entre E, b e sua ponta evidenciava o 21. O 21 tanto podia ser lido pelo movimento deste triângulo, como do outro que se formava a partir dos cotovelos dos dois braços que tinham como centro de sua base o 21 e fazia sua ponta no rosto da atriz que era indicado pelo gesto da mão para telefonar. É importante ressaltar que tanto nestes outdoors, como nos relógios, o número 21, apresentado duas vezes, era conduzido por uma linha imaginária diagonal de leitura, pegando de baixo para cima, da esquerda para a direita, o 21 da Embratel para o 21 de Faz um 21. Em alguns dos mais recentes outdoors, encontramos somente o slogan e a performer, pois parece que a publicidade acredita ter reforçado, duplamente, o 21 na memória do público pelo tempo exposto da campanha na paisagem urbana. Esta composição visual bem elaborada dos relógios e outdoors facilita uma boa e rapidíssima “leitura” receptiva de utilidade ao público que transita na cidade, mas que não se limita apenas ao caráter visual em si dos quadros, pois estes se integram ao espaço urbano. A localização dos relógios e dos outdoors concentrava-se em pontos privilegiados. Os relógios encontravam-se em canteiros centrais de grandes avenidas, ou nas suas marginais, ou em cruzamentos. E quando nas vias de grande movimentação, apresentavamse em média de quatro a seis quadros mantendo um espaço aproximado de quinhentos metros entre eles. Após um ano e alguns meses de exposição, alguns deles foram substituídos por outros anúncios publicitários, mas algumas avenidas ainda concentravam essa quantidade, provocando o consumidor através destes quadros a que “assistia”, a consumir o 21 na hora de fazer suas ligações, pois, afinal, foi um dos serviços mais precisos e criativamente reforçados em tempo e espaço pela publicidade. Os outdoors encontravam-se, isoladamente, sem a companhia de um outro ao seu lado, como acontece com os mais tradicionais. Porém eles apareciam em lugares que elevavam e destacavam fisicamente a presença de Arósio e cumpria, geralmente, a função de reforço à imagem vista anteriormente nos relógios, a poucos metros de distância. Ou então se apresentam sucessivamente em número de quatro ou cinco, com pouquíssimos metros de distância, como foi o caso dos painéis expostos na Marginal de Pinheiros entre a Ponte Eusébio Matoso e o Jóquei Clube, tal que um painel “abria uma janela para outra” como numa exibição. Um outro momento que merece atenção à observação foi o mega painel, que se apresentava na Avenida Roque Petroni, na saída principal do Shopping Morumbi. A impressão que dava era de que, ao sairmos de um centro de consumo, dávamos de frente com o pedido Faz um 21, como se desembocássemos num paredão. E para quem seguia em direção à região de Interlagos, ou à Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini ou à
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
167
Marginal de Pinheiros continuava visualmente recebendo o anúncio da Embratel através de seus relógios ou outdoors. Enfim, era praticamente impossível não se render ao apelo produzido na cidade pela mídia exterior.
Não podemos esquecer que estas peças situavam-se em locais que, além da grande movimentação, também se relacionavam com outros anúncios e com as sinalizações do trânsito. As relações são infinitas, mas há uma preocupação de provocar o desejo de alimentar tal consumo. Um dos bons exemplos estava no cruzamento das Avenidas Ibirapuera e Indianopólis, que continuava como Avenida República do Líbano, com vários sinais de trânsito e faróis. Antes do término de cada avenida, havia um relógio, que era reforçado por um outdoor que se encontrava no estacionamento do supermercado Pão de Açúcar.
168
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
Um outro exemplo era o relógio situado na Avenida Vicente Rao, próximo a um farol de cruzamento, que se relacionava seguidamente ao consumo através das peças que marcavam um estabelecimento do McDonald’s e posto Esso. Exemplos estes que se repetiam em outros pontos da cidade. O importante era perceber que o consumo relacionavase com o alimentar-se, fosse de comida, de combustível, de fita de vídeo, de comunicação. Estas relações com os vários textos da cidade compunham a paisagem urbana, produzindo o tecido de movimentação das grandes metrópoles.
A mídia exterior em ritmo de produção Cada vez mais agências de publicidade e seus clientes rendem-se à importância da mídia exterior no mundo das comunicações e num ritmo acelerado colocam, nas ruas, seus produtos em quaisquer lugares públicos chegando a “invadir” até mesmo os privados. É impressionante a gama de relações que ela vai produzindo na cidade como um arranjo de sistemas para poder aproveitar quaisquer espaços que possibilitem o olhar disponível do consumidor. Podemos perceber que as relações que estabelece com os espaços da cidade não se restringem apenas a lugares vagos, como os tradicionais painéis de outdoors. Imóveis e veículos ganham também a função de palco cênico, cedendo suas propriedades para venda de terceiros numa troca medieval, mas capitalista na compra e venda de produtos. Fazendo jus à expressão usada para a mídia exterior pelos profissionais do meio: o mercado de publicidade ao ar livre, que não deixa de ser uma feira, pois venderá mais quem “falar” mais alto, e assim os segmentos desta mídia acabam se integrando ao meio. A mídia exterior encontra êxito absoluto para o seu espetáculo na cidade de São Paulo, por exemplo, porque a grande concentração de consumidores está sempre em movimento, passando a maior parte do tempo nas ruas de trânsito lento, expostos aos anúncios num contato intenso, dilacerante e exaustivo. Torna-se praticamente impossível
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
169
não os ver e não os ler. O consumidor passa a ser visto como peça disponível a estímulos e a mídia exterior acaba ficando mais na memória da pessoa do que qualquer outra mídia, inclusive da televisão, pelo fato da população ter um maior tempo de contato visual exposto. Afinal, quando estamos nos congestionamentos, acabamos pegando outros aspectos que podem ter passado desapercebidos na TV. E, também, porque a maior parte desta mídia ainda se concentra no caráter fotográfico das imagens, já nos trazendo pronta a seleção de imagens, permitindo um tempo de leitura rápido. O sucesso obtido pela publicidade pode encontrar semioticamente suas respostas e elaborações nos arranjos de sistemas que a mídia exterior acaba produzindo na paisagem urbana, quando opera a busca de uma linguagem própria através do tempo, espaço e tendo em foco atingir o elemento humano. A mídia exterior faz uso da estruturalidade de outras linguagens, como também da renovação dos textos de arte para passar as mensagens de suas informações, isto porque a estruturalidade evoca um princípio dinâmico em que podemos ver linguagens em um sistema carente de uma linguagem própria e exclusiva. Vista por um processo semiótico de relações de sistemas, as fronteiras entre as mídias não são estabelecidas, e não poderemos saber até onde irão os seus limites de criação e alvo. Ao recodificar as linguagens usadas em outras mídias, a mídia exterior opera traduções nas passagens de um meio para outro, de forma a adequar o seu objeto de venda ao espaço e tempo em que se insere. Do ponto de vista performático, vemos que ela vai buscar esta característica na tradicionalidade teatral, recriando a cidade como um palco de representações e, se vista à noite, pode dar um show a partir das iluminações de alta tecnologia de suas peças publicitárias, provocando encantamento e sedução visual quando bem elaborada. A estruturalidade do teatro garante-lhe assim a espetacularização de seus produtos e, como o próprio teatro contemporâneo, vem abarcando várias outras linguagens no seu caráter de encenação. Faz grande uso também da estruturalidade da televisão, como já comentamos na sucessão de quadros que se expõem a poucos metros de distância na campanha Faz um 21, que, vistos em movimento, dão-nos a sensação de estarmos assistindo a algo. Os telões, como continuidade da televisão, expõem as imagens em movimento, ficando o código sonoro subentendido pela visualidade em movimento. A mídia exterior pode ser vista como uma imensa tela de televisão, em que o público transita interativamente, e assim o olhar da pessoa diante de tantas opções, no carro ou a pé, passa a fazer o papel do zapear do controle remoto da TV, ao dirigi-lo à enorme quantidade de anúncios expostos na cidade, sendo consumido pela mídia sem, na maioria das vezes, ter consciência de tal processo. As imagens, nos espaços urbanos, lembra-nos da ecologia cinza que se forma nas grandes metrópoles, dita por Paul Virilio em O Espaço Crítico (1999), e a sua produção de imagens. Segundo ele, esta superexposição termina com a separação entre o “próximo” e o “distante” e é, justamente, o que a televisão e seus “produtos” fazem conosco quando invadem nosso espaço urbano. E, agora, vimos nesta reflexão, que é mais propriamente, o que vem fazendo a mídia exterior, já que traz subentendida a linguagem da TV. A proliferação das mídias eletrônicas também vem atingindo este espaço, mas isto é assunto para a evolução deste ensaio em outro momento. Assim, parece-nos que a mídia exterior, como sistema modelizante na busca de uma linguagem própria, intercambia fragmentária e tradutoriamente, para a transmissão de suas mensagens, outras linguagens e textos em suas operações. Isso faz com que ela ga170
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
ranta, através da memória coletiva, pela experiência já vivida em outros textos e pela espetacularização na paisagem urbana das cidades, a produção de estímulo ao consumo. Nos ciclos culturais da memória, o caráter teatral da espetacularização retorna às ruas com toda a intensidade na virada do milênio, afinal ao renovar os textos da memória coletiva, adequa-os ao comportamento, hábito, perfil do homem contemporâneo e à sua tecnologia. Enfim, parece que tudo está acontecendo nas ruas, então como antigamente, colocamos não as nossas cadeiras nas calçadas, mas os nossos olhares espantados, amedrontados ou extasiados dentro da janela de um veículo que nos conduz pela paisagem urbana, sempre em movimento.
Bibliografia LOTMAN, I. (1978 ). A estrutura do texto artístico. Lisboa: Estampa. ______. (e outros) (1981). Ensaios de semiótica soviética. Lisboa: Horizonte. ______. (1993). Acerca de la Semiosfera; El Texto en el Texto. In: Critérios. ______. (1998). La semiosfera. Semiótica de la cultura y del texto (Desidério Navarro, org.). Madrid: Cátedra. MACHADO, Irene (2003). Escola de semiótica: a experiência de Tártu-Moscou para o estudo da cultura. São Paulo: Ateliê Editorial. NÖTH, Winfried (1996). Semiótica e o estudo das mídias. In: Revista Face, v. 5 no 1. SANTAELLA, Lúcia (1998). Cultura das Mídias. São Paulo: Experimento. ______ & MACHADO, Irene (orgs.) (1999). Apresentação. In: Caos e ordem na cultura, mídia e sociedade. Revista Face no 3. SEBEOK, Thomas (1995). Comunicação. In: Comunicação na era pós-moderna. Petropólis: Vozes. Rector, Mônica & Neiva, Eduardo (orgs.). SONESSON, Göran (1998). The concept of text in cultural semiotics. In: Sign Systems Studies no 26. Tartu: Tartu University Press. VIRILIO, Paul (1999). A cidade superexposta. In: O espaço crítico. Rio de Janeiro: Editora 34, 2a edição.
Periódicos (revistas) M & M Especial: Mídia Exterior. (27.03.2000). Editor: Roberto Perrone. Sinal Extensivo (11.11.2000): www.sinalextensivo.com.br/imprensa/mar2000/press4.htm.
* Regiane Caminni Pereira da Silva é atriz e, atualmente, atua como professora no curso de Comunicação Social da Universidade Anhembi Morumbi – SP, onde ministra disciplinas ligadas às Artes e à Comunicação, como Comunicação Comparada, Roteiros Audiovisuais e Cultura Brasileira. É doutora em Comunicação e Semiótica, PUC-SP. Faz parte do grupo Oktiabr: grupo de pesquisa para o estudo da semiosfera.
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
171
Poemas e Conto
DOS DEUSES ANTIGOS FUNDO E AGONIA PAULO R. LICHT DOS SANTOS*
L’empire familier de ténèbres futures. Baudelaire
olhar
adentro:
adiante olhar sol negro esfacelado
quem passa ao largo da aliança entre outono e primavera? ai de nós, domados pelo inverno restam-nos guarda-chuva e
fatal
sobre tudo:
o autômato perfeito o dialeto da tribo o quadro holandês o belo poema o poeta enforcado o operário honrado o imperador o administrador o comércio-eletrônico
174
REVISTA OLHAR – ANO 10, NO 17
onde na epiderme a constelação faiscante do ponto? o luar já não na delgada ao alto ampla ondulante e semovente lâmina do mar, onde se crava calmo e sem pesar o poente no peito de Poisedão – nada esta escuma sangue rutilante: cingiu-a ciente ao fim e a si Oceano do Princípio regente soberano
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
175
UM JOGO DE XADREZ
alva dama age às claras joga oculta: ama trama bispo oblíquo: deita dama ou xeque-mate (se perde ganha, se ganha perde). dama bispo
chama
dista morto rei posto dama?
chama xeque-mate? extingue dama em pé negro bispo
176
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
POLIFONIA
só o vento silente ouve
só o silente fala
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
177
MAIS QUE IMPERFEITO?
und ist nicht das Nichts eine Form des Vollkomenn? Thomas Mann
fosse dado um soneto enfim perfeito e seu ritmo levasse exato e claro longe de toda margem: ainda ousaria oscilante insinuar-me entre ser e não-ser? se visse claro e justo o que me leva a querer o vinho, ansiar ao ópio (refinada entropia): que restaria? nada ponderar? pesar pensar pesares? não escrever no vento na onda veloz? no nada tudo o que permanece dissipa-se.
178
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
AFINIDADES DELETÉRIAS
se e porém, mas e talvez e quem sabe saiba alguém:
de onde provêm a solidez do poema a permanência do dilema,
se a vida, afinal, pura acidez que solve a base: e a muda em sal? qual é a dinâmica que, sem grano salis, acumula os males e os converte em verso? perversa química, jamais o inverso? dissolvido o absoluto absolvido o dissoluto?
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
179
IMPÉRIO
And the crack in the tea-cup opens A lane to the land of the dead. H. G. Auden
quebrada há muito a xícara de chá, também há o sol de pôr-se, outra vez? palmilhar cego antigos cacos, sempre? e quem herdeiro os guarda e manipula, porcelana afiada, poderá firme cerrar a mão, a tua também? o sol entre o Tigre e o Eufrates partido, o trovão que se muda em muda prece, a ígnea chuva que ruína o novo e o antigo, os ossos que se ocultam na areia brancos -
anunciam tautologias, aos violentos paradoxos: coagulado o sangue não se esvai íntegro e inquebrantável só o quebrado terror inaudito o grito não ouvido nasce o sol onde sempre se levanta. mas traz consigo sol levante sombra? e irá fechar-se aberta a via aos mortos? e irá silente voz dobrar justiça, torta tanto mais reta, inflexível? nada redime nada, nada salva nada – resguarda, pois, compõe: constrói.
Germânia, Gália, Ibéria, Nova Ibéria, gregos, partas, árabes sagitíferos já nem se empenham, César, em saber, se és branco ou negro: noite, a tua, o trai.
180
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
MEMENTO MORI
O saeclum insapiens et infacetum! Catulo
se bandeirinhas de Volpi tremulam, se o velho agora depõe o seu fardo, se dança ritmo no tempo perdido, agora relembrado que esquecido; se enlaça o passo agora o novo e o antigo, como arabesco lento desenhado; se agora esquece o próprio esquecimento e como tremem aquelas tremula: por que zombar de tempo tão vulgar? o teu veneno, Paulo, te envenena.
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
181
PROVÍNCIA
I Acima e abaixo o mesmo caminho: concreto armado e vidro, madeira e papelão – a torre no torto amparada, o torto na torre espelhado. Como verso e o seu reverso:
o jardim aprisionado e o rio jazente sob o asfalto; entre o cinza e o cinza as sombras, a multidão que cega serpenteia.
Quem aqui agora se encontra, abandone o que aqui jamais encontrou. Algumas sombras suplicam, Outras se quedam silentes. Umas se afundam no esgoto, Outras se arrojam de pontes. Esta se encolhe entre escombros, Aquela, estira-se em pedras. Há quem desfira o punhal, E quem se fira com a lâmina.
182
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
Aqui, jamais descreve o salto imóvel arco em pleno vazio? jamais enlaça o vivo a rosa e o morto entrelaçada? jamais tange a mão a luz e o orvalho à margem lançada? Se quem mergulhasse voasse, e pairasse quem saltasse. Se nutrisse o estrume a rosa e flor ida a terra batida. Se a noite findasse em dia e a fadiga do dia noite. Aqui? o detrito o rato sobretudo o cavalo e seu fardo. “Respeita quem trabalha, doutor”. Arbeit macht frei.
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
183
Jamais abraçar este cavalo: a chaga pega, o suor fede, o olhar oprime. Calar. Aceitar. Distar. Habita madeira sobre madeira aprumada? Come o resto do que nos sobra? Bebe a chuva que se aninha na lama?
Toca-o o que aqui nos atinge? o olhar que não vê, o medo que cala, o gesto que dista? a mão que se fecha, o sorriso que oculta, a manhã que anoitece?
184
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
II Mel silvestre tirei das flores, sal tirei do mar a riqueza sobrante a toda pérola: só tenho poesia para oferecer? Nutri o desespero que eleva. Vesti de sobriedade o insano. Cultivei a rara flor da solidão. Escrevi como se escrevem epitáfios. Jaz aqui agora fogo morto?
* Paulo R. Licht dos Santos é professor de Filosofia da UFSCar. Poemas extraídos do inédito: Poemas Imperfeitos.
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
185
BURARAMA ANDRÉ MARINS*
Para onde vou? Burarama ou São Pedro do Itababoana? A tarde é bonita. O sol ainda forte, aquecendo o asfalto e tudo em volta. O movimento na estrada é fraco, poucos carros, dá até para mijar na beira da estrada. Minha saída de Alegre foi bem legal. Mudei de roupa dentro da Vara. A cara de surpresa dos funcionários, me vendo chegar de terno, todo sério e sair de calção e chinelo. Sai o mais rápido que pude, fiquei com um pouco de vergonha, de calção e chinelo dentro de um órgão público, justamente eu: o Promotor. Paro em frente ao portal de Burarama para decidir se vou para lá ou sigo para São Pedro. Enquanto mijo, fico pensando em como é estranha essa minha liberdade. Posso ir para qualquer lugar. Cogitei, inclusive, ir para Búzios. Posso pegar um avião amanhã e ir para Buenos Aires. É estranho, tanta liberdade mas não consigo ninguém para me fazer companhia. Nesse momento pesa mais a sensação gostosa de liberdade, uma liberdade tão sonhada. Amanhã mesmo já vem o sentimento contrário, pesando mais a solidão. Esquisito como a vida é tão parecida com o mar. Até os sentimentos são como ondas. Vêm e vão, se alternado, ora maiores, tomando conta de tudo, ora menores, pequenas tristezas e alegrias. Aproveito a sensação de alegria e sigo em frente, para Burarama. O caminho é bonito. Logo na entrada, uma fazenda experimental, com placas indicando as experiências botânicas. A seguir, a Floresta Nacional de Pocotuba. Nunca tinha ouvido falar nessa floresta. Pequena. Atravesso. Adiante, casinhas, pasto bem verde, baixadas, planícies entrecortadas por pequenas montanhas. Nenhum carro, um silêncio apenas cortado pelos barulhos da natureza: um passaro, o vento nas árvores, essas coisas. Chego em Burarama, um pequeno vilarejo, ruas de pedras. Paro na mercearia. Parece ser a principal do lugar, fazendo às vezes de supermercado, padaria, tudo. O aspecto é maravilhoso, aqueles mercados que só se encontram em pequenos vilarejos, bem longe das grandes cidades. No balcão o próprio dono, a filha ao lado, fazendo os deveres da escola. Tem de tudo um pouco, lingüiça pendurada, bacia, corda, várias caixas no chão e armários com pequenos nichos em que os produtos ficam guardados. Nesse momento, chega um homem, pela aparência, cerca de 50 anos, trabalhador rural, preto, cara de gente boa. Ele e o dono do lugar trocam um pequeno cumprimento. Fico ao lado, esperando minha vez de falar e aproveitando para apreciar o diálogo, do tipo que não vejo toda hora. O homem anuncia seu pedido de uma forma direta: “seu Mazinho, quero um quilo de macarrão, um sabiá e dez centavos de papel”. Minha atenção se concentra: dez centavos de papel, quando vi alguém fazer um pedido assim? Volto imediatamente à minha infância, para aquelas vendas no pé do morro da Fonte Grande. Fico olhando. Seu Mazinho se abaixa, pega um pacote de macarrão, bota em cima do balcão e anuncia sonoramente: “um quilo de macarrão”. Vai até um nicho do armário, retira um saquinho escuro: “Um sabiá”, põe no balcão. Vai até um rolo de papel, puxa um bom pedaço, mais um pouquinho, dá uma puxada para baixo, cortando o papel: “dez centavos de papel”. Que delícia. * André Marins é autor, entre outros, de Sete madrugadas insones.
186
REVISTA OLHAR – ANO 10, NO 17
CARNAVAL OUROPRETO GUILHERME MANSUR*
sobrei vivi a minha casa está dentro do ronco da cuíca não dá pra não carnavalizar - e deixa o samba me levar samba leva eu enfeitei toda a casa de confete e serpentina o elevador virou um carro-alegórico - e deixa o samba me levar samba leva eu agora apenas ouço ecos do tríduo de momo um zumbido lá no fundo do ouvido (e não olvido) ‘deixa a vida me levar vida leva eu’
* Guilherme Mansur é artista gráfico, poeta, autor, entre outros, de Gatimanhas e Felinuras, com Haroldo de Campos.
AGO-DEZ 2007 – JAN-JUL/2008
187
D(O)ENTE JOSETTE MONZANI*
Há um caminho a se percorrer até a chegada da dentição permanente. Estabelecida, ela dá uma cara ao sujeito. Não se leva isso muito em conta. Parece um dado a mais no conjunto do ser humano. Pode não ser o olhar o espelho da alma, mas, os dentes. Mais que espelho, o caminho para a alma – de mão dupla, aliás. A perda total dos dentes pode acarretar a “perda” da sombra? Menos radicalmente falando, a perda dos dentes do siso implica num emolduramento incompleto para sempre? Num processo irreversível de incompletude? E uma perda de parte do cérebro, pode tornar a falta de alguns dentes supérflua? Sem carecer mais de reparo? Por que o reparo não restaurará jamais o outro – a falta do faltante? Dor de dente dói como luto. Quase insuportável. Enlouquecedora. A ida ao dentista. Ida ao purgatório, cutucar a alma recolhida. Adoentada. Tocar a gengiva com um objeto metálico. Frio e pontiagudo é o esperar na rodoviária até que o último ônibus do seu destino saia, e partir nele sozinho, sem ao menos um adeus dado a tempo. O que pode vir de pior depois disso? Muito. Relar nas paredes calcárias. A dor - ouvida. O motor atiça por segundos o nervo (dragão adormecido): morte de mãe. A batida do coração parada. O impossível consubstancializado. Numa fração.
* Josette Monzani é professora do Mestrado em Imagem e Som da UFSCar.
188
REVISTA OLHAR – ANO 10, NO 17
DE COMO DANTAS RETECE, EM COIVARA E CORDEL, RAMOS E ROSA ANTÔNIO DONIZETI PIRES*
1. Ramos e Rosa O II Seminário Internacional Guimarães Rosa – Rotas e Roteiros, realizado pela PUC Minas (Belo Horizonte, agosto de 2001), foi encerrado com os depoimentos de Francisco J. C. Dantas e Milton Hatoum, dois dos mais importantes escritores brasileiros surgidos nos últimos anos. Hatoum, em seu texto “Guimarães Rosa: o diálogo difícil”, principia afirmando que “as influências são o inferno e o paraíso de um escritor”, (HATOUM, 2002, p. 394) não sendo raro este “ser inibido ou travado por um grande predecessor” (idem). Como exemplos pontuais da literatura francesa, cita a presença central de Baudelaire na lírica da modernidade e o fantasma da obra monumental de Marcel Proust, a despeito de a narrativa francesa pós-proustiana contar, reconhece Hatoum, com escritores do porte de Ferdinand Céline ou Claude Simon. No caso brasileiro, Hatoum aponta a permanência da obra também monumental e fantasmática de João Guimarães Rosa, da qual derivam pelo menos dois caminhos: “o mero pastiche ou glosa paupérrima” (p. 395), como “ocorre com certa literatura regionalista do Amazonas e mesmo da Amazônia” (idem), ou o diálogo crítico, resolvido de maneira pessoal por cada autor. Isso porque, conforme frisa Hatoum,
no limite, o estilo rosiano é inimitável. No entanto, é possível manter um diálogo com o mundo mitopoético e temático do escritor mineiro. Diálogo que se dá por meio de pistas e sugestões insinuadas nas entrelinhas e ambigüidades da poética rosiana. Por isso a leitura de Rosa é um manancial riquíssimo não apenas de intuições fulgurantes, mas também de valores e dramas humanos. (idem)
Em outro ponto, o escritor amazonense reitera que esse diálogo “talvez seja possível por meio de insinuações, acenos e sinais. Diálogo, portanto, sensível e intelectual ao mesmo tempo, que flui antes nas entrelinhas do que nas linhas propriamente escritas. Em suma, confluências …” (p. 393). De tais “confluências” e “intuições fulgurantes” propiciadas pela obra de Rosa (notadamente a passagem de Grande sertão: veredas onde Riobaldo, em Curralinho, freqüenta a escola como aluno de mestre Luca), e pela obra de Céline, Morte a crédito, é que Hatoum pôde, conforme seu depoimento, resolver o “impasse na construção do narrador” (p. 396) de seu último romance, conferindo-lhe dimensão humana, profundidade e verossimilhança. Com efeito, o narrador-testemunha de Dois irmãos (2000), Nael, apesar de filho bastardo, foi à escola e, em conseqüência, apresenta um registro de voz que “contempla tanto a oralidade como uma linguagem razoavelmente culta” (p. 396). Ainda conforme palavras do autor, “ele, o narrador, se encontra numa gangorra, palavra que usei várias vezes a fim de metaforizar uma condição instável: a do meio social, a do filho bastardo, a do menino amazonense que só se salva por meio do estudo” (idem). Portanto, somente assim é que Nael pôde ser alçado, de testemunha passiva, à condição de inventariante da derrocada não apenas de uma família libanesa e seu mundo construído a duras penas nos trópicos, mas da própria cidade de Manaus. Por seu turno, o depoimento de Francisco J. C. Dantas, “A lição rosiana”, é mais geral e revela não um exemplo prático de solução de um impasse de construção narrativa, mas ressalta a poética do autor e os anseios que o movem em relação aos predecessores, à literatura e à construção de sua própria obra. Assim, o texto de Dantas “é uma reflexão sobre como Graciliano Ramos lê as obras de Rosa e sobre como ambos os autores inspiraram minha própria produção literária: através da transposição artística de nossas raízes”. (DANTAS, 2002, p. 386) A “transposição artística de nossas raízes” fica mais clara no seguinte comentário do autor: A lição mais cara e inestimável que assimilei deste escritor tão universal, desse diplomata cidadão do mundo, sabedor dos segredos de tantos idiomas, foi a de que a literatura tem de se abastecer nas raízes do contexto de formação do próprio escritor. Que só podemos escrever exuberantemente quando nos abandonamos e abrimos os ouvidos às forças inconscientes que nos rodeiam e alimentaram a nossa formação. Sou partidário de que certas circunstâncias exteriores favorecem e fecundam as condições íntimas que fazem a nossa mitologia individual. Essas forças formam a base de onde podemos expressar uma visão que será inimitável. Nascem da experiência substancial que só o contato direto possibilita. Sem o necessário mergulho no mundo impalpável que abasteceu o nosso conhecimento, a nossa infância, a nossa mitologia, escrever, no sentido em que estou colocando, é falsear a realidade, é perder o espírito daquilo que é necessário aprisionar. (p. 390)
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
191
Num primeiro momento, a citação ressalta a clara filiação regionalista do autor, inclusive como esteio para atingir-se a universalidade. Contudo, frise-se que estamos bastante distantes do regionalismo estrito, pois muito do que Dantas escreve sobre Rosa pode ser aplicado também à sua literatura: À revelia dos sabichões cosmopolitas que sempre tiveram como secundária a literatura ambientada nos pequenos lugarejos ou na zona rural, Rosa aplicou-se a escutar a sua gente e os seus bichos, a estudar a geografia sóciolingüística de sua infância, a desencavar a substância de seus campos, […] metamorfoseando essa matéria em pura transcendência. De igual modo, com a mesma convicção, se manteve infenso à nossa mais forte e recente tradição novelística que era então o romance de trinta. Desprezou dela a ideologia romanesca que geralmente só enxergava, entre patrão e empregado, as ostensivas relações de classe, a exploração humana. (p. 391)
Nesse diapasão, conquanto um romance como Os desvalidos, publicado por Dantas em 1993, seja ambientado nos anos 30, longe está do maniqueísmo algo simplista de um Jorge Amado, como também abdica do ideário regionalista veiculado por Gilberto Freyre e José Lins do Rego e, ao mesmo tempo, aplica-se a escutar e a perscrutar, através de sofisticada técnica narrativa, a gente simples do interior de Sergipe e seus valores, suas tradições, seus hábitos lingüísticos, sua dimensão humana. Em outros termos, não se afirma que os tensos problemas sociais e regionais estejam ausentes do romance; ao contrário. Todavia, neste, a especificidade estética é alçada a primeiro plano, e é através desta que se legitimam e se problematizam os valores atemporais e universais da condição humana, pois a luta pela sobrevivência e as tensões que daí advêm, assim como a busca do amor, de Deus, do Eu e do Outro, vincam tanto o sertanejo e o homem simples dos rincões perdidos como o homem citadino, seja este cosmopolita ou mero refugo das contradições de classe. Ainda em outros termos, os romances de Francisco J. C. Dantas realizam-se como obras de arte literária, não como documentos sociológicos ou antropológicos, e é neste particular que se efetivam, em parte substancial de nossa produção literária recente, a lição rosiana e a de Graciliano Ramos. Por outro lado, o depoimento de Dantas não é apenas uma profissão de fé regionalista, mas demonstra que o diálogo com a tradição, a reflexão sobre a literatura e o fazer literário, em suas dimensões cultas e populares, vincam também sua obra romanesca. Ademais, o romancista cita em seu texto o poeta João Cabral de Melo Neto, de cujo “Poesia e composição” pinça a concordância de “que em nome da expressão todos os experimentalismos são possíveis, que cada autor tem, por obrigação, de criar a sua própria poética” (p. 390). Concordância que o autor sergipano conjuga à obra rosiana, considerada por ele, em termos técnico-construtivos, como um vasto “campo demonstrativo, fertilíssimo e exemplar, onde viceja toda uma floração de inovações desdobradas por uma alquimia que se esgalha por todos os níveis de sua narrativa lírica e épica” (idem). As duas citações se completam e, incisivamente, põem a nu a consciência construtiva do romancista no que concerne ao uso de uma linguagem inventiva, à alquimia verbal, ao experimentalismo. De outra parte, corroborando o afirmado acima e aprofundando a lição de Rosa – ora conjugada à de Ramos e à de Melo Neto –, Dantas ressalta que a literatura não pode
192
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
perder-se em torneios vazios de forma e ornamento, mas deve revelar em profundidade a condição humana: Mas como a literatura não se esgota na retórica, não posso seccionar somente na expressão, nem retirar apenas daí o portentoso ensinamento que Rosa me passou, visto que ele mesmo escreveu: ‘Tudo, da forma, só para abrir planos, campos e caminhos novos, a estrito serviço do conteúdo’. (idem; aspas do autor)
Dantas, em seu texto, demora-se bastante na leitura que Graciliano Ramos fez da obra inaugural de Guimarães Rosa, primeiro como jurado do II Prêmio Humberto de Campos, em 1937, ao qual Rosa submeteu um volume intitulado provisoriamente Contos, obtendo o segundo lugar, e depois em dois artigos, “Um livro inédito” (1938) e “Conversa de bastidores”, posterior à publicação de Sagarana, em 1946, e que enfoca breve conversa que os dois escritores tiveram em fins de 1944. Se, por um lado, conforme observa Dantas, o escritor alagoano votou contra o livro de Rosa sendo coerente com sua “formação clássica e contida, em nome de sua natureza parcimoniosa [e] como artista comprometido de maneira inflexível com a estética neo-realista” (p. 387), por outro, Ramos soube reconhecer a novidade do livro rosiano, “contaminado de excepcionalidades” (idem), e conclama o autor, no artigo de 1938, a proceder à publicação da obra. Rosa, como se sabe por sua carta a João Condé estampada na abertura de Sagarana, deixou o livro em repouso por sete anos e, em 1945, em “cinco meses de reflexão e de lucidez”, (ROSA, 1996, p. 9) reelaborou os textos, inclusive com mudança de títulos e exclusão de três contos do volume que viria a ser publicado no ano seguinte. Lembra Dantas, inclusive, que Rosa continuou “mexendo no livro até a quinta edição”. (DANTAS, 2002, p. 388) O fato não passa despercebido a Graciliano Ramos, que no segundo artigo citado reconhece que Sagarana “emagreceu bastante e muita consistência ganhou em longa e paciente depuração”. (apud DANTAS, 2002, p. 388) O autor de Angústia assinala ainda o ritmo, o lirismo e o sábio uso da onomatopéia (como em “Conversa de bois”) na prosa do escritor mineiro, aspectos “que ele próprio, Graciliano, jamais toleraria na sua própria ficção”. (DANTAS, 2002, p. 388) Há outros pontos importantes no citado artigo, como as coordenadas estéticas do Neo-Realismo que Graciliano aplica à análise da obra de Rosa: “‘a vigilância na observação’, honestidade na reprodução dos fatos, uma certa dissipação naturalista, alargamento das descrições” (idem; aspas do autor). Das quatro coordenadas, as duas primeiras são positivas, enquanto as demais são negativas, mas não se sabe até que ponto Rosa acatou as observações de Graciliano. No entanto, conforme observa Dantas, “pelo menos aquilo que o mestre alagoano chamara de dissipação naturalista vai desaparecendo de seus livros até o estilo telegráfico e enxutíssimo de Tutaméia” (p. 389). No que tange à obra de Graciliano Ramos, sabe-se de sua posição solitária em relação a seus pares da geração de 30. Assim, além da recusa do maniqueísmo simplista, evidencia-se em sua narrativa a densa e profunda perquirição psicológica das personagens e a solidez construtiva dos romances, seja na manipulação de vários pontos de vista, como em Vidas secas, seja na utilização de uma linguagem enxuta e concisa, mas altamente expressiva, auto-reflexiva e vincada de poeticidade. Ramos, conforme Dantas, também “se manteve ininterruptamente abraçado a suas raízes. […] realmente, o Infância e o Vidas secas, construídos lá no Rio, estão profunda e visceralmente ligados
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
193
ao contexto de formação do autor” (p. 390). Entretanto, ressalte-se ainda uma vez que esse ligar-se “visceralmente ao contexto de formação”, no caso de Ramos, Rosa, Dantas e Hatoum, ultrapassa qualquer exotismo de exportação e qualquer visão cosmética do ser humano. Em comum, os depoimentos dos dois escritores contemporâneos – bem como suas respectivas obras –, mantêm, ao mesmo tempo, um “diálogo sensível e intelectual” (HATOUM, 2002, p. 393) com a obra de seus predecessores imediatos, diálogo que, contrário ao endeusamento e à mitificação de Ramos e Rosa, preocupa-se em aproveitar criticamente seus temas e motivos, suas soluções técnico-construtivas, suas sugestões mitopoéticas e de linguagem. Pois, conforme frisa Hatoum referindo-se a Rosa, Proust e Joyce, não se trata de imitá-los ou “endeusá-los, o que seria injusto para esses escritores que, como todos nós, inventam uma outra realidade, sempre a partir da frágil condição humana” (p. 397), mas de proceder à construção de uma obra nova, original, autêntica e pessoal que, em confluência, espelhe e aprofunde o rico substrato humano e existencial explorado pela tradição, mas sempre em aberto. Em suma, trata-se de não curvar-se aos fantasmas, mas com eles – e a partir deles, já que outro é o momento, o espaço, a formação de cada um e os problemas suscitados pela contemporaneidade –, continuar a defesa dos combalidos valores humanos. É a essa rica e problemática tradição que pertencem, a meu ver, Francisco J. C. Dantas e Milton Hatoum, conquanto se possa pensar, grosso modo – e isto é apenas uma hipótese de trabalho –, que a obra em progresso do primeiro se insere numa linha mais rosiana, enquanto a de Hatoum continua os fios de um Flaubert, um Machado de Assis, um Graciliano Ramos. Em outro sentido, o diálogo crítico encetado por Dantas e Hatoum com Ramos e Rosa, bem como com a tradição literária brasileira, ocidental e oriental (no caso de Hatoum), reitera de modo contundente, como índice mesmo de vitalidade e de modernidade (ainda que esfacelada), a necessária reflexão crítica que deve permear a arte, a literatura e o fazer literário. Tal reflexão – vinco maior da modernidade literária ocidental, insisto –, levada ao paroxismo a partir do Romantismo alemão, efetiva-se através da ironia, da metalinguagem e da metaficção, dos inúmeros procedimentos intertextuais e dos meandros revolucionários da paródia, em várias direções. Enfim, é com base nestas longas reflexões preliminares, mas justificadas pela obra superior de Dantas e Hatoum, que passo à apresentação crítica dos dois primeiros romances do escritor sergipano.
2. Coivara da memória como metáfora da criação literária Francisco J. C. Dantas nasceu no engenho do avô, em Riachão do Dantas, interior de Sergipe, em 1941. Professor universitário, como Milton Hatoum, tem Mestrado sobre Osman Lins e Doutorado sobre Eça de Queirós. Além de ensaios esparsos publicou, pela editora da UFSE, em 1999, A mulher no romance de Eça de Queiroz. Apesar de ter escrito contos, é essencialmente romancista: sua estréia dá-se em 1991, com Coivara da memória, logo seguido de Os desvalidos (1993) e Cartilha do silêncio (1997). O conjunto de seus três romances lhe valeu, em 2000, o Prêmio Internacional União Latina de Literaturas Românicas, recebido na Itália.
194
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
Benedito Nunes, na apresentação de Coivara da memória, salienta o “recorte proustiano” (apud DANTAS, 2001, s/p.) do romance, cujo narrador em primeira pessoa, em “reclusão domiciliar” (DANTAS, 2001, p. 19), ou seja, preso dentro do próprio cartório à espera do julgamento pelo crime que supostamente cometera, conscientemente escreve para, através da reflexão propiciada pela escritura, trazer à tona o tempo perdido da infância, da juventude e da maturidade, e cujo arsenal de lembranças, recordações e reflexões pontuam a realidade angustiante do narrador-protagonista. Contudo, no mergulho desse homem encarcerado em si mesmo, “já cinqüentão e esvaziado” (p. 190), não transparecem apenas os aspectos solipsistas e ziguezagueantes da memória, mas vem à tona também o “passado cheio de ossadas” (p. 31) através da “revivescência de todo um mundo arcaico, ‘canteiro de ruínas’”. (apud DANTAS, 2001, s/p.) Por conseguinte, Benedito Nunes chama a atenção para os dois aspectos fundamentais do romance: primeiro, “o lastro da cor local na linguagem, possibilitando situar as evocações do narrador nos marcos de uma região” (idem), o que filia a obra ao regionalismo nordestino e a liga, intertextualmente, à Bagaceira de José Américo de Almeida e ao ciclo da cana-de-açúcar de José Lins do Rego, uma vez que a decadência de um engenho de açúcar em Sergipe é um dos temas centrais de Coivara da memória. Em segundo lugar, Nunes aponta “a quebra do monólogo interior pela evocação dramática dos antepassados, expandida numa sucessão de episódios” (idem). Porém, os episódios se embaralham e se sobrepõem, ao sabor das reminiscências e das reflexões do narrador-protagonista, que assim “contesta o tempo cronológico, destruidor e enganoso, com um tempo narrativo versátil” (idem), onde o passado, o presente e o futuro incerto aparecem dramaticamente mesclados. Em suma, ainda conforme Benedito Nunes, dois são os esteios fundamentais de Coivara da memória: O solo como chão regional, como terra, suporte do patriarcalismo rural, do Nordeste, a que se liga pela lembrança o personagem-narrador, e o solo literário, de afloramento das muitas tradições ficcionais – do regionalismo ao mítico supra-regionalismo de Grande sertão: veredas. (idem)
Deve-se frisar, pelo exposto, que dentre os vários índices de modernidade e contemporaneidade do romance, estão justamente o aproveitamento e o diálogo crítico com a tradição; a rarefação das ações, em prol dos volteios e volutas reflexivos do narrador, em busca de si mesmo e do outro; a escavação profunda da psicologia do protagonista e das personagens que lhe são caras (como o avô e, sobretudo, a avó, conforme o demonstram os capítulos 12, 22 e 33 da narrativa); as reflexões do narrador sobre a linguagem e o fazer literário; (cf. DANTAS, 2001, p. 92/93; p. 145/146) a própria prática escritural do romancista, cuja prosa poética, ritmada, de claro substrato lírico – mas também épico, se considerado o assunto grave da decadência açucareira e patriarcal nordestina –, patenteia algumas construções que, se denunciam certo barroquismo expressivo por parte do autor (como em Rosa e no Haroldo de Campos de Galáxias, por exemplo), exploram de maneira eficiente os efeitos metafóricos, musicais, aliterativos, sinestésicos e neológicos da linguagem, além de rebuscá-la em torneios sintáticos e semânticos: “um cego desquerido e muito só, entaipado entre quatro paredões”; (DANTAS, 2001, p. 27) “a debulhar conta por conta a longa espiga do rosário” (p. 157); “as criadas cochichavam pelos cantos, assanhadas, se peneirando de curiosidade” (idem); “o meu processo corre na pista comum,
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
195
entrando em túneis cheios de subterfúgios e atalhos em ziguezague” (p. 207); “espirrou uma cusparada de desdém na cara do usurável” (p. 317); “chegada sonorosa” (p. 332); “serventuário sem nenhuma serventia” (p. 333); “a seda rubra das pétalas que latejavam – audíveis! – pendidas das hastes frágeis” (p. 340); “como se, assim recolhida dos olhos alheios, exercesses toda uma convivência de segredos onde o perfume se fazia chama que reverbera, presença do inefável!” (p. 340/341); “o pensamento começa a balançar num vaivém desesperado, trepado em trapézios, os trapos trapejando” (p. 383) etc. Em outra dimensão, partindo-se da definição dicionarizada de coivara, palavra de origem tupi-guarani que designa a “técnica de origem indígena, ainda hoje empregada no interior do Brasil, que consiste em pôr fogo em restos de mato, troncos e galhos de árvores para limpar o terreno e prepará-lo para a lavoura”, (CUNHA, 1998, p. 111) pode-se considerar, em nível metafórico, alguns desdobramentos profundos do romance Coivara da memória: em primeiro lugar, devido à angústia presente que tolhe os passos do narradorprotagonista e paralisa suas ações, este procede à revisão do “canteiro de ruínas” (DANTAS, 2001, p. 30) que é seu passado perdido, “cheio de ossadas” (p. 31), com o intuito de queimar tais restos e escolhos em sacrifício ritual-escritural, a fim de preparar a lavoura futura de sua vida. Assim, conquanto se mantenha “abismado diante de um passado que me tortura o presente e anuvia o futuro” (p. 29), e seja consciente de que seus “tormentos não terminam com este julgamento, me seja ele vantajoso ou desfavorável” (p. 51), podese aceitar a interpretação ora proposta porque, ao final da narrativa, o próprio narradorprotagonista acena com a possibilidade da mudança e da reconquista amorosa: Vou aqui me ralando apreensivo, querendo dos mortos uma resposta qualquer que me ilumine para o diabo do júri, após o que certamente continuarei a trilhar o mesmo caminho, me estraçalhando no círculo das noites insones, até o dia em que alguma coisa possa mudar; primeiro, por conta de Luciana; e só depois, dos mortos e dos vivos que puxam os cordões do meu destino. (p. 395; grifos meus)
Num segundo momento, voltando-nos para os problemas de poética encarecidos pelo autor, conforme exposto na primeira parte deste trabalho, pode-se considerar que Coivara da memória representa, de forma cristalina, uma metáfora do fazer literário de Francisco J. C. Dantas: ao juntar em coivara, criticamente, ramos, rosas, temas, motivos, técnicas e procedimentos literários utilizados e/ou sugeridos pelos predecessores imediatos e/ou pela tradição, e ao queimá-los em sacrifício ritual-escritural, o autor está a preparar, adubando-o e fortalecendo-o, o terreno de sua lavoura nova. Com isso fica demonstrado, inclusive, o aspecto cíclico essencial que move o cosmo, a natureza e a própria vida humana sobre a terra, ciclos estes sobejamente retratados por Rosa em Corpo de baile – ou, em outra medida, na saga dos retirantes de Vidas secas –, e que só se renovam após a queimada fecundante que o romance de Dantas inaugura. Desdobrando a metáfora em alegoria, talvez pudéssemos compreendê-la como o princípio mesmo da criação literária, e, por conseguinte, talvez pudéssemos aplicá-la à literatura brasileira como um todo, evidenciando mais uma faceta da Antropofagia tão cara a Oswald de Andrade e a alguns que o sucederam, na prática e na crítica de nossa literatura. Porém, para o momento basta que o sentido profundo de coivara, além do
196
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
romance de Dantas, seja aplicado a alguns outros escritores contemporâneos enfatizados aqui, como Raduan Nassar e Milton Hatoum. Esta segunda interpretação de coivara aponta também para palimpsesto (do grego palímpsestos; pálin, novamente; psestos, raspado, borrado), o pergaminho ou papiro “cuja escrita havia sido apagada a fim de receber outro manuscrito”. (MOISÉS, 1995, p. 381) Conhecido desde a Antiguidade e largamente aplicado na Idade Média, provavelmente devido a questões econômicas, o palimpsesto “era por diversas vezes raspado ou lavado pelos copistas e, a seguir, polido com marfim para que nele de novo se pudesse escrever. O que ali estava escrito, porém, jamais era totalmente apagado”. (JUNQUEIRA, 1987, p. 86) Aplicada à crítica e à teoria literárias, a técnica do palimpsesto designa as práticas intertextuais modernas e difere bastante do conceito de mímesis ou imitatio dos antigos, conceitos sempre revalidados pelas artes poéticas dos classicismos e neoclassicismos inspirados nos ideais greco-latinos. Assim, até o Romantismo, imitar os modelos e mestres do passado era tido “como procedimento de bom tom, como insígnia de erudição ou atestado de bom gosto literário” (idem). Sob meu ponto de vista, ainda, pode-se considerar a imitação como forma de diálogo com a tradição – menos crítico ou mais crítico, fiel ao modelo ou afastado deste, conforme a análise de dada obra nos revelaria –, mas Ivan Junqueira frisa que é a partir do Romantismo, vincado por valores como gênio, subjetividade e originalidade, que tal prática cai em desuso e se invertem “radicalmente os pólos da questão” (idem). A técnica do palimpsesto, nesse sentido, é vista pelo crítico-poeta como “substrato operacional dos processos intertextuais que informam considerável e instigante território da poesia contemporânea” (idem), de T. S. Eliot a Jorge de Lima, de Borges a Haroldo de Campos etc. Para o crítico – e este é um ponto fundamental –, “é a partir do intertextualismo […] que a poesia contemporânea se outorga a condição de um continuum cultural” (p. 88; grifo do autor), uma vez que o intertextualismo procede à substituição das tradicionais práticas miméticas e, ao mesmo tempo, é guiado por uma visão crítica e seletiva que fragmenta o texto primeiro e, em contra-partida, faz com que o texto segundo, decalcado de um ou de vários palimpsestos anteriores, seja também fragmentado e fragmentário, em consonância com as muitas fraturas que permeiam o homem de nosso tempo. Contudo, a meu ver, também neste particular – deixando de parte o fragmentarismo inerente à prática contemporânea –, pode-se considerar que a intertextualidade, teorizada apenas recentemente, e apenas recentemente levada ao paroxismo, não deixa de estar presente já na Antiguidade clássica, se a consideramos como diálogos entre textos de variada procedência e em variados cruzamentos. Por fim, Junqueira acentua “o caráter globalizante, dialético e circular do intertextualismo” (p. 91) tal como praticado hoje, e o conceitua da seguinte maneira: Enxertia textual cujas colagens, bricolagens, citações, fragmentos, alusões, paráfrases ou imitações nos remetem sempre a outro ou a outros textos, assim como estes nos levam a retroceder ao anterior e este ao que lhe é pregresso e este outro a um primeiro original que talvez nem seja mais texto, mas apenas indício pictográfico da linguagem dos povos que viviam então a infância da palavra escrita. (p. 91; grifo do autor)
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
197
Evidente que o palimpsesto, no ensaio de Junqueira, refere-se essencialmente ao modo como a poesia moderna e contemporânea (principalmente a partir de T. S. Eliot) lida com a tradição, seletiva e criticamente, fragmentando-a em busca das “ruínas do passado” (p. 95) com as quais amparar as “ruínas do presente” (idem). Evidente, também, que o modo como a poesia trabalha com os procedimentos intertextuais difere bastante do modo como a prosa narrativa os concebe e os utiliza. Contudo, ao aproximar os termos coivara (prática cultural de nossos indígenas, que sobre os restos do fogo plantavam suas novas lavouras) e palimpsesto (prática cultural dos homens medievais, que sobre os restos dos discursos antigos plantavam as marcas de seu tempo), quis frisar, na literatura em geral e na literatura de Dantas em particular, a necessidade do diálogo crítico com os predecessores – imediatos ou distantes, no tempo e no espaço. Ao fim e ao cabo, é pela maneira pessoal e diferente – no sentido que Silviano Santiago confere ao termo – como se travam esses diálogos, que se pode averiguar o valor e a força de uma literatura como a nossa, em sua busca de afirmação e inserção na tradição ocidental – cujo cânone, a meu ver, deve ser quebrado e questionado principalmente pelo valor estético que as novas obras portem em si mesmas, e não apenas por fatores contingentes.
3. Os desvalidos e suas vidas quase secas, quase severinas O segundo romance de Dantas, Os desvalidos, coerentemente com o exposto pelo autor em “A lição rosiana”, é ambientado nos limites do sertão de Sergipe, nos anos 30, num momento em que o estado (como todo o Nordeste) se vê dominado pelo cangaço e por sérios problemas sociais e econômicos. Dentre estes, a decadência dos engenhos de canade-açúcar (um dos temas de Coivara da memória) e o incipiente capitalismo (motivo sempre aflorado em Os desvalidos, seja através da invasão dos remédios industrializados que levam à falência a botica herdada por Coriolano, seja através da derrocada da produção artesanal de selas e outros utensílios de couro, ora dizimada pela produção em série das manufaturas). Ainda como substrato à perfeita configuração da obra, há a presença da cultura popular da região e um universo de tipos humanos cuja visão de mundo e cujos valores, hábitos, costumes e usos lingüísticos são orquestrados por uma narrativa extremamente complexa, que prima pelo estético e que rompe com os esquemas simplistas de certa literatura regionalista. Assim, a apresentação de Alfredo Bosi encarece o romance e aponta a alquimia essencial do autor: Dantas, “depois dos vários regionalismos e de Guimarães Rosa”, (apud DANTAS, 1993, s/p.) enfrenta o desafio de compor as vozes da cultura popular em acordes próprios do escritor culto. […] A sua prosa alcança o equilíbrio árduo entre a oralidade da tradição, cujos veios não cessa de perseguir, e uma dicção empenhadamente literária que modula o fraseado clássico até os confins da maneira. (idem)
Assim, a “arte realista e poética” (idem) do prosador sergipano, neste romance, mergulha fundo nas fontes da cultura popular nordestina, pois Os desvalidos, antes de tudo, quer-se um romance de cordel a fim de mais plena e fielmente romancear a vida barata e desvalida de suas personagens. Nesse sentido, o romance, ao aparentemente
198
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
subverter o gênero (pois o cordel, como se sabe, é composto em versos e atende a regras fixas de composição), nem por isso lhe nega a essência, pois os temas e motivos tradicionais desse tipo de composição (o maravilhoso, a tradição do romanceiro ibérico, as sagas heróicas, o folclore, as lendas ou a história de figuras populares como Lampião, Maria Bonita ou o Padre Cícero), aparecem transfigurados e transfundidos na narrativa como elementos fundamentais à sua configuração e conseqüente compreensão. Outrossim, a literatura de cordel vinca praticamente todo o romance, negativa (na tentativa frustrada de Coriolano em pôr em versos a história dos pares do Aribé) ou positivamente (no aspecto formativo, informativo e recreativo da literatura popular, pois Coriolano, cedo alfabetizado pela Seleta clássica e pela História sagrada, é leitor muito mais assíduo de sua própria tradição, da qual lê e relê, pela vida afora, os folhetos célebres do Lunário perpétuo, d’A vida de Cancão de Fogo e seu testamento, d’Os doze pares de França, d’As mil e uma noites etc.). Por outro lado, a incapacidade de Coriolano para escrever a história sua e de seus amigos após o desastrado confronto com Lampião, no semi-árido do Aribé, revela como as reflexões suscitadas pelo fato, e que dizem respeito à palavra, à linguagem, à técnica literária e à própria literatura, culta ou popular, vão permear toda a narrativa, conforme o demonstram os seguintes excertos: Se ele, Coriolano, tivesse algum traquejo de mão ensinada pra escrevinhar, ia botar em versos uma história limpa e verdadeira – ora se não ia! […] Mas [era] falto de tarimba com as palavras, que requerem o mesmo manejo amoroso encarecido por mestre Isaías nas suas obras de sola. (DANTAS, 1993, p. 20/21) Não queria destorcer o rumo verdadeiro da má sorte dos amigos, nem se render ao visgo da fantasia. A bitola aumentada dos folhetos que decorara é tudo que não queria! Mas parece que se viciara na leitura de tanto descalabro e muita inventação, pois quanto mais se empinava em direiteza, caprichando em espremer e tornar enxutas as suas exatidões, mais era traído pelo chamado da rima. (p. 21) Compadre Zerramo, tio Filipe, Lampião, todos eles aí se engancharam em seu destino; os dois primeiros, lhe passando a mais limpa amizade, o mel da vida; e este famigerado, a mais sacana violência, a agonia mais crucificada. […] E nem sequer ter sabença pra botar isso num folheto contando tudo certinho! […] Seria um alívio para as cordas da alma! Ah, se seria! (p. 51) Tapado é o que é. Não serve nem pra botar tio Filipe no papel. […] Não ter tutano pra passar à frente a tocha do que aprendeu a preço da própria vida! Nem sequer um trechinho bem arranjado! Nem unzinho! E maginar que se prometera fazer uma história fornida como um cerno de aroeira, e recheada de suco.[…] E quanto pelejei nessa ilusão! […] Bonito saldo, Coriolano! Bonito, hem?! (p. 121)
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
199
– Deste Lampião, que um dia me levou pra um buraco, todo o bem que botam é poetagem! É léria de imaginamento! […] Pegue aí os folhetos de Ataíde, de Chico Chagas Baptista, tenho deles boas dúzias, e veja que Virgulino é muito mais perverso do que Antônio Silvino, embora aquele também não fosse nenhuma flor que se cheire! (p. 175/176)
Os extratos citados levam-nos a algumas reflexões: a) a princípio, a exploração dos aspectos metalingüísticos e intertextuais – uma constante em Dantas. Se aqui tais aspectos ligam-se mais diretamente à literatura popular, nem por isso são menos aplicáveis à universalidade da literatura culta, uma vez que o “manejo amoroso” da palavra, a “inventação”, o “imaginamento” e a “sabença” são prerrogativas necessárias àquele que escreve ou que pretende escrever; b) a exploração dos aspectos metalingüísticos e intertextuais torna-se possível porque o autor, do vasto campo da cultura popular, escolhe a literatura, não a música, a escultura ou a xilogravura; c) tais questões levam-nos a considerar, na esteira de um Augusto Meyer ou da escola alemã de literatura comparada, a migração fecunda de temas e motivos da literatura popular para a chamada literatura erudita, e o romance de Dantas, além de fincar fundas raízes no solo em que floresce a cultura popular, a eleva a fundamento estrutural de seu romance – e não apenas como exotismo estético, antropológico ou sociológico –, pois no caminho de mão dupla que permeia tais padrões de literatura, muitos dos temas e motivos do cordel tiveram origem no seio da literatura culta; d) por fim, os fragmentos citados põem a descoberto aspectos do trabalho do autor com a linguagem e com a construção romanesca, seja na apropriação de ditados e usos lingüísticos da região, na metaforização, na recuperação de arcaísmos (“mui”, por exemplo), na criação de neologismos ou na configuração de uma prosa poética e expressiva que toca, segundo Alfredo Bosi, “os confins da maneira”. Os seguintes exemplos ilustrativos tirados do romance dão uma idéia dos torneios sintáticos, semânticos e morfológicos operados pela narrativa de Dantas: “esquivoso” (p. 14); “serpentoso” (p. 19); “segredoso” (p. 73); “paciencioso” (p. 92); “infancioso” (p. 218); “duvidadeiro” (p. 99); “amigueiro” (p. 134); “fulanagem” (p. 88); “sopra não sei que afago que lhe adoça o cartucho dos ouvidos, ajudado por aquele olhar ajardinado tão cheiroso a carinho” (p. 41); “veja só, minha gente, o maquinismo da vida, mal rodado a mancal e manivela” (p. 56); “Nem com Maria repartia a parda melancolia” (p. 71); “aí tio Filipe forra de trevas a festa do olhar” (p. 77); “no meio de tanto rasga-seda e tamanha louvação, tio Filipe, ali turibulário a incensar lisonjas, percebe que Virgulino se contraria” (p. 200); “já soletrando, de punhal na mão, os garranchos sangrentos da tortura” (p. 202). Observe-se, inclusive, que o final do excerto pinçado da página 121, “Bonito saldo, Coriolano! Bonito, hem?!”, é um recurso bastante usado pelo narrador para sondar as personagens, para repreendê-las, para dialogar com elas ou para incitá-las à ação: “Quanto ao mais, hem Coriolano?” (p. 23); “Será ciúme, hem rei Virgulino?” (p. 191). Da mesma forma, a rosiana expressão “minha gente”, na boca das personagens (o primeiro exemplo, abaixo) ou do narrador (os dois últimos), além de ligar-se à oralidade, acaba por incluir o leitor (o círculo de ouvintes do cordel) no emaranhado da história: “Deus que me perdoe a soberba, mas nem no céu quero entrar de tamanqueiro! Se o preço for esse, minha gente, é melhor perder a salvação!” (p. 18); “Minha gente, este é Filipe, o amansador!” (p. 41); “Tudo isso, minha gente, num despotismo que feria as suas regras!” (p. 62).
200
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
A segunda faceta importante deflagrada pela não-escritura do cordel de Coriolano está intimamente ligada às observações precedentes, pois traz à tona a transferência de tarefas e, por conseguinte, a transferência de formas narrativas, passando-se de um romance de cordel, em versos, miticamente idealizado e tributário da tradição ibérica, para um romance em prosa, crítico, analítico e reflexivo, mas que nem por isso desdenha ou desconhece o chão e as personagens cujas venturas, aventuras e desventuras passa então a relatar. Assim, Coriolano é substituído por um narrador culto que se cola à personagem principal, compartilha suas experiências, esposa seus pontos de vista, sua cosmovisão e seus valores para, enfim, escrever a história que o desvalido ex-aprendiz de seleiro não tem condições de narrar. Evidente que o ponto de vista privilegiado e onisciente desse narrador culto não é absoluto, pois, a cada página, sua voz em terceira pessoa é substituída pelas vozes das personagens principais, que, em primeira pessoa, doravante se responsabilizam pelo andamento da narrativa. Além disso, tais vozes fazem entrever, ao leitor, as reflexões, os sentimentos e os pensamentos de cada personagem, bem como os valores e os anseios que as movem e justificam suas existências. Em minha opinião, a fratura constante da voz onisciente do narrador pela das personagens, num contraponto dinâmico e sabiamente orquestrado, resolve de maneira eficaz, no romance, os impasses e dilemas da representação do homem simples do sertão, seu meio e sua cultura. Por seu turno, a estrutura bipartida da narrativa, concluída por um epílogo, recebe títulos que também nos remetem à literatura popular: a primeira parte, “O cordel de Coriolano”, corre no ano da morte de Lampião, 1938, e enfoca o presente sem perspectivas da personagem principal, Coriolano, que aos 51 anos encontra-se na pequena cidade de Rio-dasParidas, mas anseia abandoná-la e voltar para sua terra no Aribé. Composta de 17 capítulos, esta primeira parte trata, em suma, dos vários problemas da escritura e da não-escritura do cordel, discutidos acima, bem como nos apresenta as personagens principais, Coriolano, tio Filipe, Maria Melona e Zerramo, em episódios que se embaralham, pois estes enfocam tanto o presente de Coriolano adoentado, reduzido a reles sapateiro, quanto mergulham no passado remoto ou mais imediato do ex-boticário e das outras personagens, sempre presentes na memória de Coriolano e em suas reflexões ziguezagueantes, em fluxos aproveitados pelo narrador para a construção, em flashback, de grande número dos capítulos. A segunda parte, “Jornada dos pares no Aribé”, é uma longa analepse, em oito capítulos, que enfoca o passado dos três homens, Coriolano, tio Filipe e Zerramo, que, entre 1925 e 1937, gozam de relativa tranqüilidade no semi-árido sergipano. A paz mais ou menos precária em que vivem, contudo, é quebrada pela chegada da figura truculenta de Lampião, o qual é apresentado, ao longo da segunda parte, em sua dimensão humana, não heróica ou mitificada, revelando-se assim os motivos e as condições adversas que o levaram ao cangaço. Lampião, em suma, “é um estranho rei corrido e engendrado pela penúria de seu próprio povo” (p. 150), cujo olho vazado é motivo de bizarras relações por parte do narrador culto e letrado: “Assim com um olho tapado e outro engenhoso, qual dos dois será o mais camoniano?” (idem). A alternância das vozes do narrador onisciente e dessa personagem violenta, porém desvalida de representatividade social, política e econômica, como todas as demais, mostra-se plenamente eficaz. Por fim, há o célebre confronto entre Lampião (ora acompanhado de quatro sequazes) e os pares do Aribé, confronto este que desbarata de vez a vida e o sossego dos três homens e depois motiva, no íntimo de Coriolano, a vontade de escrever o cordel, conquanto heroísmo épico falte a todos eles: Zerramo, num assomo de retumbante valentia, é morto; tio Filipe, amedrontado devido
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
201
a certa encomenda que Lampião lhe incumbe, é resgatado pelo bravo cangaceiro Saitica, que se revela depois como a Maria Melona da mocidade do tio e por este abandonada; Coriolano foge de volta para Rio-das-Paridas, ruminando uma vingança impotente que nem em folheto de cordel é capaz de concretizar para, enfim, redimir-se e ombrear-se – e a seus pares – à bravura destemida de Virgulino Lampião, segundo os muitos folhetos o contam e recontam. Finalmente, o romance é concluído pelo epílogo, “Exemplário de partida e de chegada”, que fecha circularmente a narrativa: está-se novamente em Rio-das-Paridas, em 1938, onde vamos encontrar Coriolano ainda indeciso sobre a volta a Aribé, fato que agora poderia efetivar-se porque Lampião está morto, decapitado pelos macacos. Mas, enfiado com seus trastes, cada vez mais corcunda e com a perna vitimada por uma erisipela, o ex-aprendiz de seleiro é surpreendido pela chegada de tio Filipe, insano, completamente alheado do mundo, com olhos e juízo apenas para os trastes de metal que coleciona desde a juventude. Os desvalidos, ressalvadas as peculiaridades de foco narrativo em terceira pessoa e a estrutura vincada pela literatura popular de cordel, guarda algumas afinidades temáticas e estruturais com Coivara da memória: primeiramente, o evidente assentamento regionalista; em segundo lugar, o detrimento das ações em prol da reflexão, em vários níveis; em terceiro, o papel relevante concedido à memória e à transmissão da experiência, seja esta diretamente ligada às personagens e/ou vivenciada pelo narrador; em quarto, o longo corte temporal operado pela narrativa, tempo este que aparece embaralhado na própria estrutura romanesca e no relato das experiências e das reflexões íntimas das personagens, principalmente Coriolano. Estruturalmente, conjugando os três últimos aspectos, merecem destaque os artifícios narrativos, que desnudam a polifonia e o dialogismo inerentes ao romance – aspecto já salientado suficientemente. Sobre as personagens, também já se frisou à exaustão seus caracteres essenciais, mas ressalte-se ainda que Coriolano, “menino refugado” (p. 142), marcado por algumas características negativas (a preguiça, a falta de iniciativa, a dispersão, a indecisão, o desmazelo), e motivo de chacota por parte do próprio narrador e de algumas personagens, que o chamam de “remendão” – “palavrinha que odeio!” (p. 35); este Coriolano, enfim, é o oposto da imagem literária do sertanejo forte e heróico, talhado para a ação. Alfabetizado, ele vive mergulhado no mundo poético ideal dos folhetos de cordel e é dotado de uma vida interior que, ao invés de impeli-lo para a transformação de seu mundo e do mundo à sua volta, acaba desviando-o das necessidades e dos objetivos práticos da vida, conforme o atestam as seguintes palavras do narrador: “A lembrança disso que se foi, aliada ao atual infortúnio, azeitam-lhe as molas íntimas, e o ajudam a enxergar o oco penoso que é o mundo” (p. 163). Talvez se pudesse considerar que a obra, neste particular, partilha a visão fatalista tão comum à literatura regionalista nordestina do ciclo da seca, por exemplo. Porém, a meu ver, mais que adesão ao maniqueísmo e à inclemência cega da natureza local, interessa ao romancista a pintura do retrato de um homem comum, contraditório e desvalido em sua frágil condição humana, e cuja vida interior é escavada de várias formas, a fim de que se evidencie a riqueza humana da personagem. Em espelho, pode-se ainda aplicar a Coriolano a caracterização que Rodrigo S. M., o narrador de A hora da estrela, de Clarice Lispector, faz de Olímpico de Jesus, que “desde menino na verdade não passava de um coração solitário pulsando com dificuldade no espaço. O sertanejo é antes de tudo um paciente”. (LISPECTOR, 1984, p. 75; grifos 202
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
meus) Além deste aspecto, podem ser traçados vários outros paralelos entre as obras de Lispector e de Dantas: o narrador colado às personagens; o trabalho com a linguagem; os temas; as referências à cultura popular; a denúncia e a visão crítica da sociedade e da condição do sertanejo, muito embora o romance do sergipano não seja uma “história lacrimogênica de cordel” (p. 13), para nos reportarmos a um dos 13 subtítulos de A hora da estrela. Diferentes dos desvalidos de Dantas – mas com estes mantendo inegáveis pontos de contato –, são os retirantes de Vidas secas, inclusive no que diz respeito à relação das personagens desta obra com a linguagem. Também difere, de um Coriolano, o retirante severino de João Cabral de Melo Neto, conquanto as raízes ibéricas medievais do auto de natal cabralino sejam as mesmas do cordel levado a cabo por Dantas. Em suma, diferem porque o espaço difere, e muitos são os sertões e os sertanejos: assim, longe de serem habitantes da caatinga, sempre obrigados a abandoná-la por causa da seca, tornandose retirantes, as personagens do escritor sergipano, mesmo embrenhando-se pelo sertão devido a suas necessidades profissionais, se concentram mais perto da faixa litorânea, de Rio-das-Paridas (cidade que aparece, emblematicamente, nos três romances de Dantas) a Aribé. Tal região semi-árida, “rota do cangaço”, (DANTAS, 1993, p.132) “passagem obrigatória de quem vem da Bahia por Jeremoabo, entrando em Sergipe por Cipó-de-Leite” (p. 168), é assim caracterizada pelo narrador: É aqui que o agreste esbarra no sertão. Zona bastarda e mestiça, meio barro meio tijolo, onde os contrários convivem entrelaçados, a tal ponto que a malva preta do sertão se entrança na faveira branca do brejo. […] dois extremos que se roçam e se entendem numa mistura indisciplinada onde as ervas do brejo ou do sertão se dão muito bem, mas a boa lavoura é que não. […] [Após a chuva,] nesta terrona toda, assim ariúsca e saibrosa, o povo se contenta com uma safrinha de nada, enquanto o próprio sertão transborda em abundâncias. […] Lugar desvalido, este Aribé! Só medra mesmo uma relvinha dura pra beiço de jegue, e umas frutinhas do mato, lavra perdida que nenhum vivente quer. Do sertão, tem o sol e a míngua, mas não a seiva: do brejo, a mesma areia e o saibro rugoso, mas não a chuva. (p. 161/162)
Em outro sentido, os desvalidos de Dantas, todos homens comuns, modestos artesãos, lavradores pobres, analfabetos, cangaceiros, pequenos comerciantes ou caixeirosviajantes, premidos pelas necessidades de sobrevivência e à mercê da própria sorte, sem a valia de coronéis e sofrendo o descaso de governos e governantes, são retratos ao natural de parte considerável de nossa população, do campo ou das cidades, que ainda hoje anseiam por reformas fundamentais – não cosméticas – que efetivamente ajudem a transformar a estrutura viciada e excludente da realidade brasileira.
4. Regionalismos, super-regionalismo e universalismo Procurei, até aqui, proceder à análise dos dois primeiros romances de Francisco J. C. Dantas à luz de seu depoimento “A lição rosiana”, e pude realmente constatar que este texto é de valia inestimável para situar-se a obra ficcional do escritor sergipano em relação aos AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
203
predecessores e em relação ao contexto atual da produção literária brasileira. Nesse sentido, parece-me evidente que os romances de Dantas lidam com questões de identidade e são representativos de uma constante basilar da tradição brasileira que é aproveitada criticamente, de várias maneiras, por nossa produção literária contemporânea: a tensão literatura e sociedade. Por outro lado, tais romances são também representativos de outras tensas relações esboçadas já no Romantismo brasileiro e acirradas pelo Modernismo e pelo panorama contemporâneo: regionalismo e universalismo, localismo e cosmopolitismo, nacionalismo e estrangeirismo, eticismo e esteticismo etc. Em um texto clássico de Literatura e sociedade, “Literatura e cultura de 1900 a 1945 (Panorama para estrangeiros)”, Antonio Candido estabelece a famosa dialética localismo e cosmopolitismo, na senda trilhada antes dele por nossos românticos, por Machado de Assis (no ensaio “Instinto de nacionalidade”, 1873), por Adolfo Caminha (em Cartas literárias, 1895), por outros naturalistas e positivistas e, no século XX, por Alceu Amoroso Lima (em Introdução à literatura brasileira, 1956, em que propõe o binômio universalismo e localismo). Candido assim se expressa: Se fosse possível estabelecer uma lei de evolução da nossa vida espiritual, poderíamos talvez dizer que toda ela se rege pela dialética do localismo e do cosmopolitismo, manifestada pelos modos mais diversos. Ora a afirmação premeditada e por vezes violenta do nacionalismo literário, com veleidades de criar até uma língua diversa; ora o declarado conformismo, a imitação consciente dos padrões europeus. (CANDIDO, 1967, p. 129)
Conquanto um dos pêndulos da equação possa oscilar para este ou aquele lado, em decorrência das escolas literárias, das injunções político-ideológicas do momento, do gosto estético ou da formação pessoal dos autores, penso que é preciso reconhecer, com Antonio Candido, que as melhores realizações de nossa literatura (Gonçalves Dias, Machado de Assis, Guimarães Rosa) ocorreram justamente nos “momentos de equilíbrio ideal entre as duas tendências” (p. 130). Por tudo que já foi enfatizado acerca da obra inicial de Dantas, esta pode perfeitamente ser colocada como representante de um ponto de equilíbrio, em nossa literatura atual. Mas vamos a um texto mais recente, “Algumas reflexões sobre regionalismo e nacionalismo”, de Walnice Nogueira Galvão, apresentado em Lisboa, em 1994, no âmbito do II Simpósio Luso-afro-brasileiro de Literatura, e logo publicado nas Atas do evento, em 1997. A autora, a partir da própria tese de Candido, elabora o seguinte comentário: Nem sequer podemos afirmar que a ênfase posta no pólo localista/regionalista/nacionalista, de um lado, ou, ao contrário, no pólo universalista/cosmopolita/internacionalista, tenha uma oscilação pendular alternando-se conforme se sucedem as mudanças no gosto, os movimentos, as escolas. Não. Os dois pólos coexistem em cada fase e mesmo em cada escritor, segundo sua consonância ou dissonância com o padrão europeu do momento. A trajetória da literatura brasileira, vista assim, torna-se uma história de ‘adaptação de modelos’, em que nenhuma experiência pode ser cancelada de antemão só porque pende para um ou para outro pólo. […] Se o pólo localista/regiona-
204
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
lista/nacionalista oferece um aspecto democrático de reivindicação do direito à diferença, ele também tem outra face, que é chauvinista, xenófoba, racista e intolerante. E se o pólo universalista/cosmopolita/internacionalista abre o risco do imperialismo cultural, da perda de identidade e da homogeneização, ele igualmente tem outra face, que propõe, também democraticamente, o pluralismo, os ideais ilustrados, a defesa da arte e do saber desinteressados. (GALVÃO, 1997, p. 204; aspas da autora)
É preciso ter em mente que a autora dialoga, em seu texto, com outra obra de Candido, Formação da literatura brasileira, daí a ênfase nas relações Arcadismo e Romantismo e, ao mesmo tempo, a expansão da discussão até a vanguarda modernista. Em síntese, seu ponto de vista não deixa de concordar com os “momentos de equilíbrio” reivindicados por Candido, embora a questão se coloque, em Walnice, sob a égide dos novos paradigmas críticos deflagrados pela contemporaneidade. Seja como for, as questões aventadas pela ensaísta também iluminam, a meu ver, a obra inicial de Francisco J. C. Dantas, na linha em que a tenho analisado. Voltemo-nos agora para o estudo de José Maurício Gomes de Almeida, A tradição regionalista no romance brasileiro, e consideremos algumas coordenadas que, segundo o autor, são de especial relevância: de antemão, Almeida aponta “a quase impossibilidade de se fixar, de modo estável e definitivo, um conceito estrito de romance regionalista que atenda a toda aquela ampla gama de obras tidas geralmente pela crítica como tais”. (ALMEIDA, 1981, p. 265) Em seguida, o autor esclarece os quatro pontos básicos de sua tese, sendo o primeiro: A única exigência de validez geral para que uma obra seja considerada a justo título regionalista é a da existência de uma relação íntima e substantiva entre sua realidade ficcional e a realidade física, humana e cultural da região focalizada. O modo como na prática este relacionamento se efetiva vai variar de época para época, de escritor para escritor, de obra para obra. (p. 266; grifos do autor)
Em segundo lugar, o estudioso destaca a “gênese do próprio regionalismo” (idem), a princípio derivado “das preocupações nacionalistas dos românticos” (idem) e, depois, “voltando com o passar do tempo, de modo sempre mais definido, para os valores específicos de cada região dentro do complexo cultural do país” (idem), podendo-se falar, portanto, em vários regionalismos, no Brasil: nordestino, gaúcho, paulista, amazonense, do Centro-Oeste etc. A diferença entre estes e o estrito regionalismo romântico do século XIX, pós-Independência, é que este vem marcado por um sentido e um sentimento gerais de nacionalismo, não tanto de busca das especificidades regionais. Sob meu ponto de vista, estas duas primeiras assertivas são bastante pertinentes, pois, mesmo englobando obras diferentes e distantes no tempo e no espaço, procuram respeitar suas especificidades estéticas e sua possível adequação a uma perspectiva mais universalista do homem. O terceiro ponto do estudo de Almeida assevera que a “outra face importante da ficção regionalista volta-se para a denúncia social” (p. 267), como é patente nos romances nordestinos de 30 e, conforme tenho aqui demonstrado, também nos romances de Dantas,
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
205
notadamente Os desvalidos, ressalvadas a distância estética e a temporal que separam o escritor sergipano de seus predecessores. Finalmente, em quarto lugar, o autor acredita que “como decorrência natural da gênese e natureza da ficção regionalista, constata-se outro fato importante: o caráter se não impossível, pelo menos bastante problemático da existência de um regionalismo urbano” (p. 268). Segundo tal raciocínio, poderíamos enquadrar, como claramente regionalistas, os dois primeiros romances de Dantas, Coivara da memória e Os desvalidos, mas não o terceiro, Cartilha da memória, ambientado quase todo em Aracaju – a despeito de serem gritantes as diferenças entre a cidade de 1915 e a de 1974, conforme esta aparece caracterizada no longo lapso de tempo problematizado pela narrativa. Por seu turno, José Aderaldo Castello, no ensaio “Regionalismo brasileiro. Uma derivada do nacionalismo romântico”, lido no II Simpósio Luso-afro-brasileiro de Literatura (Lisboa, 1994) e publicado nas Atas do congresso, acredita que regionalismo, em geral, “se submete a uma formulação sociológica. Creio mesmo não ser possível dissociálo desse campo ou mais especificamente do campo da sociologia da literatura”. (CASTELLO, 1997, p. 109) Castello aponta, na evolução do regionalismo brasileiro, que “a tendência, nesse processo de maturidade, é para as grandes sínteses” (p. 111), como as que se evidenciam em obras como Fogo morto, de José Lins do Rego, Vidas secas, de Graciliano Ramos, Grande sertão: veredas, de Guimarães Rosa, O continente I – O tempo e o vento, de Érico Veríssimo. Enfim, o crítico procede à conclusão de seu breve estudo oferecendo uma conceituação de regionalismo que complementa a perspectiva de José Maurício Gomes de Almeida: No caso brasileiro é derivação ou vertente de ideologia nacionalista, com a qual ao mesmo tempo se confunde. Se é certo, compreendêmo-la na sua expressão literária como geradora de observações, registros, reflexões e recriações artísticas, idealizadas ou não, da relação homem/terra em determinados espaços do complexo nacional, visando à investigação da vida humana em termos de conflitos, sobrevivência, cultura, sem prejuízo da investigação existencial ou do próprio destino humano. […] ao mesmo tempo que soma componentes nacionais, não exclui a universalidade: esta depende sobretudo da maturidade da expressão, da relativa originalidade da forma e do tratamento temático em função do interrelacionamento dos componentes regionalistas na unidade geral, de maneira a superar as limitações ‘exóticas’. (p. 112/113; aspas do autor)
Parece claro, pela citação, que as duas obras iniciais de Francisco J. C. Dantas acatam o suporte nitidamente regionalista proposto por Castello, pois são representativas da “relação homem/terra em determinados espaços”. Mas também é patente que ambas preenchem a contento os outros requisitos aventados pelo crítico, ultrapassando em muito o regionalismo canhestro. Assim, os dois romances, cada um a seu modo, tendem “para as grandes sínteses”, afastam-se da estrita ideologia que movera grande parte dos romancistas de 30, visam “à investigação da vida humana em termos de conflitos, sobrevivência, cultura”, procedem à “investigação existencial”, não se contentando com o pitoresco exótico, e apresentam “maturidade de expressão”, fatores que, somados, lhes garantem plena universalidade. 206
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
Enfim, a lição de Antonio Candido, “Literatura e subdesenvolvimento”, caracteriza o regionalismo como “uma etapa necessária, que fez a literatura, sobretudo o romance e o conto, focalizar a realidade local”. (CANDIDO, 1989, p. 159) Em seguida, o crítico apresenta a divisão do regionalismo brasileiro em três fases: a primeira, refletindo a “consciência amena de atraso” (p. 146), corresponde ao regionalismo romântico, que “nunca produziu obras consideradas de primeiro plano, mesmo pelos contemporâneos, tendo sido tendência secundária, quando não francamente subliterária, em prosa e verso. Os melhores produtos da ficção brasileira foram sempre urbanos” (p. 161; grifo do autor). A segunda fase (que suplanta, conforme o crítico sugere, o regionalismo pitoresco do final do século XIX e do começo do século XX, francamente acadêmico), é marcada pelo despertar da catastrófica “consciência do subdesenvolvimento” (p. 154), e aqui “as tendências regionalistas, já sublimadas e como transfiguradas pelo realismo social, atingiram o nível das obras significativas” (p. 161). Candido, em seguida, tece os seguintes comentários críticos, através dos quais vai caracterizando, de modo lapidar, a terceira fase do regionalismo entre nós: Muitos autores rejeitariam como pecha o qualificativo de regionalistas, que de fato não tem mais sentido. Mas isto não impede que a dimensão regional continue presente em muitas obras da maior importância, embora sem qualquer caráter de tendência impositiva, ou de requisito duma equivocada consciência nacional. O que vemos agora, sob este aspecto, é uma florada novelística marcada pelo refinamento técnico, graças ao qual as regiões se transfiguram e os seus contornos humanos se subvertem, levando os traços antes pitorescos a se descarnarem e adquirirem universalidade. Descartando o sentimentalismo e a retórica; nutrida de elementos não-realistas, como o absurdo, a magia das situações; ou de técnicas antinaturalistas, como o monólogo interior, a visão simultânea, o escorço, a elipse – ela implica não obstante em aproveitamento do que antes era a própria substância do nativismo, do exotismo e do documentário social. Isto levaria a propor a distinção de uma terceira fase, que se poderia […] chamar de super-regionalista. Ela corresponde à consciência dilacerada do subdesenvolvimento e opera uma explosão do tipo de naturalismo que se baseia na referência a uma visão empírica do mundo. […] Deste super-regionalismo é tributária, no Brasil, a obra revolucionária de Guimarães Rosa. (p. 161/162; grifo do autor)
A longa citação se justifica porque oferece, para a conclusão deste trabalho, algumas questões da maior importância: primeiro, o fato de uma nova “florada novelística” tematizar a “dimensão regional”, mas estar infensa às imposições externas e aos rótulos, inclusive de regionalista, porque isto “não tem mais sentido”; segundo, o fato de esta mesma “florada novelística” estar “marcada pelo refinamento técnico”, recorrendo inclusive a “elementos não-realistas” e a “técnicas antinaturalistas” a fim de proceder à subversão da tradição documentarista de nossa literatura; terceiro, em decorrência do exposto, “as regiões se transfiguram e os seus contornos humanos se subvertem”, adquirindo universalidade; quarto, a aplicação do status de “super-regionalista” à obra de Guimarães Rosa.
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
207
O texto de Candido, escrito e publicado nos anos 70, primeiro em traduções (a francesa, em 1970; a espanhola, em 1972), e só depois no Brasil, além de complementar um outro estudo seu da época (“A nova narrativa”, 1979), parece bastante premonitório no que concerne aos múltiplos caminhos recentes da literatura brasileira. Assim, ao articularmos as três primeiras coordenadas, forçoso seria estudar, in loco, uma ampla safra de autores, dos mais diversos quadrantes, para verificar o que tal nova “florada novelística” operou, em termos de transfiguração da realidade e de aprimoramento técnico, na literatura brasileira. Como tal projeto é aqui inexeqüível e foge de nossos modestos propósitos, pensemos em Adonias Filho, Autran Dourado, Osman Lins, Clarice Lispector, Raduan Nassar e, mais recentemente, em Francisco J. C. Dantas, Milton Hatoum e Luiz Ruffato, autores que, guardadas suas especificidades e pessoalidades, realmente respondem às coordenadas acima, inclusive tendo-as enriquecido com novos temas, motivos, técnicas e valores humanos e literários. Por seu lado, o rótulo de super-regionalista – ou supra-regionalista mítico, como quer Benedito Nunes; ou hiper-regionalista, na observação de Ligia Chiappini – parece aplicar-se apenas a Guimarães Rosa, o que confirma sua posição única no contexto da literatura brasileira, no sentido de ter ultrapassado qualquer regionalismo estrito e ter alçado o sertão, o sertanejo e o sertanismo a paradigmas universais de metafísica e transcendência. Davi Arrigucci Jr., em “O mundo misturado: romance e experiência em Guimarães Rosa”, ao aplicar à literatura rosiana o epíteto de regionalismo cósmico – o mesmo que Harry Levin aplica a James Joyce –, procura explicar melhor o significado profundo deste aspecto: De certa maneira, o escritor se insulou, para reconhecer no mundo peculiar do sertão a que se dedicou amorosamente, com toda a alma, o universo de todos os homens e dos problemas que lhes podem corresponder. A passagem do grande sertão ao vasto mundo é imediata. Nesse sentido se poderia falar, quem sabe, num regionalismo cósmico, comparável, sob esse ângulo, com o projeto de Joyce. A própria tendência a pôr recursos poéticos a serviço da prosa de ficção, comum ainda a ambos, em larga medida depende do anterior, ou seja, das diferenças dos mundos a que têm que adequar seus respectivos meios, tão diversos quanto à tradição literária de que dependem, quanto a seus fins e muito mais. (ARRIGUCCI JR., 1995, p. 466; negrito e grifos do autor)
Essas e outras conquistas permanentes e pessoais de Rosa – como as conquistas de um Machado de Assis, um Oswald de Andrade, uma Clarice Lispector e tantos outros –, são indiscutíveis como valor agregado ao patrimônio geral da literatura brasileira, mas jamais podem ser tidas como um non plus ultra para os escritores contemporâneos. A meu ver, é nesse sentido que “A lição rosiana” – conjugada a outras lições regionais e universais importantes – é criticamente aproveitada pelo romancista sergipano. Em suma, os dois romances iniciais de Dantas, Coivara da memória e Os desvalidos, mesmo não se enquadrando como super-regionalistas, não deixam de apresentar uma cosmovisão universalista do homem simples e desvalido dos outros sertões (reais, não metafísicos) que vincam ainda hoje o chão do Brasil. Por outro lado, os dois romances, por seus próprios temas secundários (a decadência dos engenhos de açúcar nor208
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
destinos e dos valores patriarcais que lhes correspondiam; os violentos anos 30 no Nordeste, num momento em que começa a se deflagrar a contraditória modernização do país, após a Revolução de 1930), compartilham do universo ficcionalizado e denunciado pelos romancistas de nossa segunda geração modernista, embora apresentem sofisticadas técnicas de construção romanesca e ultrapassem qualquer classificação estanque de regionalistas. Tais constatações poderiam induzir a se pensar que Dantas, ao contrário de Rosa, está mais preocupado com o mundo do sertão, e não, como o escritor mineiro, com o sertão que é o mundo. Porém, em consonância com a melhor Literatura, o sertão que é o homem, com seus vãos e desvãos quase insondáveis, está muito bem mapeado nos três primeiros romances do autor de Cartilha do silêncio.
Bibliografia ALMEIDA, J. M. G. de. A tradição regionalista no romance brasileiro. Rio de Janeiro: Achiamé, 1981. ARRIGUCCI JR., D. O mundo misturado: romance e experiência em Guimarães Rosa. In: PIZARRO, A. (org.). América Latina: palavra, literatura e cultura. São Paulo/Campinas: Fundação Memorial da América Latina/UNICAMP, 1995 (v. 3). CANDIDO, A. Literatura e cultura de 1900 a 1945 (Panorama para estrangeiros). In:______. Literatura e sociedade: estudos de teoria e história literária. 2. ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1967. ______. Literatura e subdesenvolvimento. In:______. A educação pela noite & outros ensaios. 2. ed. São Paulo: Ática, 1989. CASTELLO, J. A. Regionalismo brasileiro. Uma derivada do nacionalismo romântico. In: CRISTÓVAO, F., FERRAZ, M. de L., et CARVALHO, A. (coords.). Nacionalismo e regionalismo nas literaturas lusófonas. Lisboa: Cosmos, 1997. p. 109-113. CHIAPPINI, L. Do beco ao belo: dez teses sobre o regionalismo na literatura. In: CRISTÓVAO, F., FERRAZ, M. de L., et CARVALHO, A. (coords.). Nacionalismo e regionalismo nas literaturas lusófonas. Lisboa: Cosmos, 1997. p. 133 – 136. CUNHA, A. G. da. Dicionário histórico das palavras portuguesas de origem tupi. São Paulo/ Brasília: Melhoramentos/UnB, 1998. DANTAS, F. J. C. Coivara da memória. 3. ed. São Paulo: Estação Liberdade, 2001. ______. Os desvalidos. São Paulo: Companhia das Letras, 1993. ______. Cartilha do silêncio. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. ______. A lição rosiana. Scripta, Belo Horizonte, v. 5, n. 10, p. 386-392, 1o sem. 2002. GALVÃO, W. N. Algumas reflexões sobre regionalismo e nacionalismo. In: CRISTÓVAO, F., FERRAZ, M. de L., et CARVALHO, A. (coords.). Nacionalismo e regionalismo nas literaturas lusófonas. Lisboa: Cosmos, 1997. p. 201-204. HATOUM, M. Guimarães Rosa: o diálogo difícil. Scripta, Belo Horizonte, v. 5, n. 10, p. 393397, 1o sem. 2002. JUNQUEIRA, I. Intertextualismo e poesia contemporânea. In:______. O encantador de serpentes. Rio de Janeiro: Alhambra, 1987. p. 85-95. LISPECTOR, C. A hora da estrela. 7. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984. MOISÉS, M. Dicionário de termos literários. 7. ed. São Paulo: Cultrix, 1995.
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
209
ROSA, J. G. Sagarana. 31. ed.; 43. impressão. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1996. SANTIAGO, S. O entre-lugar do discurso latino-americano. In:______. Uma literatura nos trópicos. 2. ed. Rio de Janeiro: Rocco, 2000.
* Antônio Donizeti Pires – UNESP/Araraquara.
210
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
LINGUAGEM SIMBÓLICA COMO EXPRESSÃO CONCEITUAL AS PERSPECTIVAS DA HERMENÊUTICA E DO NEOESTRUTURALISMO WILMA PATRICIA MARZARI DINARDO MAAS*
P
ropõe-se aqui um breve exercício em três tempos: o primeiro tempo aludirá a alguns princípios da hermenêutica moderna como ciência universal da interpretação. O segundo tempo pretende evidenciar algumas oposições entre o pensamento hermenêutico e algumas vertentes da chamada teoria da escritura do século XX, principalmente como em Paul de Man. O terceiro tempo ocupar-se-á de alguns conceitos-chave da teoria da linguagem, se é que se pode falar assim, proposta por Friedrich Schlegel em fragmentos publicados na revista Athenäum e e seu ensaio intitulado “Über die Unverständlichkeit” [Da ininteligibilidade], de 1798. A partir daí, propõe-se a investigação de uma possível afinidade entre os conceitos de alegoria em Paul de Man e em Schlegel. Quem fala de hermenêutica a moderna terá que, necessariamente, aludir a Schleiermacher. Friedrich Ernst Daniel Schleiermacher é considerado, ao menos já desde o ensaio de Dilthey sobre o surgimento da hermenêutica (Die Entstehung der Hermenutik, 1900), o “pai” da hermenêutica como ciência universal da interpretação. De fato, em seus dois “Discursos para a academia”, de 1829, e na compilação de seus escritos póstumos editados primeira vez em 18381, sob o título de Hermeneutik und Kritik (Hermenêutica e 1
A edição atual de Hermeneutik und Kritik é a da editora Suhrkamp, prefaciada e editada por Manfred Frank, 1977.
Crítica), encontram-se estabelecidos os pressupostos e a história do desenvolvimento da hermenêutica moderna. O próprio Schleiermacher, entretanto, mostra-se ciente de que seu trabalho, que levou a um alargamento dos horizontes da hermenêutica, inclusive no que diz respeito a seu objeto, dá continuidade aos dos esforços dos dois filólogos clássicos Friedrich Ast e F. A Wolf. Peter Szondi, em sua Einführung in die literarische Hermeneutik (Introdução à hermenêutica literária), esclarece o estabelecimento dessa “nova hermenêutica”, que se distingue da hermenêutica da Aufklärung principalmente em relação a um conceito que esta última desconhece, o conceito de “espírito”. Enquanto na hermenêutica racionalista da metade do século XVIII o processo de interpretação tem por objeto o esclarecimento do sentido em um ponto determinado, a fim de reconhecer a “intenção” do autor, a hermenêutica da época goethiana, nascida da tradição da filologia clássica, tem por objetivo reconhecer, “em cada um dos sucessores de Winckelmann e e Herder, o espírito pressentido da Antigüidade grega, assim como seus efeitos embelezadores e benfazejos em um mundo terrivelmente moderno”. (Szondi 1975 : 139) As contradições decorrentes da distância temporal entre autor e leitor, por exemplo, ou as oposições originadas na relação entre texto e contexto, são neutralizadas pelo conceito de “espírito”(entendido ali como espírito da Antigüidade, uma vez que se trata ainda exclusivamente da filologia clássica), que exerce uma função harmonizadora. Segundo o programa exposto por Ast, o filólogo não deveria ser “apenas um mestre da linguagem ou um antiquário, mas também filósofo e esteta; ele não deve simplesmente ser capaz de decompor a letra em suas partes, mas também de investigar o espírito que constrói a letra, penetrando seu mais elevado significado; deve saber honrar a forma na qual a letra se consubstancia ao revelar o espírito”. (Ast, apud Szondi: 1975: 140) A compreensão e a interpretação só podem ocorrer sob o pressuposto da comunhão dos espíritos: Nós não seríamos capazes de compreender a Antigüidade de maneira geral ou uma obra de arte ou um manuscrito, se nosso espírito em si não estivesse originalmente unido ao espírito da Antigüidade. […] Pois a diferença entre os espíritos repousa apenas naquilo que é temporal e exterior (educação, formação, situação geográfica, etc). […] É esta exatamente o objetivo da formação filológica: limpar o espírito de todas as temporalidades, circunstâncias e subjetividades, concedendo-lhe assim aquela qualidade original e totalidade necessária ao homem mais elevado e puro, a humandidade (Ast, apud Szondi, 1975: 144)
O ato da compreensão é, pois, na hermenêutica defendida por Ast, um ato de reprodução de um sentido anteriormente existente, de reconstrução do que já fora antes construído. A unidade é capaz de coincidir com a totalidade, ou, mais concretamente como ilustra Peter Szondi: “[a hermenêutica de Ast] postula que já a unidade suscita a idéia do todo, de que o espírito como essência original e indecomponível está presente em cada parte única em sua totalidade e inteireza. Concretamente: o espírito da época [presente] em cada autor”. (Szondi, 1975 : 151) O postulado idealista e apriorístico defendido por Ast da unidade no todo, assim como a anulação das contradições resultantes da situação temporal de autor e intérprete 212
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
e mesmo da tensão texto/contexto através do primado do espírito fizeram com que sua teoria hermenêutica fosse esquecida. A busca de uma teoria geral da hermenêutica foi tarefa de Schleiermacher. Consciente de que seus antecessores não foram capazes de chegar a essa teoria geral da hermenêutica devido à limitação de seus objetos de estudo (ou seja, o Novo Testamento ou as obras da Antigüidade), Schleiermacher buscará os princípios de uma hermenêutica universal no próprio ato da interpretação. As diferenças, que em Ast são anuladas ou desconsideradas a partir do conceito idealista de “espírito” e de reprodução do Todo nas partes são, para Schleiermacher, o cerne do ato da interpretação: [Durante o procedimento hermenêutico] intérprete e texto encontram-se em uma situação dialógica. No vai-e-vem do processo dialógico tem lugar um intercâmbio de diferenças cujo objetivo é, manifestadamente, atingir coerência, correspondência, identidade e totalidade racional. A interpretação funciona segundo o modelo de pergunta-e-resposta, procedendo segundo os preceitos do círculo hermenêutico, no qual a parte e o todo se interpenetram continuamente, até que se tenha estabelecido uma totalidade articulada. (Müller, 1992: 99)
A breve, porém expressiva definição acima, baseada em Gadamer, dá conta de reproduzir os pressupostos fundamentais de um método de interpretação que foi, ao longo de sua existência, considerado em sua qualidade ontológica e transdisciplinar. Da teologia à filologia e ao direito, “o processo de compreensão é uma, senão a maneira do homem de estar no mundo”, praticando um jogo permanente entre o contínuo e o descontínuo, que cessa, na instância individual, apenas com e através da morte: Seria preciso esperar o fim da vida e só então, na hora derradeira, vislumbrar o Todo, a partir do qual se poderia identificar a relação entre suas partes. Seria mesmo preciso aguardar até que chegasse o fim da História, para poder entrar na posse de todo o material necessário para a determinação de seu significado. (Dilthey, 1970: 288)
A hermenêutica mostra-se assim como um recurso de interpretação de alcance universal, capaz de proporcionar ao homem a visão completa e total da própria história. Seja através da idéia de “espírito”, que, como em Ast, atribui aprioristicamente à obra e a seu intérprete a congenialidade de intelectos, neutralizando assim os problemas decorrentes das diferenças, seja através de Schleiermacher, que tem justamento no jogo e integração das diferenças, assim como na universalidade do entendimento, o pressuposto do ato da interpretação, a hermenêutica encontra-se, em muitos de seus principais teoremas, em franca oposição ao que podemos chamar de vertente neo ou pós-estruturalista. Se a hermenêutica de Schleiermacher compartilha, por exemplo, com o estruturalismo de Saussure a concepção de uma linguagem articulada em níveis, de cuja combinação e substituição de elementos se constrói o sentido, ela se opõe drasticamente à tradição que vamos aqui chamar de pós-estruturalista, que tem no conceito de écriture sua pedra de toque. Para o procedimento hermenêutico, o trecho obscuro, o Missverstehen pode ser facilmente elucidado através dos procedimentos de contextualização, histórica, lingüística e histórico-literária. Para o pensamento desconstrucionista, o Missvertehen é aporia
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
213
e esconderijo da metafísica, produto da retoricidade discursiva que se subtrai ao jogo da fabricação do sentido. Cabe agora acompanhar as disjunções de pensamento da hermenêutica moderna e do pensamento neoestruturalista, principalmente no que se refere ao emprego da linguagem simbólica, em um sentido que, como veremos a seguir, é tomado de empréstimo pela linguagem conceitual por conta de uma carência desta para expressar categorias abstratas, como por exemplo, a idéia de infinitude. Essa linha de pesquisa foi inspirada pelo trabalho do filósofo alemão Manfred Frank, nome praticamente desconhecido entre nós. Tendo construído sua persona intelectual na melhor tradição da hermenêuitica, entre 1964 e 1971, nas universidades de Berlin e Heidelberg, Frank vem se ocupando, desde o começo da década de oitenta, com as bases hermenêuticas e (pós-) estruturalistas das teorias da interpretação. Em seu livro de 1984, Was ist Neostrukturalismus, coletânea de 27 palestras proferidas em Genebra, Frank enseja estabelecer o diálogo entre o que ele denomina neoestruturalismo, isto é, “a posição filosófico-estética que na França sucedeu ao Estruturalismo clássico” (sob a qual poderíamos certamente compreender as teorias da écriture e o pensamento hermenêutico-filosófico da tradição idealista). Frank atribui à oposição hermenêutica/neoestruturalismo “o papel de um indicador ou de um sismógrafo: ela alude não apenas ao grau de descrédito que cercam hoje as reivindicações à universalidade na filosofia; ela indica ainda em que medida a comunicação intereuropéia entre intelectuais dos diferentes países se encontra prejudicada”. (FRANK 1984: 19) A segunda parte da afirmação de Frank não interessa a este trabalho. Seu projeto de uma “união européia” (cinco anos antes da reunificação alemã), também no campo da filosofia está relacionada a um projeto pessoal, uma vez que Frank é ele mesmo um intelectual que circula extremamente à vontade entre o universo acadêmico europeu, principalmente os de língua francesa e alemã. Interessa-nos sim a primeira parte da afirmação sobre as pretensões de universalidade na filosofia e na estética, incluindo aí as teorias de interpretação textual. Procederemos agora à investigação de alguns pressupostos que definem a relação entre o pensamento hermenêutico e o pensamento pós-estruturalista.
1. Linguagem simbólica como compensação e potencialização do sentido conceitual Os primeiros filósofos foram poetas. É que foi preciso tempo até descobrir palavras para os conceitos abstratos; por isso, no início, os pensamentos supra sensíveis eram representados sob imagens sensíveis. Em virtude da pobreza de linguagem daquela época só se podia filosofar em poesia. (KANT, Logik Dohna, citado e traduzido por Suzuki, 1998: 55, nota 10)
Márcio Suzuki, no capítulo de O gênio romântico intitulado “Poesia e os limites da razão” cita o trecho de Kant no contexto do esclarecimento de uma das tarefas da crítica, que deverá preceder
214
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
“a apreciação das obras de filosofia antiga ou moderna. […] À falta de conceitos abstratos, a razão teve de recorrer à linguagem poética simplesmente para poder se exprimir. Mas com isso os objetos da razão ficaram presos a significações acessórias (Nebenbedeutungen) concretas, de que ao longo da história da filosofia foi [sic] aos poucos se libertando.” (Suzuki: 1998: 55)
A tarefa da crítica é então a de retirar “as últimas camadas de referências sensíveis que ainda aderem aos conceitos abstratos”, distinguindo assim a maneira (modus aestheticus) e o método (modus logicus). Ora, a citação de Kant dá ensejo a uma reflexão que, na contramão dessa distinção empreendida pelo filósofo de Königsberg, aponta para um procedimento de potenciação da linguagem através do símbolo, da alegoria, da ironia e do paradoxo, em uma palavra, da linguagem figurada. Esse processo de potenciação da linguagem conceitual, através dos expedientes da linguagem simbólica, será aqui exemplificado a partir de uma breve comparação entre o emprego e os sentidos da alegoria em Paul de Man, um dos nomes mais significativos da vertente pós-estruturalista, e em Friedrich Schlegel, o fundador teórico do chamado Primeiro Romantismo Alemão (Frühromantik) e contemporâneo do nascimento da hermenêutica moderna. Examinemos aqui alguns pressupostos de Paul de Man sobre a impossibilidade de existência de uma interpretação científica e ou lógica do texto literário. Para de Man, a dimensão retórica do texto predomina sobre sua dimensão gramatical e lógica, o que impossibilita a constituição de um sistema de interpretação. Mais do que isso: de Man contraria explicitamente os princípios hermenêuticos ao rejeitar a síntese dialética e ao valorizar o particular através de uma crítica radical aos conceitos universais. Em sua réplica a Raymond Geuss, publicada na Critical Inquiry de 1983, de Man afirma que “se a verdade é a apropriação do mundo pelo eu no pensamento e, conseqüentemente, na linguagem, então a verdade, definida como o universal absoluto, contém um elemento constitutivo de singularização incompatível com sua universalidade. Essa questão vem à tona em Hegel a cada vez que a própria linguagem vem à tona.” (de Man: 1983: 388) De Man nega então a possibilidade de atribuição de um sentido referido a uma verdade universal absoluta, que possa ser depreendido através de um esforço lógico e dialógico, como no procedimento hermenêutico. Essa tendência anti-hegeliana constitui a base filosófica da crítica exercida por de Man ao que ele caracteriza como ideologia estética2 Mas como de Man opera essa crítica à ideologia estética no plano textual? Seguindo aqui uma pista oferecida por Peter Zima, partimos da dicotomia entre símbolo e alegoria, para chegarmos a um conceito caro a de Man e ao mesmo tempo capaz de esclarecer com alguma precisão sua concepção anti-hegeliana da linguagem. A distinção entre símbolo e alegoria remonta a um ensaio de Goethe intitulado “Uber die Gegenstände der bildenden Künste,” [“Sobre os objetos das artes figurativas”], de 1797:
2 “Trata-se de uma ideologia que defende que a literatura é dominada por um sujeito do conhecimento que atribui ao texto um sentido e uma moral. Trata-se de uma ideologia que transforma a literatura em monumento, ao representá-la como símbolo da civilização.” (WATERS 1989: LVIII)
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
215
Os objetos serão determinados por um sentimento profundo que, quando é puro e natural, coincidirá com os objetos mais perfeitos e mais nobres e os tornará, no limite, simbólicos. Os objetos assim representados parecem existir apenas por si mesmos e são, no entanto, significativos nas profundezas do seu ser, e isso em virtude do ideal que sempre leva consigo um caráter de generalidade. Se o simbólico indica ainda uma outra coisa além da representação será sempre de forma indireta. […] Atualmente, há também obras de arte que brilham em virtude da razão, do chiste e da galanteria, e dentre elas colocamos também todas as obras alegóricas; delas se deve esperar muito pouco, porque destroem igualmente o próprio interesse pela representação e fazem recuar o espírito para dentro de si mesmo, ocultando de sua vista o que é verdadeiramente representado. O alegórico distingue-se do simbólico pelo fato de que este designa indiretamente; aquele, diretamente. (apud TODOROV, 1996: 252, grifo meu)
Inicia-se, no texto de Goethe, a fortuna crítica da oposição ente símbolo e alegoria, isto é, a compreensão de que se trata de duas espécies diferentes de signos. A partir do texto de Goethe, Todorov passa a deduzir as oposições seguintes entre símbolo e alegoria: talvez a mais contundente dentre elas seja a distinção entre os signos motivados e imotivados, ou ainda, entre os signos naturais e arbitrários.: “a significação do símbolo, por ser natural, é imediatamente compreensível a qualquer pessoa: a da alegoria, por proceder de uma convenção ‘arbitrária’, deve ser apreendida antes de ser compreendida”.. O símbolo “é e significa ao mesmo tempo; seu conteúdo escapa à razão. […] Por outro lado, a alegoria é, evidentemente, já acabada, transitiva, arbitrária, pura significação, expressão da razão”. (TODOROV, 1996: 256) A partir dessa distinção, de Man fará uma leitura do símbolo como o princípio conciliador que permitiu a Hegel e aos hegelianos entender a obra de arte como totalidade racional, capaz de expressar de maneira sensível idéias políticas, morais ou religiosas. Assim, da mesma forma que Goethe (assim como o pensamento romântico) preferiu o símbolo à alegoria, de Man fará o percurso contrário, concedendo à alegoria a prerrogativa de contraconceito crítico frente à pretensão de totalidade do símbolo: Enquanto o símbolo postula a possibilidade de uma identidade ou de uma identificação, a alegoria caracteriza em primeira linha uma distância em relação à sua própria origem. Assim, quando ela se subtrai ao desejo e à nostalgia do tornar-se idêntico, ela se lança como forma lingüística, no vazio dessa diferença temporal, resguardando assim o eu de uma identificação ilusória com o não-eu. (de Man, 1983: 207-208)
Ao rechaçar a conciliação entre sujeito e objeto, a alegoria nega, portanto, para de Man, também aquela concepção da ideologia estética segundo a qual a beleza, o conhecimento, a ação moral e política constituem uma unidade capaz de ser expressa pela obra de arte. Estamos agora mais próximos do terceiro vértice do triângulo que foi se desenhando. Friedrich Schlegel, contemporâneo do nascimento da hermenêutica moderna, e um dos nomes mais importantes para a constituição teórica do Primeiro-Romantismo Alemão, elege também a alegoria como figura alusiva da eterna aporia da representação dos conceitos absolutos. Acompanhemos algumas passagens de Schlegel, no que se refere ao
216
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
seu “princípio da relativa incapacidade de representação do sublime” (Prinzip der relativen Undarstellbarkeit der Höchsten): “Não é possível representar de maneira adequada o pensamento puro e o reconhecimento daquilo que é mais elevado (des Höchsten)”. (Schlegel, apud Frank 1992: 130) Como pode então a infinitude ser representada naquilo que é finito? A resposta, para Schlegel, parece ser: não através do pensamento, não através do conceito, mas através da arte: para Schlegel, a linguagem poética é o veículo e a possibilidade de representação do sublime e do pensamento potencializado. Em uma conferência de 1807, essa idéia foi assim formulada: É preciso lembrar que a necessidade [de existência] da poesia justifica-se a partir de uma carência que tem origem na incapacidade da filosofia de expor o infinito.
E, mais adiante, em um fragmento de 1800: “Onde a filosofia cessa, começa a poesia”. (Schlegel, apud Frank, 1992: 143) Em outros textos, Schlegel empregará agora o temo “alegoria” como arquisemema, para toda forma de expressão artística/figurada: Todo o Belo é alegoria. O mais elevado só pode ser representado alegoricamente, precisamente porque ele é indizível. (Schlegel 1967a: 414) Toda alegoria alude ao absoluto. Do absoluto só se pode falar alegoricamente. (Schlegel 1963: 347)
É assim que, em Schlegel, a linguagem poética parece ser o meio mais adequado para representações que nem mesmo a linguagem conceitual, como a conhecemos, seria capaz de esgotar. A alegoria vem à tona em seu discurso também com uma alusão e indício da irrepresentabilidade de conceitos absolutos, mas o lugar que Schlegel reserva à linguagem poética/simbólica parece ser mais “positivo” do que o que lhe reserva de Man. Em Schlegel, a alegoria parece, antes de mais nada, suprir uma falta da linguagem conceitual no que se refere a expressar categorias absolutas. Em de Man, a alegoria aponta para a própria ilegibilidade, para as irremediáveis contradições que condenam o texto literário a “ser lançado no vazio da diferença temporal”, para repetir a citação de de Man sobre a alegoria. Mas haveria, em Schlegel, um par correspondente à alegoria como em de Man? A hipótese que eu gostaria de levantar aqui é a de que a ironia em Schlegel corresponde em grande medida à concepção fatalista, em termos de teoria da linguagem, dramática de alegoria em de Man. Em “Über die Ünverständlichkeit”, ensaio publicado no último número da revista Athenäum, editada pelos irmãos Schlegel, parece estar a base do pensamento irônico de Friedrich. A revista, que deixou de ser publicada devido aos baixos lucros decorrentes de sua alegada “ininteligibilidade”, publica, em sua última edição, aquela que parece ser a resposta a essa mesma crítica. É notória, na vida literária da Alemanha do final do século XVIII e do começo do XIX, a alegação de ininteligibilidade aos textos publicados na Athenäum, principalmente aos fragmentos. O próprio Friedrich Schlegel, em julho de 1798, reconhece “o axioma de muitos filisteus: aquilo que ninguém entende foi escrito por um Schlegel”. Peter Zima considera Schlegel um possível precursor do pensamento desconstrucionista, especialmente no que se refere ao reconhecimento do caráter opaco da linguagem: “Em “Über die Unverständlichkeit” Schlegel “brinca com o pensamento paradoxal que vê, principalmente na filosofia e na ciência fontes inesgotáveis de obscuridade
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
217
lingüística”. (ZIMA 1994: 10) De fato, o ensaio de Schlegel é desconcertante, até mesmo para o leitor contemporâneo. Seria bastante fácil enxergar, no texto de Schlegel, um irracionalismo obscurantista e anti-Aufklärung, o delírio radical de um gênio romântico. Mas sigamos aqui de perto as diferentes estações do ensaio de Schlegel: […]eu quis comprovar […] que toda ininteligibilidade é relativa […]; eu quis demonstrar que as palavras freqüentemente entendem-se melhor umas às outras do que as entendem aqueles que fazem uso delas […], eu quis chamar a atenção para o fato de que […] entre as palavras filosóficas há que haver uma secreta ordem; eu quis demonstrar que a mais pura e mais sólida ininteligibilidade provém exatamente da ciência e da arte que partem do princípio do dar a entender e do fazer-se inteligível, da filosofia e da filologia. (SCHLEGEL 1967b: 365)
Mas onde reside essa ininteligibilidade? No texto de Schlegel, ela parece estar associada principalmente ao uso da ironia. Em “Über die Unverständlichkeit”, Schlegel declara que “a ironia está na ordem do dia”. Schlegel começa por citar um fragmento de sua própria autoria, “o fragmento das três tendências, de triste memória”. Ali, Schlegel afirmara que “a Revolução Francesa, A Doutrina das Ciências de Fichte e o Meister de Goethe seriam as três maiores tendências da época”. Schlegel afirma então que o fragmento foi escrito na mais séria das intenções e quase sem ironia, e que para ele foi uma grade surpresa o fato desse fragmento ter sido tão mal compreendido à época de sua publicação. Oferece então uma “explicação do fragmento” que parece reiterar a ausência de ironia e o elogio da Revolução Francesa, da Doutrinadas Ciências e do Meister de Goethe. Entretanto, no início do próximo parágrafo, Schlegel reafirma seu controle sobre o próprio texto e o início e fim da ironia, quando afirma: Até aqui é tudo sem ironia, e mal-entendidos seriam injustificáveis […] Entretanto, há algo no fragmento, que poderia dar margem a um mal-entendido: o problema está na palavra “tendências”, e aí começa então a ironia. (SCHLEGEL 1967b: 366)
E, mais adiante: Ninguém parece ter notado. Por que eu criaria, então, mal-entendidos, se ninguém os quer para si? Eu deixo então correr a ironia e explico precisamente a partir dela, que a palavra “tendência” significa, no Dialeto dos Fragmentos, que tudo é apenas tendência, a época é a época das tendências. Se estou com isso querendo dizer que todas essas tendências seriam corrigidas e levadas as a cabo por mim, ou talvez por meu irmão, ou talvez por Tieck, ou então por alguém de nossa confraria, ou quem sabe pelo filho de um de nós, por um neto, um bisneto, um neto em vigésimo sétimo graus, ou apenas nos dias do juízo, ou nunca; isso fica a critério da sabedoria do leitor, à qual esta questão pertence. (SCHLEGEL 1967b: 367)
218
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
Schlegel passa então a apresentar seu “sistema da ironia”, pois a aurora do século permite vislumbrar uma grande quantidade de “grandes e pequenas ironias”, de modo que ele logo poderá dizer da ironia o mesmo que Bouffler diz dos diferentes tipos de coração humano: J’ai vu des couers de toutes formes, Grand, petits, minces, gros, mediocres, enormes. (SCHLEGEL 1967: 368)
Schlegel distingue, em seu sistema, os diferentes tipos e ironia: a primeira, e mais distinta entre todas, a ironia crassa (die grobe Ironie), que se encontra na maioria das vezes na real natureza das coisas e que está de fato à vontade na história da humanidade; depois a ironia fina, e então a extrafina, encontrada entre os poetas; depois a ironia dramática, que é aquela que se manifesta “quando o poeta que escreveu três atos torna-se, a despeito de qualquer expectativa, uma outra pessoa que deve então escrever os dois últimos” e, finalmente a Ironia da Ironia. Até aqui, não são poucos os indícios de que o próprio sistema de ironias descrito é ele mesmo irônico. Já o próprio uso da palavra sistema, em Schlegel, é no mínimo, ambíguo, pois, para Schlegel, quem tem um sistema encontra-se tão perdido quanto aquele que não o tem; quando Schlegel passa, no entanto, a descrever a Ironia da Ironia, o texto muda novamente de dicção. A Ironia da Ironia ocorre nos seguintes casos: quando se fala sem ironia da própria ironia, como foi o caso agora mesmo; quando falamos com ironia da ironia, sem perceber que já nos encontramos no tempo de uma outra ironia muito mais aguda; quando não conseguimos mais escapar da ironia, como parecer o caso deste ensaio sobre a ininteligibilidade; quando a ironia se torna maneirismo, e então o poeta ironiza novamente ao mesmo tempo; […] quando a ironia se torna selvagem e não se deixa mais controlar. (SCHLEGEL 1967b: 369)
Salta aos olhos na enumeração dos casos da Ironia, uma consciência sintonizada como próprio momento da enunciação, presente nos índices “como foi o caso agora mesmo” e “como parece ser o caso deste ensaio sobre a ininteligibilidade”,3 que atribui ao texto, para usar dois adjetivos caros ao século XX, um caráter metalingüístico e performativo que contribui para o aguçamento do efeito irônico. Além disso, o trecho é importante para a compreensão da ironia como alusão à irredutibilidade do texto, ou seja, da sua ininteligibilidade, uma vez que, contrariamente ao que Schlegel afirmara acima, sobre o papel da sabedoria do leitor quanto à decisão da presença ou não da ironia, o texto aponta aqui para a existência de uma ironia avassaladora e selvagem, indomável mesmo, incapaz de ser conduzida, controlada pelo autor ou leitor. Essa noção é ainda reforçada 3
O trecho nos faz lembrar o texto da “enciclopédia chinesa” de Borges, que teria servido de estímulo a Foucault para a criação de As palavras e as coisas: “Este livro nasceu de um texto de Jorge Luis Borges […] Este texto cita uma ‘enciclopédia chinesa’ na qual vem escrito ‘que os animais se dividem em: a) pertencentes ao imperador, b) embalsamados, c) domesticados, d) leitões, e) sereias, f) fabulosos, g) cães em liberdade, h) incluídos na presente classificação, i) que se agitam como loucos, j) inumeráveis, k) desenhados com um pincel muito fino de pelo de camelo, l) et caetera, m) que acabaram de quebrar a bilha, n) que de longe parecem moscas”. (Foucault 1968: 3, grifo meu)
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
219
pelo reconhecimento de que “não conseguimos mais escapar à ironia, como parece ser o caso deste ensaio sobre a ininteligibilidade”. Parece-nos, então, que em Schlegel, o uso da ironia não aponta para uma síntese entre o real e o ideal, entre arte e vida, entre eu e o mundo; ao contrário, a ironia funciona, em Schlegel, como a própria negação da síntese dialética, como “endlose Annährung” (aproximação infinita), como processo inacabado, índice irrevogável da opacidade da linguagem, o que faz põe seu ensaio sobre a ininteligibilidade na tradição direta da concepção demaniana sobre a irredutibildade, a opacidade e a não-referencialidade da linguagem. Confirma-se, dessa maneira, a hipótese que identifica o Primeiro Romantismo Alemão como um momento de crise na representação lingüística, a despeito da conjunção cronológica que faz de Schlegel e Novalis contemporâneos do nascimento da hermenêutica moderna. Reproduzimos a seguir um trecho de um pequeno monólogo de Novalis, em tradução de Jeanne Marie Gagnebin, monólogo esse que antecipa, de maneira assombrosa, a crise da referencialidade da lingüística pós-saussureana. Para dizer a verdade, acontece uma coisa doida com o falar e o escrever: a reta conversa é um mero jogo de palavras. Só se pode pasmar diante do jeito ridículo de as pessoas pensarem que falariam em vista dos próprios objetos. Precisamente, o próprio da língua, ou seja, que ela só se preocupa consigo mesma, eis o que ninguém sabe. Por isso ela é um segredo tão maravilhoso e tão fecundo – é quando alguém fala meramente por falar que anuncia as verdades mais deslumbrantes, mais originais. Mas se esse alguém quer falar sobre algo determinado, a língua caprichosa o faz então dizer as mais ridículas e disparatadas bobagens. […] se fosse possível fazer entender às péssoas que acontece com a língua o mesmo que com as fórmulas matemáticas - elas constituem um mundo para si, se entretêm apenas consigo mesmas, expressam nada mais que a sua maravilhosa natureza e, exatamente por isso, elas são tão
220
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
expressivas, exatamente por isso se reflete nelas o jogo enigmático das relações que os objetos entretêm. […]
Bibliografia DE MAN, P. Reply to Raymond Geuss. Critical Inquiry 10, Dezember 1983a. ______. The rhetoric of temporality. In: Blindness and insight. Essays in the rethoric of contemporary criticism. Minneapolis: 1983b. FRANK, M. Allegorie, Witz, Fragment, Ironie. Friedrich Schlegel und die Idee des zerrissenen Selbst. In: REIJEN, Willem van. Allegorie und Melancholie. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1992. FOUCAULT, M. Prefácio a As palavras e as coisas. Lisboa: Portugália, 1968, pp. 3-14. GAGNEBIN, J. M. Sobre um monólogo de Novalis. Cadernos PUC – Filosofia. Pontifícia Universidade Católica. São Paulo: EDUC/CORTEZ, s.d. MÜLLER, H. Hermeneutik oder Dekonstruktion? Zum Widerstreit zweier Interpretationswesen. In: BOHRER, Karl Heinz (ed.) Ästhetik und Rhetorik, Lektüren zu Paul de Man. Franfurt am Main: Suhrkamp, 1993 SCHLEGEL, S. Lyceums-Fragmente. In: Kritische Friedrich Schlegel-Ausgabe, ed. por E.Behler. Paderborn/Munique/Viena: F. Schöningh e Thomas, 1967 a. ______. Philosophische Lehrjahre. In: Kritische Friedrich Schlegel Ausgabe, ed. por E. Behler. Paderborn/Munique/Viena: F. Schöningh e Thomas, 1963. ______. Über die Unverständlichkeitm. In: Kritische Friedrich Schlegel-Ausgabe, ed. por E.BEHLER. Paderborn/Munique/Viena: F. Schöningh e Thomas, 1967b. SUZUKI, M. O gênio romântico. Crítica e história da filosofia em Friedrich Schlegel. São Paulo: FAPESP/Iluminuras, 1998. WATERS, L. (ed). In: DE MAN, Paul. Critical Writings, 1953-1978, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1989. ZIMA, P. V. Die Dekonstruktion. Tübingen/Basel: Francke, 1994.
* Wilma Patricia Marzari Dinardo Maas – UNESP, Araraquara, SP.
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
221
!$ %'(+ ,-./ %+0$123 ,-4,-3/ 6+ 09. %+0$123 '$-29.+:3; , 0< =:> '$-2(+ 6+ -? 09. '$-29.+:3; 9@'9.+ 0A+: BC+ D F-4G-B:3H F-AG- BC+ 0I D 09.H G:JK+ B<+ ,L+ J9 :+ +MB923+H NA K+ 0< ,O+ %+J$P'3+-+ NJQ+-+ -R,-3 !$ S=M=,C+,- T+J9-+ B<+ ,L+ %$9,V+H %+J$P'3+-+ 0< ,O J+C,Q+H '-GG! B<+ 0L ,O '$W-+ S'393=</ ,-X :?J10-A/ 03=: -A '$-=$ +-+,9/H '-GG! 0< +QB-A %=$3F9 :/ GQ Y+ Z$JQ,C,:H ,-X,-+ +-B [-+,9/ J93Q,:,-+ =:> =-3+Q,:,-+ +QB-+H ,O 0M-+ S+ ,\3 0M-+,3 =:> GM 93+ =:> 23 W+ =:> '-39.+ ]=:> SW+^H =:> 0322! %2=V2:+,9/ B1G32,: 6+ 09.H +PBC+ ]=:> _PBC+^H ,L+ B<+ F-AG94-+,9/ ,L+ 0I %'-,9G-X+,9/H J9$1'-+,9/ B<+ ,\+ %0 =Y/ 0A2,Aa-4+,Y+H =-G:2,:> 0< ,\+ %0 =Y/ 9?,Aa-4+,Y+H :?J1093/ '$O/ ,O 2ABNM$-+H 9?Q$ C,-3 '$O/ ,O '$M'-+H ,\3 N$-+ BY3 ,(/ +PBC/ ':4-+,9/ ,O bN$-+ ],(/ _PBC/^H cF$32,:> 9@/ ,-d/ cF$32,1/H =Q2B3-3 9@/ ,-d/ =-2B -A/H bN-F-3 9@/ ,-d/ %NQF-A/H 093+-> S+ ,-./ 093+-./ B:$,4$3: 0< ,-4,Y+ ,$Q':3: S2,V2:+,- ,\+ '-G9B Y+H e3O/ B<+ % 1GB:,:H f:A,\+ 0< %+:JVB:,:H -?= b'93$-3 -g,9 BN4,-A $9-/ - ,9 +-B BY+ $P,Y+ - ,9 +-'G -A T$30-/ -g,9 N3G-=1G-A 9@$V+C/H 29B+-> B<+ '$O/ ,-d/ J9-d/ ,\3 03=: Y3H h23-3 0< '$O/ ,-d/ ,-=M:/ ,(3 J9$:'9 :3H 0 =:3-3 0< '$O/ ,-d/ %2,-d/ ,\3 j2Y3H 9?29F9./ 0< '$O/ ,-d/ N G-A/ ,(3 ' 2,93 ,-3 :$-X+ :?,\+ %'-J:+Q+,Y+ k 'QJ-/ -? 2A+:'MJ:+9+H %GGI %J1+:,-/ -?= S+ %J:+1,-3/ 2PB:23 l3 -? [P+,Y+
Análise e tradução do
Epitáfio
de Górgias de Leontinos
ALDO LOPES DINUCCI*
Análise do Epitáfio de Górgias de Leontinos Este fragmento de Górgias nos chegou citado por Máximo Planudes em sua obra A Hermógenes. Conjectura-se ter feito parte de um discurso proferido por Górgias após a paz de Nicias, armistício assinado entre espartanos e atenienses em 421 a.C. buscando o fim das hostilidades da guerra do Peloponeso, a qual, entretanto, se reiniciou em 413 a.C. prosseguindo até o triunfo final de Esparta na batalha naval de Egospótamos, em 404 a.C. (Cf. Untersteiner, 1993, p.146). Trata-se o Epitáfio de um elogio aos heróis mortos na guerra. A análise deste fragmento nos é de fundamental importância, já que nele Górgias revela traços de seu pensamento que não aparecem em outras partes de sua obra que nos chegou, bem como realiza certas sínteses sem as quais não poderíamos fazer a ligação entre suas diversas conclusões parciais sobre a doutrina do kairós (momento propício, ocasião em grego), do trágico, da relatividade dos costumes (que é inferida a partir da multiplicidade irredutível das virtudes), de sua doutrina sobre o logos (que tanto exalta o poder de sedução do discurso quanto alerta para o mau uso deste poder) e, por fim, de sua exaltação das virtudes que tem, como fundamento, a harmonia social. Lemos ao início do fragmento do Epitáfio:
Aqueles [os que morreram na guerra] adquiriram, por um lado, a virtude divina, por outro lado, o caráter mortal do homem, preferindo certamente mil vezes a doce justa medida que a arrogante justiça, [preferindo] aquele que diz o que é mais justo que o rigor das leis, porque consagraram pelo uso a mais divina e mais universal lei: falar e calar, fazer e deixar fazer o que se deve no momento que se deve.
Temos dois pontos importantes aqui: em primeiro lugar, que Górgias aplica a doutrina da apreensão do kairós como princípio não só da retórica, mas de toda ação humana. E em segundo lugar, que Górgias apresenta a doutrina da ação orientada pelo kairós ao mesmo tempo como a mais geral e a mais divina. Entretanto, Górgias faz, no que se refere aos atos humanos, que a lei divina do kairós se submeta ao princípio do kosmos (ordem)social, que serve de fundamento para as leis e os costumes humanos. Górgias apresenta no texto supracitado um aspecto socialmente útil da aplicação do kairós: preferir a justa medida à arrogante justiça; preferir o que mais justo ao rigor das leis. Quanto a isto, diz-nos Untersteiner (1993, p. 253): O direito positivo, por sua formulação lógica inflexível, implica certa rigidez […] O caso singular, tal como ele se apresenta em nossa vida, mesmo podendo ser subsumido a todas as disposições legais, não se inclina […] de forma decisiva ao sentido da lei, em razão […] da imprevisível novidade […] das circunstâncias que ele manifesta. Segue-se o problema da interpretação da lei.
Assim, o princípio segundo o qual dever-se-á fazer a passagem da lei escrita para o caso singular terá necessariamente de estar ausente na formulação legal. A reflexão sobre o kairós suprirá esta lacuna: somente a partir da reflexão sobre as circunstâncias particulares em que se deram uma determinada ação será possível se proclamar o justo veredicto. O contrário disto será o que o romano Cícero sintetizou na expressão: Summum jus, summa injuria: Muitas vezes –diz-nos Cícero– se é injusto agarrando-se muito à letra, interpretando a lei com tal finura que ela se torna artificiosa […] Os próprios governos não estão isentos dessas injustiças, tal como o general que, tendo concluído com o inimigo uma trégua de trinta dias, destruiu de noite seu acampamento, sob pretexto que a trégua só era para o dia e não para a noite. (Dos Deveres,I,10)
Além disto, A observação do kairós pode servir como princípio para a modificação das próprias leis e costumes: as circunstâncias podem exigir que tanto novas leis e novos costumes sejam criados quanto antigas leis e antigos costumes sejam abandonados, caso em que se torna necessária a adaptação das leis e dos costumes às exigências da época e da nova realidade que se apresenta. Górgias se alinha assim ao relativismo moral próprio dos sofistas. Neste caso, como dissemos, devemos conceber a ação de acordo com o kairós submetida ao princípio da ordem social. Certamente alguém poderia aproveitar-se do momento oportuno para mudar as leis a seu favor, bem como utilizar o princípio do direito de defesa da ordem social
224
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
injustamente; porém, mas agindo desta forma, estaria contribuindo para um desequilíbrio da sociedade e, portanto, aproveitando-se do aspecto anti-social do kairós, que é rechaçado por Górgias como norma à conduta humana, como vemos no próximo trecho do Epitáfio: E exerceram as duas melhores coisas que é preciso [exercer], a razão e a força física, decidindo com a primeira e realizando [o que foi decidido] com a segunda, atenuando as dores dos que são injustamente infelizes, punindo os injustamente felizes.
Evidencia-se aqui a correção da doutrina popular do kairós efetuada por Górgias: cabe aos homens de bem reparar as injustiças, não só através do discurso, mas também fazendo uso da força. Assim, de acordo com o espírito trágico, segundo o qual não há um sentido transcendente para vida e punições post mortem para os pecadores, cabe à própria sociedade e aos homens justos corrigir a desordem propiciada por homens injustos. Os homens justos, desta forma, colaboram para a harmonia social, evitando assim a desordem que tem como conseqüência última a dissolução da sociedade. A correção do aspecto antisocial da doutrina do kairós se evidencia ainda mais na continuação do texto do Epitáfio: […] desdenhosos em relação ao que é vantajoso, apaixonados pelo que convém, apaziguando a demência da força física através da sensatez da razão, impetuosos com os impetuosos, prudentes com os prudentes, intrépidos com os intrépidos, terríveis com os terríveis […]
O desdém ao vantajoso ou ao ganho de vantagens por meios anti-sociais (uma das acepções do termo kairós é exatamente vantagem e lucro) explicita a correção gorgiana da doutrina do kairós. O apaziguar da força física através da razão opera uma distinção entre o agir de modo autônomo e o deixar-se arrastar pela necessidade, com uma valorização da autonomia e do uso da razão. Os heróis mortos são retratados como capazes de domar pela temperança os apetites do corpo. O restante do trecho expressa o que conhecemos como Lei de Talião, que era aceita sem questionamentos pelo senso comum grego. Continuemos interpretando o Epitáfio: Não eram inexperientes nem quanto ao inato ímpeto da guerra nem quanto aos amores permitidos, nem quanto ao combate armado nem quanto ao amor das belas coisas da paz. Dignos para com Zeus pela justiça, honestos para com os pais pelo cuidado, justos para com os cidadãos pela honestidade, piedosos para com os amigos pela fidelidade […]
Notemos que Górgias qualifica o ímpeto da guerra de inato (emphutos, que significa inato ou natural): a violência é afirmada como pertencente à ordem da natureza, mas sua aplicação deve se guiar pelo princípio do kosmos (ordem) social, como no caso dos heróis que são objeto deste fragmento, que morreram defendendo sua cidade – defendendo, desta forma, tanto a boa ordem da sociedade quanto a própria existência da mesma. Além disto, vemos aqui afirmada uma conexão entre experiência e apreensão do kairós. Górgias enumera ainda as virtudes que são fundamentais para a manutenção e o incremento da ordem social: a piedade, o amor filial, a honestidade e a fidelidade.
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
225
Entretanto, apesar de sua experiência, capacidade de apreender o kairós e de suas inúmeras virtudes, estes heróis de guerra morreram. Reafirma-se o princípio trágico da realidade: o destino segue alheio às virtudes humanas – os homens, virtuosos ou não, estão todos expostos às calamidades e aos infortúnios. Na verdade, nem os deuses estão livres da contingência cega; homens e deuses e tudo mais– todos estão submetidos ao Destino implacável. A vida, mortal ou imortal, nada mais é que uma aventura errante. Entretanto, cabe aos homens a difícil tarefa de manter e aperfeiçoar a sociedade, e aos homens que realizaram tal tarefa resta um último triunfo, o da fama e da memória de seus feitos. Esta tarefa de perpetuar a memória dos homens cujas ações conduziram de modo justo a sociedade ou colaboraram para seu engrandecimento cabe ao discurso. Assim, não erraram os heróis que defenderam sua cidade: coube ao destino a responsabilidade por sua morte prematura, a qual não podia de forma alguma ser evitada pela previdência humana. A autonomia humana e a utilização do kairós de modo ético certamente podem salvar os homens e a sociedade muitas vezes – mas nada se pode fazer quando o destino se interpõe e determina o perecimento dos justos. Resta, como dissemos, a estes heróis a boa fama a ser perpetuada pela memória alimentada pelo discurso, e é tendo isto em mente que Górgias encerra o Epitáfio: “Eis aí porque, tendo morrido, a saudade deles não expirou junto, mas, imortal, vive, nos corpos não imortais dos que já não vivem”.
Tradução do Epitáfio de Górgias de Leontinos Quais qualidades estavam ausentes nestes mesmos homens as quais é necessário nos homens estar presentes? E quais qualidades estavam presentes as quais não é necessário estar? [Ah!] Se eu pudesse dizer as coisas que anseio, se eu pudesse ansiar dizer o que é necessário, sendo poupado da Nêmesis divina, arrefecendo a inveja humana. Aqueles1 adquiriram, por um lado, a virtude divina, por outro lado, o caráter mortal do homem, preferindo certamente mil vezes a doce justa medida que a arrogante justiça, [preferindo] aquele que diz o que é mais justo que o rigor das leis, porque consagraram pelo uso a mais divina mais universal lei: falar e calar, fazer e deixar fazer o que se deve no momento que se deve. E exerceram as duas melhores coisas que é preciso [exercer], a razão e a força física, decidindo com a primeira e realizando [o que foi decidido] com a segunda, atenuando as dores dos que são injustamente infelizes, punindo os injustamente felizes, desdenhosos em relação ao que é vantajoso, apaixonados pelo que convém, apaziguando a demência da força física através da sensatez da razão, impetuosos com os impetuosos, prudentes com os prudentes, intrépidos com os intrépidos, terríveis com os terríveis O testemunho disto: ergueram, como oferendas a Zeus, os troféus dos inimigos, oferendas de si mesmos. Não eram inexperientes nem quanto ao inato ímpeto da guerra nem quanto aos amores permitidos, nem quanto ao combate armado, nem quanto ao amor das belas coisas da paz. Dignos para com Zeus pela justiça, honestos para com os pais pelo cuidado, justos para com os cidadãos pela honestidade, piedosos para com os amigos pela fidelidade. Eis aí porque, tendo morrido, a saudade deles não expirou junto, mas, imortal, vive, nos corpos não imortais dos que já não vivem.
1
Os heróis mortos na guerra.
226
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
Referências Bibliográficas ARISTÓTELES. Arte Poética. Trad. Antônio Pinto de Carvalho. São Paulo: Technoprint, 1980. ______. Topiques, tome I, livre i-iv. Trad. Jacques Brunschvicg. Paris: Les Belles Lettres, 1967. ARENDT, Hanna. De La Historia a la Acción. Trad. Fina Biculés. México: Piados, 1995. AUBENQUE. Le Problème de L’être chez Aristote. 2 ed. Paris: Quadrige, 1994. BAILLY. Dictionnaire Grec Français. Paris: Hachette, 1901. BARBOSA & CASTRO. Górgias: Testemunhos e Fragmentos. Lisboa: Colibri, 1993. BETT. “The Sophistis and Relativism”. In: Phronesis, 34 (1989) p. 139-69. CARTER, Michael. “Stasis and Kairos: Principles of Social Construction in Classical Rhetoric”. In: Rethoric Review. 1998, 7.1, p. 97-112. CASSIN. L’Effect Sophistique. Paris: Gallimard, 1995. DIELS-KRANZ. Die Fragmente der Vorsokratiker. 6 ed. Berlim, 1952. CÍCERO. Dos Deveres. Trad. João Mendes Neto. São Paulo: Saraiva, 1965. DOHERTY, Michael E. Jr. Cyberwrite and “Audience Acessed”: Kairos Comes Online in the Composition Classroom. Tese de Mestrado não publicada para Bowling Green State University, 1994. DUPRÉEL. Les Sophistes Protágoras, Górgias, Hippias. Neuchatel: Griffon, 1948. FILOSTRATO. GOMPERZ, H. Sophistic und Rethoric. Leipzig, 1912. HOMERO. Odisséia Trad. Antônio Pinto de Carvalho. São Paulo: Abril Cultural, 1981. IJSSELING, Samuel. “Rhétorique et Philosophie”. In: La Revue Philosophique de Louvain, n. 22, 1976, p. 210. ISÓCRATES. Discourses. Trad. La Rue Van Hook. Londres: Harvard University Press, 1964. JULIEN, François. Tratado da Eficácia. Trad. Paulo Neves. São Paulo: Editora 39, 1998. KERFERD, G. B. The Sophistic Moviment. 2 ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1984. KNEALE & KNEALE, William & Martha. The Development of Logic. Oxford: Clarendon Press, 1984. KUCHARSKI. “Sur La Notion Pythagoricienne du Kairós”. In: Revue Philosophique, 1963, n. 2, p. 142-169. MOURELATOS. “Gorgias on the Fonction of language”. In: SicGymn, XXXVIII, 1985, p. 607- 638. PHILOSTRATUS. Lives of the Sophists. Trad. Wilmer C. Wright. Harvard: Loeb, 1989. TORDESILLAS. “La Notion de Kairós”. In: Le Plaisir de Parler. Org. Cassin. Paris: Les Éditions de Minuit, 1986. UNTERSTEINER. Les Sohistes vol. 1. Trad. Alonso Tordesillas. Paris: Vrin, 1993, p. 214-226. WHITE, Eric Charles. Kairomania: On the Will-to-invent. Itaca: Cornell University Press, 1987.
* Aldo Lopes Dinucci, doutor em filosofia clássica pela PUC/RJ, é atualmente professor adjunto do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Sergipe e coordenador do Viva Vox, Grupo de Pesquisa em Filosofia Clássica e Helenística, empreendendo pesquisas em três campos específicos: Éticas Socráticas, Ética e Estética Gorgiana, Lógica e Ontologia em Aristóteles.
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
227
SOBRE CONTRADIÇÕES E DISSIMULAÇÃO EM SPINOZA segundo o artigo de Francis Kaplan, Le salut par l’obéissance et la necessité de la révélation chez Spinoza1 SERGIO TISKI*
D
ada a relevância da questão para os estudos da filosofia spinoziana, resenhamos a seguir o artigo de F. Kaplan.1 Kaplan afirma a existência de 4 contradições ao interno do pensamento de Baruch Spinoza (filósofo holandês: 1632-1677), a saber, a respeito das questões da “revelação” (p. 5ss), do “modo de salvação” (p. 1ss), da “dificuldade ou facilidade da salvação” (p. 2) e da “certeza provável ou absoluta” da verdade de uma idéia (p. 7, nota 1). Esta última é apenas mencionada; as outras três, principalmente as duas primeiras, constituem o principal objeto do artigo, no sentido de tentar demonstrá-las como contradições e tentar explicar o motivo ou motivos de sua existência. Enquanto a 4a é localizada por Kaplan entre o cap. XV do Tratado Teológico-Político (TTP) e a Ética de Spinoza, as 3 primeiras, por sua vez, são localizadas entre o cap. XV, por um lado, e, por outro, a Ética e o cap. IV do próprio TTP. O 1º parágrafo de Kaplan (p. 1) traz o que constitui, segundo ele, a tese de Spinoza contida no cap. XV do TTP: Deus salva os que lhe são dóceis, submissos, obedecem (basta a simples submissão); a razão sozinha não chega a esta verdade, e, portanto, a revelação 1
A salvação pela obediência e a necessidade da revelação em Spinoza. Em todo este trabalho, a tradução é sempre nossa.
é rigorosamente necessária; de tal modo que o testemunho da Escritura constitui uma fonte válida de conhecimentos ao lado da natural (a razão); esta sozinha só permite esperar a salvação a uma minoria, a saber, os que sabem raciocinar rigorosamente; a salvação pela obediência, ao contrário, está ao alcance de todos. No 3º parágrafo (p. 2) a antítese, contida na Ética: A felicidade é inacessível àqueles que agem por submissão, pois não sendo guiados pela razão, não conhecem e não são nem livres, nem ativos (“Cf. ‘nossa salvação, ou, em outras palavras, a Felicidade ou a Liberdade’ - Ética, livro V, proposição XXXVI, escólio.”); “‘o ignorante … não possui jamais2 a verdadeira satisfação da alma’”. A via da salvação é árdua: “‘tudo o que é muito precioso é também difícil como raro’”. Assim, “a Ética se opõe, portanto, ao TTP, não somente sobre o valor da submissão, mas também sobre a facilidade da salvação”. E no 4º parágrafo (p. 2-3) a antítese contida no cap. IV do próprio TTP: “‘nosso soberano bem e nossa perfeição dependem somente do conhecimento de Deus … É nisto, portanto, isto é, no conhecimento e no amor de Deus que consiste nosso soberano bem e nossa felicidade (É necessário compreender como conhecimento de Deus, não o conhecimento passivo, por ouvir dizer, dos mandamentos de Deus considerados como fórmulas a aprender simplesmente, mas ‘o conhecimento intelectual de Deus’ - p. 669, a idéia ‘clara e distinta de Deus’ - p. 669, ‘o entendimento sendo a melhor parte do nosso ser’ - p. 668. Aliás, um conhecimento por submissão não tem sentido: ‘Alguém objetará que o fato de não compreender bem os atributos de Deus não torna menos possível de admiti-los simplesmente e sem demonstração? Sofisma! Com efeito, os objetos invisíveis e destinados a ser apreendidos só pelo pensamento não podem ser percebidos senão por demonstração. (…)’ - p. 800.). Somente o entendimento (prescreve) leis aos sábios … Somente os sábios, portanto, segundo a palavra de Salomão, vivem na paz e igualdade de alma … Somente a sabedoria, ou ainda o entendimento nos ensina a temer a Deus convenientemente’ (p. 677). E o cap. V confirma que ‘todas as sentenças de Salomão citadas no cap. precedente prometem a verdadeira felicidade somente àqueles que cultivam o entendimento e a sabedoria, visto que somente eles conhecem verdadeiramente o temor de Deus e honram a ciência’ (p. 682)”. Depois desta ida ao cap. V, na seqüência do parágrafo Kaplan volta aos capítulos II e III, nos quais Spinoza fala, respectivamente, de Moisés e do evangelista Marcos, em confirmação à antítese: “‘Moisés ensina … os Hebreus como pais que ensinam filhos privados de razão. Isto porque ele está certo de que eles ignoram a excelência da virtude e a verdadeira felicidade’ (p. 648)”; “‘que observar os mandamentos do Antigo Testamento não seja suficiente para esperar a vida eterna, é o que atesta Marcos’ (p. 656). (…), ‘a felicidade (sendo reservada) somente à lei divina universal’ (p. 681). (…) mandamentos morais, de valor universal (…). O que é visado, portanto, é o mandamento enquanto observado por obediência, ao invés de ser compreendido intelectualmente”. A partir do 5º parágrafo (p. 3) Kaplan refuta 4 posições que conciliam, isto é, que não vêem as contradições apontadas. No 5º parágrafo a 1ª, que tenta conciliar afirmando uma sinonímia entre obediência, amor ao próximo e generosidade, a partir de um trecho da p. 809 (do próprio cap. XV) e de dois trechos da Ética: “quando, no cap. XV, Spinoza prega a obediência e declara que ela é suficiente para assegurar a felicidade, ele 2 Aqui e doravante, neste trabalho, quando não se tratar de título de obra, o itálico significa grifo do próprio Kaplan.
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
229
entende por obediência a justiça e a caridade, pois ele escreve na p. 809 que ‘o culto a Deus e a obediência não consistem senão na justiça e na caridade, isto é, no amor ao próximo’; por sua vez, a justiça e a caridade são o que ele chama na Ética de generosidade, ‘desejo pelo qual cada um se esforça em ajudar os outros homens e em se ligar com eles na amizade’ (Livro III, proposição LIX, escólio), e, enfim, a generosidade é, segundo a mesma Ética (Livro V, proposições XLI e XLII), a condição da Felicidade, de modo que o cap. XV do TTP se concilia perfeitamente com a Ética.”. E a refutação: Esta posição só vale se esquecermos que a generosidade da Ética procede “‘somente do mandamento da Razão’ (Livro III, proposição LIX, escólio) e que se pode demonstrar – é o que faz a Ética – pela razão natural que ela é a condição da Felicidade, ao contrário, expressamente, da obediência do cap. XV do TTP”. No 6º parágrafo (p. 3-4) a 2a, que também tenta dar um sentido aceitável à palavra obediência, mas a partir do cap. IV do TTP: “‘é … no conhecimento e no amor de Deus, que consiste nosso soberano bem e nossa felicidade. Como conseqüência, os meios reclamados por este fim de todas as ações humanas, a saber, Deus mesmo enquanto sua idéia está em nós, podem ser chamados mandamentos de Deus, pois eles nos são prescritos por Deus mesmo enquanto ele existe em nosso espírito’ (p. 669)”. Na refutação, além de Kaplan afirmar que contra esta posição vale a refutação feita em relação à 1ª posição, ele acrescenta: “Uma tal obediência, se se pode falar de obediência, precisamente porque ela é uma obediência racional, não pode ser a obediência implicada pelo cap. XV”. Nos parágrafos 7 a 9 (p. 4-5) a 3a, defendida por B. Rousset e A. Matheron. Esta posição tenta conciliar afirmando dois sentidos para o termo salvação: um sentido forte correspondente ao conhecimento, e um sentido fraco correspondente à obediência. Esta não seria o salvar propriamente dito, mas a condução à salvação. A obediência como uma etapa intermediária, uma “‘via de salvação’, como se exprime, aliás, o próprio Spinoza (TTP, cap. XV, p. 823)”. A obediência constituiria “… uma etapa em direção à salvação. De fato, Spinoza diz expressamente no escólio da proposição LIV do livro IV: não é ‘espantoso que os Profetas, preocupados não com o bem de poucos, mas com o bem comum, tenham recomendado tanto a humildade, a conversão e o respeito? E na verdade, aqueles que são submissos a estes sentimentos podem, bem melhor do que os outros, ser levados a viver enfim sob a condução da Razão, isto é, a ser livres e a gozar da vida dos bem-aventurados’”. A refutação, mais uma vez, é convicta. “Mas uma nota marginal do cap. XV do TTP elimina esta interpretação: ‘Só a revelação, não a razão, é capaz de ensinar que se pode perfeitamente ser salvo, isto é, chegar à felicidade, considerando as exigências divinas como leis ou mandamentos, e que não é indispensável concebê-las como verdades eternas’ (p. 823). A segunda etapa, intelectual, é, portanto, formalmente excluída. Sozinha a etapa da obediência é suficiente.”. No fundo, segundo Kaplan, esta posição acaba mantendo a contradição: “Por outro lado, se é necessário, de qualquer maneira, passar pela via intelectual, e se esta via é tão árdua que o sucesso é raro (último escólio da Ética), como alguém pode sustentar, ao mesmo tempo, que a salvação pela obediência está ao alcance de todos, mas é só a primeira etapa, e insuficiente (A menos que se compreenda que a via intelectual é difícil e o sucesso raro só por enquanto, por causa das condições sociais. Mas se é isto o que Spinoza pensava, por que não o disse?)?” No 10º parágrafo, como que concluindo esta parte, Kaplan tenta aprofundar a contradição, o sentido, a importância dela: “Enfim, Spinoza explicita que a salvação pela 230
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
obediência, se ela é real, não é menos contrária à razão. O que restaria do spinozismo se ele admitisse que existe algo real e irracional? A salvação pela obediência não é, com efeito, irracional somente para nós, ela é necessariamente: ‘Deus, em virtude de uma graça particular que escapa à compreensão racional, salva os crentes dóceis’ (p. 823-824). A compreensão racional à qual escapa a salvação pela obediência não é a nossa compreensão racional, ela é a compreensão racional em si; por qual outro motivo seria necessária uma graça particular?” Enfim, em nota ao final do 10º parágrafo, a 4a posição, simplesmente descartada: “Citamos, apenas para lembrar, a interpretação que conciliava TTP e Ética eliminando os dois termos do problema: sendo as almas eternas, sendo que o que acontece no tempo não influi no que é eterno, então todas as almas são salvas sem que a razão e a obediência sejam necessárias.” A partir do 11º parágrafo (p. 5) e até a p. 9, Kaplan passa à questão da revelação. Eis a passagem: “Mas há algo mais grave: a tese do cap. XV do TTP é dupla: 1º, os homens são salvos pela sua simples submissão; 2º, a revelação constitui uma fonte de conhecimento necessário e legítimo. Resta, portanto, estabelecer este segundo ponto. Melhor: o 1º ponto depende, se apóia no 2º, porque ‘somente a revelação, não a razão, está em condição (de o) ensinar’ (p. 823. Sem dúvida se poderia dizer – e isto constituiria uma nova objeção contra as interpretações que discutimos do 1º ponto – que estas interpretações justificam racionalmente a salvação pela obediência. Contudo, não manteremos esta objeção, porque se poderia replicar que o que justificam racionalmente é que é possível que a obediência salve, e que o que é necessário justificar, é que seja necessário que a obediência salve: ‘aqueles que são submissos … podem bem melhor do que os outros, ser levados a viver enfim sob a condução da Razão’ - Ética, livro IV, proposição LIV, escólio. Ora, esta justificação, a razão natural não poderia conseguir.). Ora, o 2º ponto impõe dificuldades ainda mais importantes do que aquelas do 1º, e sobre o qual se tem, aliás, insistido menos, por causa do maior espanto em relação ao fato de que possa haver duas espécies de salvação, do que em relação ao fato de que possa existir revelação para Spinoza”. Do final da p. 5, até o final da p. 6, em um longo parágrafo, Kaplan lembra que uma revelação histórica, no sentido tradicional, não é possível em Spinoza. Do mesmo modo que também não é possível o amor de Deus pelos homens no sentido tradicional. A descoberta de Deus só existe pela razão natural (o que, de qualquer maneira, pode ser dito como Deus revelando-se, revelação de Deus: “porque é uma revelação, mas não histórica, pela razão natural”). Enfim, a idéia tradicional de revelação, segundo Kaplan, não cabe em Spinoza. Do final da p. 6, ao começo da p. 7, em um pequeno parágrafo, uma transição acentuadora da importância da problemática: “E não se trata de uma oposição a alguns elementos acessórios do spinozismo que possam ser retificados, ou se possa não levar em conta ([e eis, em nota de rodapé, a 4ª contradição, apenas mencionada:] Pode-se notar também a contradição entre a noção de certeza moral admitida pelo cap. XV do TTP, isto é, de uma idéia da qual não se é senão muito provavelmente certo – e a Ética, na qual, ‘quem tem uma idéia verdadeira sabe, ao mesmo tempo, que tem uma idéia verdadeira, e não pode duvidar da coisa’ - II, proposição XLIII. Aqui, a certeza é absoluta, ou não existe; lá, existe uma certeza intermediária.). Porque, o que restaria da Ética, uma vez admitidos o entendimento e a vontade de Deus, a possibilidade de Deus ter finalidades, o caráter substancial do homem, todos implicados pela noção tradicional de revelação?”
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
231
Enfim, da p. 7 até o início da p. 9, em dois longos parágrafos, a reafirmação da contradição na questão da revelação. A noção de revelação aceita por Spinoza é a da razão natural. Ela não se define por uma vontade de comunicação da parte de Deus, mas pelo valor racional do conteúdo: “‘nós percebemos facilmente em qual sentido Deus deve ser concebido como o autor da Bíblia; é por causa da verdadeira religião que nela é ensinada, e não porque ele quis comunicar aos homens um determinado número de livros’ (p. 791)”. Em outras palavras: não é verdade porque Deus falou; é palavra divina porque revela a verdade! E, “Na medida que, ao contrário, a revelação não deriva da razão natural, ela não será, então, senão um produto da imaginação”. E eis uma parte da contradição: “Ela não pode, portanto, ser um meio legitimamente válido de conhecimento: ‘É só por muita necessidade [carência] que se deve tirar (dos profetas) o conhecimento das coisas naturais e espirituais’ (p. 649)”. E a outra parte: no cap. XV a noção de revelação é a literal, isto é, a tradicional: “Esta interpretação [a da revelação através da razão natural] não é aceitável para o cap. XV do TTP, admitindo que ela se aplica sem restrição ao resto da obra. Nosso texto exclui, com efeito, que a revelação se confunde com a razão natural; ela não pode, por outro lado, reduzir-se à imaginação, porque ela nos ensina algo verdadeiro. Melhor: ela implica a realidade das confirmações por sinais: ‘como, além disso, (os Profetas) forneceram sinais em apoio às suas palavras, estamos convencidos de que eles não falaram superficialmente e não deliraram enquanto profetizavam’ (p. 821)”. Portanto, em relação ao cap. XV, “só resta tomar a Revelação em sentido literal: é Deus que o teria dito a Isaías. Mas reencontramos, então, as contradições entre a Revelação em sentido literal e a Ética. Estas contradições são irredutíveis.”. Acertado que existem as contradições, Kaplan passa (p. 9) à análise do motivo. Teria sido por falta de habilidade, por falta de rigor e sem se aperceber? Não. Neste caso “as contradições são demasiado manifestas, o problema é demasiado importante para que a explicação por falta de rigor seja verdadeira.” (p. 9). A explicação não seria através da afirmação de uma evolução no pensamento de Spinoza? “Iremos, talvez, reconsiderar, de certa maneira, esta interpretação [evolução anunciada, prevenida: p. 15]; mas, ao pé da letra ela é absolutamente insustentável: no momento no qual o TTP aparecia, a Ética estava pronta no essencial.”. O motivo é: Spinoza não exprime seu verdadeiro pensamento em todos os casos. Ele teria dissimulado em vista do controle da maioria, em vista da harmonia necessária da sociedade. Enquanto o seu pensamento jogava a favor da liberdade (“limitar a força da revelação”: p. 13), o seu pensamento do cap. XV garantia a ordem necessária (“a necessidade das Igrejas”: p. 10). E ao mesmo tempo protegia a si mesmo (p. 9-10). Escândalo. Escondeu seu verdadeiro pensamento. Mentira? Falta de coragem? (p. 1011). Os intérpretes que respondem “sim” desconhecem a situação da época. A própria Holanda não era assim o reino da liberdade (p. 11): “a dissimulação do pensamento, que não tem sentido na nossa situação – o que explica porque ela nos choca tanto e porque hesitamos em admiti-la em Spinoza – era normal àquela época.” (p. 12). Provavelmente Spinoza seguiu o exemplo de Maimônides. O seu pensamento poderia (e deveria) ser dissimulado com a finalidade de obter um resultado útil para todos (p. 12-13). Mas esta hipótese da dissimulação não supõe, contudo, que ele tenha dissimulado o suficiente para esperar evitar a oposição dos teólogos e obter a adesão do público. “Spinoza não tinha escolha. Era necessário lutar contra o perigo crescente de uma tomada de poder por parte dos fanáticos, e para isto era necessário limitar o alcance da revelação. Era necessário, ao contrário, admitir a realidade desta última, porque negá-la desqualificaria 232
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
completamente o liberalismo aos olhos da opinião pública holandesa, e porque, por outro lado, Spinoza pensava que as Igrejas têm uma função positiva, sob a condição de que sejam controladas pelo Estado. A posição de Spinoza não era sem riscos. Talvez ele tenha exagerado suas chances de sucesso. Mas, em todo caso, era a única possível” (p. 13). Não teria sido melhor que Spinoza não tivesse escrito sobre a salvação pela obediência e sobre a necessidade da revelação? “sem estes dois pontos, o TTP não teria cumprido a função à qual estava encarregado” (p. 14). Ele certamente poderia ter utilizado fórmulas de duplo sentido, como fez outras vezes. Mas “É difícil explicar o texto do cap. XV que analisamos procurando fórmulas de duplo sentido” (p. 14). Mas talvez Spinoza tenha sido sincero no momento em que escreveu (p. 14). “Pode-se, portanto, pensar, que as partes do TTP que estão em contradição com a Ética representam um estado anterior do pensamento de Spinoza, e que ele julgou útil retomar – em razão da eficácia pedagógica e política que lhes atribuía. Isto, tanto mais que, se ele reconheceu ulteriormente a obra, não a publicou senão anonimamente, portanto, sem assumir absolutamente a responsabilidade. Qualquer que seja o resultado desta hipótese, não se estará menos no direito de sustentar que Spinoza procurou enganar seus leitores, pois ele procurou lhes fazer crer em algo que ele sabia, no momento no qual o publicava, falso. Mas é necessário notar que ele os preveniu largamente.” (p. 15). Eis, portanto, o restante da explicação do motivo: dissimulação, por conta, também, de uma evolução prevenida (todo o pensamento de Spinoza orientava no sentido de que só há salvação pelo conhecimento, e de que o termo revelação deve ser tomado no sentido de razão natural ou imaginação). Tratava-se da manutenção da comunidade: “No cap. XIX há um texto que merece reflexão: ‘Não há nenhuma ação, contrária quanto seja em si mesma à caridade em relação ao próximo, que não se torne um gesto de inspiração sagrada, se ela for favorável à conservação da comunidade organizada’ (p. 887)”. E da manutenção da própria fé: “De qualquer modo, o cap. XIV diz formalmente que ‘a fé precisa menos de dogmas verdadeiros do que de dogmas fervorosos … Pouco importa que um grande número dentre esses dogmas não contenha a menor parcela de verdade, é suficiente que os homens por quem eles são aceitos não saibam que eles são falsos’ (p. 807-808)”. Finalmente: “Como, enfim, não considerar significativas as afirmações segundo as quais Deus, os profetas, Jesus, os apóstolos enunciam proposições que sabem ser falsas, para se adaptar aos seus ouvintes e para obter deles um comportamento justo (…) ? (…). E então, de duas coisas, uma: ou Spinoza pensava realmente que Deus, os profetas, Jesus, os apóstolos efetivamente empregaram este procedimento e que ele é legítimo (como, nestas condições, achar espantoso, chocante, que o autor do TTP o tenha empregado ele mesmo?); ou se julga que, nestas passagens, Spinoza não formula seu verdadeiro pensamento, que seria que Deus não se revelou, que os profetas, Jesus, os apóstolos não enganavam conscientemente seus ouvintes, e que se seus ensinamentos continham erros, é porque se enganavam a si mesmos; reconhece-se, assim, que Spinoza dissimulava seu pensamento, e não há mais nenhuma razão para não o reconhecer também no que concerne à salvação pela obediência e à necessidade da revelação. De fato, o TTP não podia enganar senão aqueles que deviam ser enganados – e, como se sabe, mesmo aqueles não foram enganados” (p. 16-17).
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
233
Referências bibliográficas KAPLAN, Francis. Le salut par l’obéissance et la necessité de la révélation chez Spinoza. Revue de Métaphysique et de Morale, Paris, 78e année – Nº 1: 1-17, Janvier-Mars 1973. TINLAND, Franck. Spinoza ou la force d’affirmer. Revue de Métaphysique et de Morale, Paris, 83e année – Nº 1: 51-72, Janvier-Mars 1978. BRYKMANN, Geneviève. La judéité de Spinoza. Paris: Vrin, 1972. LAUX, Henri. Imagination et religion chez Spinoza. La potentia dans l’histoire. Paris: Vrin, 1993.
* Sergio Tiski é professor do Departamento de Filosofia da UEL. Graduado em filosofia pela PUC de Curitiba e em teologia pela PUG de Roma; especialista em filosofia pela UEL; mestre em filosofia pela PUC de SP; doutor em Filosofia pela Unicamp.
234
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
Dossiê Cinema*
*
Os textos de Luciana Corrêa de Araújo, André Piero Gatti, Vicente Gosciola, José Inacio de Melo Souza, Samuel Paiva e Eduardo Peñuela Cañizal foram apresentados no I Seminário “Estudos Contemporâneos do Audiovisual”, promovido pelo Programa de Mestrado em Imagem e Som da UFSCar, com apoio da Fapesp, em 2007.
Uma possível tendência naturalista no cinema brasileiro atual ALFREDO LUIZ PAES DE OLIVEIRA SUPPIA*
O
cinema brasileiro contemporâneo, fruto da retomada nos anos 1990, é marcado pela diversidade estética e temática. Nos últimos anos, temos assistido a revitalizações do filme de cangaço, adaptações de clássicos da literatura brasileira, thrillers, filmes biográficos e comédias amorosas, entre outros gêneros. Nesse panorama heterogêneo, alguns filmes agrupam-se sobre o denominador comum de uma possível tendência naturalista, caracterizada, entre outros elementos, pelo efeito de crueza do registro (o que não se confunde com despojamento técnico) e pela busca da reprodução da fala e comportamento originais de determinados grupos sociais. São filmes geralmente voltados para o relato das contradições sociais nas grandes metrópoles brasileiras, cenário do qual sobressaem basicamente duas classes em conflito: a elite burguesa, correspondente ao “centro”, movida pela lógica do lucro e da manutenção de privilégios, e a marginalidade, parcela do povo, correpondente à “periferia”, que se empenha na consolidação de um poder paralelo. Nesses filmes o sangue, o suor, a droga, a gíria, a doença, o crime passional, o instinto sexual, a luta pela sobrevivência, a impulsividade e o choque são elementos recorrentes. A figura do bandido emerge como fundamental e sintomática de uma tendência: o bandido romântico, idealista (Lúcio Flávio, o passageiro da agonia, 1977), cede lugar ao
bandido pragmático, seja por vocação, seja por força de eventos coercitivos (Zé Pequeno e Mané Galinha, respectivamente, em Cidade de Deus). Dentre os filmes aqui entendidos como possivelmente adeptos de um viés naturalista estão Latitude Zero (2000), de Toni Venturi, O Invasor (2002), de Beto Brant, Cidade de Deus (2002), de Fernando Meirelles e Kátia Lund, Amarelo Manga (2002), de Cláudio Assis e Contra Todos (2003), de Roberto Moreira.
Naturalismo no cinema e na literatura; tendência naturalista Antes de prosseguirmos, convém esclarecermos alguns pontos. Jacques Aumont e Michel Marie alertam sobre a dificuldade de tratar o naturalismo no cinema; não só nunca se reivindicou uma escola naturalista no cinema, como também já se aplicou o termo de forma muito genérica, com referência ao caráter científico da imagem cinematográfica. Segundo os autores, a crítica também teria por vezes considerado alguns aspectos do Neo-realismo italiano como descendentes longínquos do Naturalismo.1 A tendência aqui referida diz respeito à utilização de elementos da estética naturalista, tais como o enfoque de camadas mais baixas da população, das contradições e mazelas sociais, por meio de um registro “carnal” e impactante, com o objetivo de revelar ou mesmo produzir uma suposta realidade “nua e crua”. Dessa maneira, deixa-se entrever o pendor “diagnóstico” desses filmes. Tendência naturalista, aqui, também não tem conotação pejorativa e não se confunde com o naturalismo hollywoodiano. É, na verdade, encarada como herdeira distante do naturalismo literário, isto é, a corrente que se notabilizou pela abordagem cientificista dos temas romanescos, tendo em Émile Zola, na França, o principal propositor, e em Aluísio de Azevedo, no Brasil, um seguidor de destaque. Segundo Nelson Werneck Sodré, “O romantismo foi o meio de expressão próprio da ascensão burguesa; o naturalismo seria o de sua decadência.”2 Portanto, o naturalismo aqui referido, diferente do que alerta Ismail Xavier em O Discurso Cinematográfico, identifica-se – embora não inteiramente - para além de apenas algumas interseções com o método ficcional de Zola e seus seguidores. Segundo Xavier, O uso do termo naturalismo não significa aqui vinculação estrita com um estilo literário específico, datado historicamente, próprio a autores como Émile Zola. Ele é aqui tomado numa acepção mais larga, tem suas interseções com o método ficcional de Zola, mas não se identifica inteiramente com ele. Quando aponto a presença de critérios naturalistas, refiro-me, em particular, à construção de espaço cujo esforço se dá na direção de uma reprodução fiel das aparências imediatas do mundo físico, e à interpretação dos atores que busca uma reprodução fiel do comportamento humano, através de movimentos e reações “naturais”. Num sentido mais geral, refiro-me ao princípio que está por trás das construções do sistema descrito: o estabelecimento da ilusão de que a platéia está em contato direto com o mundo representado,
1 V. Dicionário Teórico e Crítico de Cinema, verbete “Naturalismo”, p. 210-211. 2 Nelson Werneck Sodré, O Naturalismo no Brasil, p. 46.
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
237
sem mediações, como se todos os aparatos de linguagem utilizados constituíssem um dispositivo transparente (o discurso como natureza).3
A tendência naturalista à qual nos referimos aqui não exclui essa dimensão mais ampla enfocada por Ismail Xavier, embora almeje um contato mais estreito com o naturalismo literário conforme tentaremos argumentar. Zola defende a aplicação do método experimental na literatura: “(…) o método experimental não é nada mais do que um instrumento; o realizador, a idéia que ele traz na mente é que faz a obra-prima.”4 Em seu O Romance Experimental,5 o escritor francês apóia-se fartamente na Introdução ao Estudo da Medicina Experimental, de Claude Bernard.6 Diverge, contudo, de Bernard, quando este opõe o cientista ao literato, dizendo que a arte é o terreno de elaborações individuais e subjetivas, em nada compromissadas com a verdade dos fenômenos.7 Para Zola, o romancista de gênio tem sim compromisso com o registro da verdade dos fenômenos, daí a necessidade da aplicação do método experimental à literatura. Todavia, Zola ressalva que não pretende imergir num mesmo caldo literatura e ciência, algo de que frequentemente vinha sendo acusado.8 A obra naturalista modelar é aquela que valoriza as impressões sensoriais na descrição objetiva de um determinado contexto.9 Com razoável teor de crítica social, refere-se especialmente a classes sociais menos favorecidas, enfatizando a luta pela sobrevivência em condições adversas, e num esforço análogo ao da diagnose médica. Análogo porque, em vez de proceder a um exame mais profundo das circunstâncias e da psicologia dos personagens, o escritor fiel ao naturalismo empenha-se em descrever, com o máximo de detalhe, impressões supostamente objetivas, reduzindo todo e qualquer fator à esfera dos 3 Ismail Xavier, O Discurso Cinematográfico, p. 41-2. 4 O Romance Experimental, p. 57. 5 “Le Roman Expérimental” e “Le Naturalisme au Théâtre” foram publicados na forma de uma série de colunas no Le Messager de L’Europe, em 1879, conforme relembra Anthony Savile em seu artigo “Naturalism and Aesthetics”. (The British Journal of Aesthetics, v. 40, no 1, jan/2000, p. 48.) 6 Em O Romance Experimental, Zola observa: “Farei aqui tão-somente um trabalho de adaptação, pois, o método experimental foi estabelecido com uma força e uma clareza maravilhosas por Claude Bernard, em sua Introdução ao Estudo da Medicina Experimental. Este livro, de um cientista cuja autoridade é decisiva, vai servir-me de base sólida. Nele encontrarei toda a questão tratada, e limitar-me-ei, como argumentos irrefutáveis, a dar as citações que me serão necessárias. Será apenas uma compilação de textos, uma vez que pretendo, em todos os pontos, entrincheirar-me atrás de Claude Bernard (…)”. (Op. Cit., p. 25) 7 Zola cita, para depois rechaçar, as seguintes considerações de Bernard: “Quanto às artes e às letras, a personalidade domina tudo. Trata-se de uma criação espontânea do espírito, e isso não tem mais nada em comum com a constatação dos fenômenos naturais, nos quais nosso espírito nada deve criar”. (Op. Cit., p. 71) 8 Em O Romance Experimental, alerta Zola: “Não somos nem químicos, nem físicos, nem fisiólogos; somos simplesmente romancistas que nos apoiamos nas ciências. Por certo, nossa pretensão não é fazer descobertas na Fisiologia, que não praticamos; mas, tendo que estudar o homem, acreditamos que não podemos nos dispensar de levar em conta as novas verdades fisiológicas. E acrescentarei que os romancistas são certamente os trabalhadores que se apóiam no maior número possível de ciências, pois eles tratam de tudo e devem saber tudo, uma vez que o romance se tornou uma investigação geral sobre a natureza e sobre o homem. Eis como fomos levados a praticar o método experimental ao nosso trabalho, a partir do momento em que esse método se tornou o mais possante instrumento de investigação. Resumimos a investigação, lançamo-nos na conquista do ideal, empregando todos os conhecimentos humanos”. (Op. Cit., p. 61) 9 Segundo Zola, “Nós, os escritores naturalistas, submetemos cada fato à observação e à experiência; enquanto que os escritores idealistas admitem influências misteriosas que escapam à análise, e permanecem por isso no desconhecido, fora das leis da natureza”. (Op. Cit., p. 59)
238
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
fenômenos naturais – “O vício e a virtude são produtos (químicos) como o açúcar e o vitríolo”, afirma Taine em História da Literatura Inglesa.10 Um escritor naturalista como Zola irá pesquisar detalhadamente as impressões de determinado meio antes de escrever sua obra, tomando o cuidado de manter o devido distanciamento (pretensamente científico) de sua fonte inspiradora. É um pouco nesse sentido que Nelson Werneck Sodré observa algo aparentemente paradoxal: “o naturalismo se caracteriza, principalmente, ou essencialmente, pelo distanciamento da realidade.”11 O procedimento da zoomorfização, isto é, formulação de uma equivalência entre o homem e o animal, ocorre com relativa freqüência na prosa naturalista, fruto do impacto de teorias como a da seleção natural (Charles Darwin). Além desta e do experimentalismo na medicina defendido por Claude Bernard, o positivismo (Augusto Comte) e o determinismo, sistematizado por Hypolyte Taine, influenciaram profundamente os escritores naturalistas, em especial Émile Zola. Para Nelson Werneck Sodré, é um erro considerar o realismo uma escola, cuja radicalização de posições e métodos teria dado origem ao naturalismo. O realismo, segundo Sodré, não seria uma escola, e sim um problema fundamental da literatura; o naturalismo, esse sim seria uma escola que utilizou determinadas fórmulas, com o fito de representar fielmente a realidade.12 “O naturalismo é um pouco a sociologia na literatura”,13 comenta Sodré. Em resumo, nas palavras de Aumont e Marie: Na literatura do último terço do século XIX (sobretudo na França, e depois na Itália), [o naturalismo] é a tônica dada à natureza humana, observada “objetivamente” e em seus detalhes – detalhes, freqüentemente, escabrosos, embaraçosos, e até mesmo obscenos ou miseráveis.14
Reside nisso, portanto, a raiz da tendência naturalista entendida aqui. A análise procedida obedece, portanto, a uma perspectiva sincrônica, ou seja, que articula objetos ligados a diferentes períodos históricos, tais como o cinema brasileiro atual (séc. XXI), o naturalismo literário (séc. XIX), o neo-realismo italiano (séc. XX, pós-II Guerra) etc. Outro ponto a ser esclarecido é o fato de que o agrupamento dos filmes aqui analisados, sobre o denominador comum de uma tendência, não tem a pretensão de apontar o surgimento de uma escola no cinema brasileiro atual. É preciso deixar claro que a tendência naturalista à qual me refiro opera como opção estética ou viés de abordagem das contradições sociais no cenário brasileiro, mas não desejo afirmar que diretores estejam pondo conscientemente em prática preceitos naturalistas, que uma nova escola tenha surgido e, muito menos, que exista um projeto naturalista no cinema brasileiro atual. Na verdade, 10 Apud Nelson Werneck Sodré, O Naturalismo no Brasil, p. 47. 11 Ibid., p. 58. 12 Em “Naturalism and Aesthetics”, Anthony Savile observa que a diferença entre realismo e naturalismo na literatura é, segundo o projeto naturalista de Zola, análoga à diferença entre observação empírica e experimentação. Savile relembra que, para Bernard, a observação mostra enquanto o experimento instrui. Analogamente, para Zola o escritor realista é escravo de seu material – ele apenas registra, tão inerte quanto uma câmera –, enquanto o escritor naturalista instrui seus leitores por meio de observações controladas, construídas por sua imaginação de artista. (Op. Cit., p. 48) 13 Op. Cit., p. 53. 14 Op. cit., p. 210.
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
239
sugiro apenas que elementos da estética naturalista estejam sendo usados em alguns filmes contemporâneos, mas de maneira atualizada, não atrelada a todos os preceitos ideológicos do naturalismo, um movimento sem dúvida alguma datado. Por outro lado, não é absurdo dizer que o cinema sempre teve uma certa inclinação naturalista, a qual nasce com sua utilização no campo da fisiologia e que, até hoje, sobretudo no cinema documentário, deixa-se entrever. Pois não é algo estranho ao documentarista, ao cineasta dedicado ao filme histórico ou ao drama social, a pesquisa, coleta de dados, observação e experimentação no campo de seu objeto. A idéia aqui explanada é fruto de minhas impressões, sobretudo como espectador de cinema brasileiro. À saída de Contra Todos, de Roberto Moreira, percebi que aquele filme me era estranhamente familiar, e que de alguma forma me parecia irmanado a alguns outros filmes que assistira antes. Essa irmandade, a meu ver, era temática e estética. Para mim, filmes como Cidade de Deus (Fernando Meirelles e Kátia Lund) e Amarelo Manga (Cláudio Assis) guardavam aspectos em comum com Contra Todos, mas não com Carandiru (2003), de Hector Babenco, ou O Homem do Ano (2003), de José Henrique Fonseca. Por quê? Entendi que essa afinidade poderia ter a ver não só com o tema, mas também com a maneira de abordá-lo, uma maneira que, a meu ver, porta traços naturalistas. Mas antes de nos determos sobre a cinematografia contemporânea de tendência naturalista, examinemos rapidamente um caso de adaptação para o cinema de romance brasileiro reconhecidamente naturalista.
O Cortiço (1978) O Cortiço (1890), de Aluísio de Azevedo, considerado sua obra-prima e talvez o melhor romance naturalista brasileiro, foi adaptado para o cinema duas vezes. Em 1945, com direção de Luiz de Barros. Em 1978, com direção de Francisco Ramalho Jr. Em O Cortiço de 78, a dimensão naturalista é sutil e restrita a algumas passagens. As cenas introdutórias do filme, com a abertura das portas do cortiço e o registro das atividades em seu interior, acenam com um naturalismo comedido. Mais adiante, a montagem paralela, que contrapõe a festa no cortiço à festa na casa do barão Miranda (Maurício do Valle), joga com o contraste social e revela que o adultério ocorre tanto entre os pobres quanto entre os ricos. Cortes rápidos denunciam o ciúme e a sensualidade, seja na roda de samba, seja no baile burguês. Outra passagem que se aproxima da estética naturalista diz respeito à trajetória sexual da personagem Pombinha. A jovem, ainda “moça”, conhece o sexo com outra mulher. Finalmente menstrua, para alegria de sua mãe e dos vizinhos, e deixa o cortiço para se casar. No fim, abandonará o marido e assumirá o relacionamento homossexual com a madrinha. Existe em O Cortiço um razoável teor de crítica social, especialmente no relato da exploração dos habitantes do cortiço pelo proprietário da “estalagem”, João Romão (Armando Bógus). Este é descrito como um comerciante inescrupuloso e até mesmo criminoso. Seu relacionamento com o burguês Miranda, que passa da rivalidade à união de interesses, constitui uma denúncia, ao estilo marxista, das forças que manipulam e exploram o povo. Mas, num balanço geral, o filme se afasta da estética naturalista genuína, segundo a qual a descrição detalhada de fenômenos físicos e fisiológicos e suas reper-
240
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
cussões na vida em sociedade têm grande valor. A famosa passagem do livro de Azevedo, na qual o autor cria uma imagem que associa os habitantantes do cortiço a larvas,15 não encontra equivalente no filme de Ramalho Jr., onde a equiparação do homem ao animal até existe, mas de forma bem mais sutil. O desfecho do romance, impactante, pessimista e desconfortante, é suavizado no filme. Ramalho Jr. opta por final um tanto quanto conciliador, menos sangrento que no romance e com o retorno de Jerônimo (Mário Gomes) à mulher Piedade. Será no cinema brasileiro atual, porém, que elementos da estética naturalista ressurgirão com maior notabilidade.
Latitude Zero (2000) Latitude Zero, de Toni Venturi, desloca o cenário da metrópole para o interior do Brasil.16 O filme já abre com uma cena de sugestão naturalista, a da masturbação da personagem Lena (Débora Duboc), grávida de 8 meses, no salão insalubre do bar e restaurante em que vive, solitária, à beira da estrada. O calor, sempre presente, torna ainda mais penosa a gravidez de Lena, como ela própria irá se queixar. Além do calor, a sujeira e o toque na pele dos personagens serão elementos recorrentes ao longo de todo o filme. O bar e restaurante no qual vive Lena fica próximo a um garimpo desativado. Outro cenário familiar à estética naturalista, o garimpo, que se confunde com a mina, une de uma só vez o homem à terra e ao mecanismo econômico. Vilela (Cláudio Jaborandy), o personagem do policial militar foragido que invade a vida de Lena, tem uma frase também sugestiva do naturalismo imerso no filme: “Eu não penso nada. Eu tenho fome. Quando eu tô com fome eu não consigo pensar direito.” Pouco após essa fala de Vilela, Lena responde que o lugar onde estão os dois é o “cu do mundo”, onde não se encontra trabalho nem perspectiva de vida. Chamam a atenção algumas cenas de hábitos corriqueiros de higiene, como lavagem e lixamento dos pés. A propósito, os pés, descalços ou em calçados sujos, são imagens recorrentes. A sexualidade dos personagens é latente e, em mais um esforço naturalista, a câmera irá flagrar Vilela se masturbando, deitado na cama, e sendo espionado por Lena. Mais adiante, teremos Lena flagrando Vilela enquanto este urina no solo. A descrição dos impulsos sexuais em Latitude Zero relembra, em estilo, imagens equivalentes do romance O Cortiço, de Aluísio Azevedo, como por exemplo os relatos de assalto sexual da personagem D. Estela por seu marido, Miranda.17 Em algumas externas de paisagem, a câmera em plongée coloca o homem contra o solo, acentuando a sensação de pequenez e solidão que perpassa todo o filme.
15 A passagem do romance é a seguinte: “E naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar, a esfervilhar, a crescer, um mundo, uma coisa viva, que parecia brotar espontânea, ali mesmo, daquele lameiro, e multiplicar-se como larvas no esterco.” (Aluísio de Azevedo, O Cortiço, p. 22). Diversas outras imagens similares sucederão a esta no romance de Aluísio de Azevedo. No filme de Ramalho Jr., porém, tais imagens não encontrarão equivalente. 16 Embora a cidade seja cenário comum no naturalismo literário, não devemos ignorar as incursões da escola no cenário rural, como em L’Assommoir (1877), de Zola. 17 Ver capítulo I de O Cortiço.
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
241
A descrição de processos ligados ao preparo de alimentos, tal como veremos adiante em Amarelo Manga, pode ser associada à estética naturalista, na medida em que descreve etapas consideradas “menos nobres” dentre as atividades humanas. Em Latitude Zero teremos em detalhe uma galinha sendo depenada por Lena. Nessas situações, filmes que não tenham nenhuma vocação naturalista preferem o corte e a elipse, passando da captura do animal vivo ao prato sendo consumido (ver, por exemplo, No Caminho das Nuvens, 2003, de Vicente Amorim, quando se dá a captura de um porco). Num desabafo a Vilela, Lena emenda outra fala não muito distante do imaginário naturalista: Ele te disse que sou forte? Sou forte coisa nenhuma, só perdi o nojo. Não sobrou nada. Só o filho dele me chutando a barriga.” Lena se refere ao fato de ter sido abandonada pelo marido, superior de Vilela na Polícia Militar. É quando Lena e Vilela estão assistindo a um programa sensacionalista da TV local que ele se excita definitivamente. Lena ensaia resistência, como em outras ocasiões, mas finalmente entrega-se a Vilela. O coito por trás, sobre uma mesa, é rápido, impulsivo, e termina com um close de Lena, sorrindo satisfeita. No dia seguinte, Vilela abandona Lena, levando consigo o dinheiro guardado por ela. Numa crise de desespero, Lena depreda o restaurante. Ela dará à luz sozinha. A câmera se aproxima da personagem, sentada de pernas abertas em meio a uma profusão de velas, a vagina coberta por um pedaço de tecido. A imagem sofre corte, mas o som mantém a seqüência, no grito profundo e extenso de Lena durante o parto. Planos de dia e o ruído do bebê sugerem que o filho de Lena já é nascido. Ela agora come vorazmente com as mãos, um fio de baba pendendo da boca. O choro do bebê persiste. Vilela reaparece e, com alguma dificuldade, acaba convencendo Lena a aceitá-lo novamente. Ele limpa e reforma o restaurante, mas mesmo assim não aparecem clientes. Ao mesmo tempo, Vilela tenta o garimpo, solitário, mas nisso também não consegue sucesso. Passa a beber em excesso. Sua relação com Lena está em crise. Num determinado momento, ele a estupra, numa cena narrada em tempo real. Em seguida, a câmera flagra Vilela bebendo e comendo com as mãos, vorazmente, para depois vomitar, sob o choro do bebê (este nunca aparece, senão pelo ruído do choro, em off, então presente em praticamente todas as cenas internas). Desequilibrado, Vilela torna-se obcecado por limpeza, atribuindo o insucesso do restaurante e a crise conjugal à sujeira do lugar. Ensandecido, culpa também a criança recém-nascida pelo inferno que se abateu sobre sua vida. Invade violentamente o quarto de Lena, onde está a criança, e sai de lá com dois tiros nas costas (a câmera não descreve a luta no interior do quarto, mantendo-se no salão). Vilela cai morto, seu cadáver jazendo aos pés de Lena, sentada no salão. O filme termina com Lena e seu filho subindo na boléia de um caminhão, deixando para trás o restaurante em chamas. Latitude Zero narra a escalada de desespero de dois indivíduos isolados no cerrado brasileiro, país de extensão continental onde existem regiões “esquecidas”, apartadas da modernidade e negligenciadas pelo poder público. O calor, o suor, a sujeira, a escuridão, a satisfação dos instintos, a perda do equilíbrio e os efeitos psicológicos do isolamento estão presentes ao longo de todo o filme, daí os alicerces de sua tendência naturalista.
242
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
O Invasor (2002) O Invasor, dirigido por Beto Brant, opõe duas faces da sociedade metropolitana: a dos empresários de classe média alta e a dos marginais da periferia. Nesse movimento, é revelada uma curiosa relação de dependência entre o empresário e o marginal, verdadeiro contrato entre classes sociais distintas, e cujo elo de ligação é o crime. O problema se instala quando uma das partes envolvidas no contrato, o marginal, decide ir além no seu papel – ele deseja partilhar da vida dos empresários, usufruir do mesmo poder e conforto, numa atitude que constrange e ameaça a integridade de seus contratantes. O que era para ser uma relação rápida e sigilosa acaba se tornando uma convivência tensa e alongada. Daí o nome do filme. A estória começa com o espectador partilhando do ponto de vista de Anísio, assassino de aluguel e personagem-título. Ele será contratado por Gilberto (Alexandre Borges) e Ivan (Marco Ricca), empresários da construção civil que desejam eliminar o sócio Estevão (George Freire), o qual estaria atrapalhando negociações escusas lucrativas entre a empresa e o governo. É Gilberto, o “Giba”, quem efetivamente negocia com Anísio. Ele é descrito como um empresário corrupto, sem escrúpulos, que à noite é sócio de um prostíbulo de alta classe, mantendo relações com o submundo de São Paulo. Ivan, por sua vez, embora seja cúmplice de Giba, é descrito como indivíduo sem grande propensão ao crime e à corrupção, um sujeito hesitante, que oscila entre a resignação e o drama de consciência. Anísio assassina Estevão e a mulher deste, recebe o pagamento de Giba e Ivan pelo serviço, mas começa a freqüentar a construtora, para desespero dos empresários que encomendaram o crime. Sua presença vai do incômodo à ameaça. Não tarda para que Anísio proceda a chantagens, enquanto se autoproclama funcionário da construtora. Além disso, Anísio conhece a filha do casal que assassinou, a jovem Marina (Mariana Ximenes), e dela se torna namorado. O matador passa a freqüentar também a mansão, num bairro de classe média alta de São Paulo, onde Marina continua vivendo após a morte dos pais. Conforme a presença de Anísio se intensifica, aumenta o drama de consciência de Ivan. Ele entra em atrito com Giba e termina por contar tudo à polícia. Nessa trajetória, ocorre uma dupla movimentação dos personagens interpretados por Paulo Miklos e Marco Ricca, conforme observa Rodrigo Lobo.18 No decorrer do filme, Anísio passa da condição de executor à de mandante, enquanto Ivan sofre processo inverso, decaindo de mandante a executor. A certa altura, Anísio responde a Giba: “eu não faço mais, mando fazer.” O final do filme, que opõe a figura de um Ivan algemado, numa viatura de polícia, à de um Anísio em robe de seda e chinelos, saindo da mansão de Marina, ilustra com propriedade a inversão de papéis proposta pelo filme. O Invasor talvez seja, de todos os filmes analisados aqui, aquele em que a tendência naturalista se faz menos óbvia. O viés naturalista no filme de Beto Brant reside basicamente no registro documentário, explícito em alguns trechos, e na construção de um discurso de choque entre duas classes sociais, a do empresário e a do assassino de aluguel, bem como dos respectivos universos que os cercam. Depois da contratação de Anísio e da ida ao prostíbulo, Giba fala a Ivan algo sugestivo da visão naturalista que permeia o filme: “Não pense que você não está sujando as 18 V. crítica de Rodrigo Lobo na Revista Autor, Ano II, no 10, abril de 2002, em http://www.revistaautor. com.br/artigos/2002/W10/RLB_10.shtml
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
243
mãos só porque é outro cara que está fazendo o serviço. Dá no mesmo. Bem-vindo ao lado podre da vida.” Mais adiante, numa discussão entre Giba e Ivan, o primeiro disserta sobre a natureza belicosa dos homens, a ganância, a fome de poder e o instinto de sobrevivência. Para Giba, matar o sócio Estevão significa nada mais nada menos do que aproveitar uma oportunidade. Giba refere-se ao mestre-de-obras Cícero como exemplo de sua teoria. Intimida Ivan dizendo que Cícero o respeita por uma questão de hierarquia das classes, mas que não perderia uma oportunidade segura de se apropriar do dinheiro, do carro, das roupas e da mulher do patrão. Para Giba, tudo é uma questão de oportunidade, e o que ele e Ivan estão fazendo é o mesmo que o próprio Estevão faria com eles, caso tivesse uma boa chance. No discurso proposto pelo personagem Giba, os homens vivem à espreita, prontos a cometer atos violentos que lhes dêem superioridade em relação aos demais. Na cena em que Giba e Ivan comparecem ao local onde foram abandonados os corpos de Estevão e sua mulher, a trilha sonora é do grupo Tolerância Zero, tendo como refrão a frase “Bem-vindo ao pesadelo da realidade”. De certa maneira, esse refrão resume o objetivo do filme: revelar, por meio da angústia, tensão e desconforto, o caráter pesadelar da realidade na grande metrópole brasileira. Quando Anísio e Marina saem de carro para um passeio, num dos primeiros encontros entre os dois, tem início uma seqüência de caráter documentário: uma excursão à periferia de São Paulo, ao som do rap. A casa do falecido Estevão, onde vive sua filha, é predominantemente branca, solar, de linhas modernas, em oposição às imagens da periferia, multifacetada, ruinosa, suja e visualmente poluída, na qual predominam o vermelho-tijolo, o azul e tons de cinza. Na esteira do registro documentário, um personagem real é inserido na narrativa, o rapper Sabotage. Ele e Anísio vão à construtora de Giba e Ivan, pedir-lhes dinheiro para a gravação de um CD. Paulo Miklos, cantor do grupo Titãs que interpretou Anísio, contou com orientação de Sabotage na constituição de seu personagem. Habitante da periferia paulista, o rapper (já falecido) instruiu Miklos quanto à sua maneira de falar, emprego de gírias e gestual. Nesse trabalho de preparação do personagem também é possível perceber algo do apelo naturalista no filme de Brant. Do que fala Renato Ciasca, produtor executivo e co-roteirista de O Invasor, depreende-se que o método de filmagem se assemelhava muito ao método documentário (em especial o do cinema direto). As restrições de orçamento fizeram com que as filmagens nas locações fossem como que “intervenções” (segundo depoimento de Marco Ricca), nas quais se aproveitou o movimento local de pessoas.19 Na terceira e última parte do filme, após Ivan ficar sabendo dos negócios entre Fernanda (sua amante) e Giba, seu remorso, já acentuado, soma-se à sensação de ter sido enganado, de ser também uma vítima. A partir de então, o registro ganha uma perspectiva mais subjetivista. A psicologia de Ivan transborda, sucedem-se flashbacks sonoros, imagens sobrepostas e desfocadas das ruas da cidade. A câmera-na-mão fica ainda mais nervosa. Insuportavelmente angustiado, Ivan procura a polícia e relata todo o ocorrido, da contratação de Anísio até aquele momento. Na manhã seguinte a polícia vai com Ivan à casa de Estevão. Saem da casa Anísio e Giba. O sócio de Giba no prostíbulo, Norberto, aparece e reclama do tamanho da confusão que Giba arrumou, dizendo que se não fosse a presença de homens dele na delegacia, no momento em que Ivan fez a denúncia, 19 Sobre isso ou a semelhança com o documentário, ver o making of de O Invasor, No Encalço do Invasor, de Marcelo Trotta. (DVD O Invasor, Europa Filmes)
244
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
todos poderiam ter problemas com a justiça. Ele exige que Giba tome uma providência, que resolva o problema (algo que sugere a eliminação de Ivan). Logo depois teremos um plano de Marina adormecida, tendo possivelmente os últimos estertores após uma madrugada de sexo e drogas. O filme conclui de maneira pessimista, descrevendo a falência das instituições públicas e a impotência do indivíduo frente a redes de crime e corrupção que operam ocultas nos mais diversos setores da sociedade. Esse final reforça a idéia de um “realismo cínico”, não no sentido pejorativo, mas no de um realismo indiferente e pessimista, desinteressado em apontar caminhos. Esse mesmo realismo cínico, ligado ao apelo naturalista, está presente também em Cidade de Deus e Amarelo Manga, mas é em O Invasor e Contra Todos que ele talvez encontre sua maior expressão.20
Cidade de Deus (2002) O filme de Fernando Meirelles e Kátia Lund é uma adaptação do famoso livro de Paulo Lins sobre a história da Cidade de Deus, bairro da periferia carioca, surgido nos anos 60. Lins foi morador da região e colaborou no roteiro do filme, que centra o foco na escalada do crime organizado na Cidade de Deus, ao longo de três décadas. Dessa forma, embora o personagem de Buscapé (Alexandre Rodrigues) seja uma espécie de condutor da estória – e, como aponta Lúcia Nagib, alter ego do diretor21 -, dono do voice over que explica diversas passagens, o filme carece de um protagonista individual. Ao invés disso, confere o protagonismo à própria Cidade de Deus, concentrando-se ora num, ora noutro personagem da comunidade. Têm narrados trechos de suas vidas o jovem Buscapé, a gangue de criminosos conhecida como “Trio Ternura”, composta por Cabeleira (Jonathan Haagensen), Alicate (Jefechander Suplino) e Marreco (Renato de Souza), o psicopata Dadinho (Douglas Silva), mais tarde Zé Pequeno (Leandro Firmino da Hora), o bandido “gentefina” Bené (Phellipe Haagensen), o alcagüete Paraíba (Gero Camilo) e o herói Mané Galinha (Seu Jorge), entre outros. Cidade de Deus pode ser considerado um marco no período pós-retomada do cinema brasileiro, em virtude do grande arrebatamento de público, de prêmios e de crítica. Uma superprodução para os padrões brasileiros, o filme desencadeou acirrado debate ético e estético num momento em que o que mais se discutia eram mecanismos de incentivo, distribuição e exibição. Se por um lado Cidade de Deus foi saudado pelo apuro técnico, método de abordagem e vigor narrativo, por outro foi atacado pelo suposto reducionismo da questão social e esteticismo da violência. Nesta segunda trincheira encontravam-se estudiosos como Ivana Bentes, autora do polêmico ensaio “Da estética à cosmética da fome”, publicado em 2001, no qual opõe à “estética da fome”, proposta por Glauber Rocha nos anos 60, uma “cosmética da fome”, marcada pela edulcoração ou glamourização do sertão e da favela no cinema brasileiro dos anos 90. Segundo Bentes, enquanto Glauber Rocha propunha uma estética colada à natureza dos temas filmados, capaz de romper com uma ideologia colonial, cineastas na última década do século XX e 20 Outro filme digno de nota quanto a um suposto realismo cínico é Cronicamente Inviável (2000), de Sérgio Bianchi. 21 “A Língua da Bala: Realismo e violência em Cidade de Deus”, em Novos Estudos CEBRAP, no 67, nov/2003, p. 190.
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
245
início do XXI trabalham temas genuinamente brasileiros, outrora repletos de mitologia, sob uma ótica mercadológica, espetacularizante e desprovida de compromisso com a realidade social. Um dos grandes indícios desse fenômeno seria o recurso à pele brilhante dos personagens negros, obtida por meio de um produto cosmético, com o objetivo de otimizar a fotografia em ambiente de pouca luz no curta-metragem Palace II. Em 2002, Cidade de Deus tornou-se o alvo principal dos adeptos da teoria cosmética. De fato, no filme de Meirelles e Lund, a pele negra reluz e o suor brota abundante pelos poros. A maquiagem e a fotografia servem copiosamente ao propósito de exaltar uma suposta realidade da favela carioca. Muito do que foi visto como “cosmética da fome” pode ser lido, na minha opinião, como esforço naturalista no filme de Meirelles e Lund, esforço de recriação ou reprodução de fenômenos orgânicos, sensoriais e sociais. Segundo César Charlone, diretor de fotografia de Cidade de Deus, a fotografia do filme é totalmente naturalista: “a abordagem que quisemos fazer contraria outros trabalhos meus, muito expressionistas. Para Cidade de Deus, baseamo-nos em documentários e material jornalístico de época, e literalmente copiamos as referências”.22 A câmera na mão ágil invoca o jornalismo sensacionalista da televisão, algo que pode vir a conferir um grau suplementar de impressão de realismo ao filme. Muitas imagens são contundentes e nauseantes, como a dos assassinatos, dos cadáveres, da miséria da favela. Talvez a cena mais impactante seja a da punição que Zé Pequeno aplica em duas crianças da “Caixa Baixa”. Num ato de extrema crueldade, o traficante atira no pé de uma das duas crianças, e depois ordena a um menino, integrante de seu bando, que mate uma delas. A cena é profundamente dolorosa. Nela misturam-se o choro gritado da criança ferida, a hesitação melancólica que acomete o menino-carrasco e as risadas dos adultos facínoras. O tiro é inevitável, e apenas o fora-de-foco preserva o espectador de uma imagem ainda mais angustiante.23 Nesse panorama, dois aspectos sobressaem no que diz respeito ao apelo naturalista em Cidade de Deus: (1) o enfoque de uma comunidade periférica, de classe baixa, marginalizada, com base no romance de um ex-habitante da favela, e (2) a opção por atores não-profissionais, pessoas oriundas de comunidades periféricas do Rio de Janeiro. Esses dois aspectos estão relacionados, pois o segundo cola-se ao primeiro. Se o autor da obra ficcional escreveu-a com base em suas experiências pessoais, os intérpretes dos personagens, fictícios ou não, serão pessoas de fato familiarizadas com o contexto da favela. Convém termos em mente a gênese do livro de Paulo Lins. Cidade de Deus pode ser entendido como o desdobramento de uma pesquisa antropológica, capitaneada pela antropóloga Alba Zaluar, que contou com a participação de Lins.24 Obviamente, da pesquisa ao livro, e do livro ao filme, muito mudou. No entanto, é fato que a origem do filme de Meirelles está ligada, ainda que muito remotamente, a um esforço de pesquisa antropológica. Isso confere ao filme uma característica diferente da grande massa de filmes de ficção, de roteiro original ou adaptados de obras puramente ficcionais. Fernando Meirelles procura definir seu filme da seguinte forma: 22 Entrevista concedida em 18/02/2005. 23 A condenação baziniana da imagem obscena parece repercutir, dessa forma, em filmes como Latitude Zero ou Cidade de Deus. 24 Ver revista Primeira Leitura, p. 46. A jornalista Betina Bernardes comenta que, para Paulo Lins, “(…) foi como assistente de pesquisa da antropóloga Alba Zaluar que surgiu a oportunidade de escrever o livro que o tornou conhecido. (…) quando teve de preparar um relatório sobre crime e criminalidade nas classes populares coordenado por Alba.” (Ibid., p. 46)
246
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
Eu vejo [Cidade de Deus] mais como um filme político, uma crônica. Um filme antropológico, eu diria. Tem uma pegada de antropologia que eu gosto, que é mostrar aquela sociedade fechada. Isso é Brasil. Vinte por cento da população urbana vive fechada assim, não tem Estado. Eu mostrei o apartheid doméstico, o social e agora vou falar do apartheid global. Acabei, sem querer, tratando do tema da exclusão.25
Esse resquício antropológico, ainda que tênue, está na base do esforço naturalista de Cidade de Deus. Embora já se tenha criticado o filme por descrever a favela como um ecossistema fechado, convém refletirmos sobre até que ponto essa crítica procede, até que ponto a negligência por parte do Estado não cria, de fato, bolsões de não-cidadãos, lacunas sociais onde o poder público não aparece senão para exercer a repressão, deixando assim espaço para a consolidação de um poder paralelo. Além disso, não devemos ignorar que algumas trocas com o ambiente externo são sugeridas através das incursões regulares da polícia e do convívio de Buscapé com os colegas do jornal, entre outros momentos - a propósito, a fotografia jornalística entra no filme como elemento a mais de realismo. Não é verdade que os habitantes da favela estejam completamente desconectados do mundo externo. Mané Galinha é trocador de ônibus, Buscapé e os amigos vão com alguma freqüência à praia, um dos futuros integrantes da gangue de Zé Pequeno será um rapaz branco de classe média. Optou-se por privilegiar a escalada e o cotidiano do tráfico, mas não se pode afirmar que os personagens sejam completamente isentos de motivações que não as relacionadas ao crime. O desejo sexual e o relacionamento afetivo estão presentes desde a primeira parte do filme, nos anos 60. Bené tem um projeto de vida futuro fora da favela e do tráfico. Buscapé anseia por uma condição digna e demais aspirações da juventude. Enfim, Cidade de Deus é um recorte vigoroso de determinada faceta da sociedade brasileira, território de excluídos capaz de forjar personagens extremamente resignadas, para o bem ou para o mal. Por falar em personagens, concentremo-nos naquele que talvez seja o mais forte elemento de apelo naturalista no filme de Meirelles e Lund: o elenco. Buscapé, Dadinho, Cabeleira, Zé Pequeno e muitos outros, foram interpretados por jovens, crianças e adultos selecionados em favelas cariocas. Fernando Meirelles queria conferir uma dose suplementar de realismo ao filme, fazendo com que rostos anônimos, não-famosos, representassem figuras-chave do roteiro.26 Para tanto foi empreendido um árduo e extensivo trabalho de pesquisa e preparação de pessoal, envolvendo entrevistas com milhares de pessoas, seleção de algumas centenas e treinamento desses candidatos. Participaram da preparação dos atores não-profissionais Guti Fraga, fundador do Nós do Morro, grupo de teatro da comunidade do Vidigal, e Fátima Toledo. 2000 entrevistas com moradores de favelas cariocas resultaram na seleção de cerca de 200 pessoas, as quais foram preparadas como atores e atrizes ao longo de meses. Não obstante, o método utilizado excluía a leitura do roteiro, de modo a deixá-los cada vez
25 Op. Cit., p. 49. 26 Ver making-of de Cidade de Deus. Com atores desconhecidos interpretando os personagens, Meirelles acreditava que o espectador aceitasse com maior credulidade os papéis, uma vez que não haveria a premissa de que aquele personagem estivesse sendo interpretado por um determinado ator famoso.
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
247
mais livres e entregues ao improviso. Ao ser indagado se o elenco leu o roteiro, em entrevista concedida à revista Primeira Leitura, Fernando Meirelles responde: Não, foi tudo com improvisação. Olha, eu vou dizer: 100% do elenco, de alguma forma, tem algum nível de vivência com o tráfico, porque é impossível morar numa comunidade do Rio e não ter. Não dá para viver na comunidade sem conhecer isso. Então, a gente punha os garotos na sala e explicava a situação. “Vocês vão fazer isto: o Zé Pequeno deu uma dura no Neguinho porque ele matou na favela, e o Bené quer defender o Neguinho. Senão o Zé Pequeno vai matar ele. A situação é essa. Faz aí.” A gente repetia muito esses ensaios. Eu pegava o roteiro e já ia escrevendo os novos textos, as novas viradas …27
Conforme se verifica no making-of do filme, a idéia era obter o maior grau de espontaneidade possível, daí treinamentos e ensaios baseados muito mais em situações do que em linhas decoradas. Os diálogos, no filme, assim como no romance, têm papel fundamental: reproduzir a fala genuína das comunidades periféricas. Isso constituía uma vantagem do elenco. Deixá-los falar intuitivamente seria a opção mais acertada quando se objetiva o realismo-naturalismo das situações. Nesse sentido, o recurso a atores não-profissionais, com alguma ou muita familiaridade em relação aos personagens e situações do filme, remete, anacronicamente, ao cinema neo-realista italiano do pós-Segunda Guerra Mundial. Contudo, ao narrar com certa minúcia aspectos íntimos de determinados personagens, envolvendo sexo, violência e morte, o filme “desce” a um patamar mais naturalista. E, se por um lado carece do instrumental positivista próprio do naturalismo literário, também passa relativamente ao largo do enfoque socialista tão presente em filmes neo-realistas. Ainda sobre o aspecto da atuação, Lúcia Nagib observa: No que toca especificamente à composição do aspecto realista, o filme se distingue por esta que talvez seja sua característica mais notável: o elenco. Platéias do Brasil e do mundo se deixaram fascinar pela “autenticidade” de crianças e jovens que traziam estampada no rosto sua origem, que é a mesma de seus personagens: a favela. A aparição em carne e osso desses favelados legítimos, em suas variações de moreno e negro, sua beleza rude e freqüentemente seminua, sua existência tanto mais enfática quanto mais curta, como que acentua sua veracidade e lança a história fictícia de volta às suas bases reais. Sem dúvida, estamos diante da qualidade reveladora de um “real escondido” que outrora distinguiu os filmes do neo-realismo, mostrando as ruínas da guerra, ou do Cinema Novo, mostrando a miséria do sertão. Mas como não se trata de um documentário e os atores não são e nem poderiam ser os bandidos que representam, fica desde logo descartado o puro e simples decalque do real como base do aspecto realista.28
27 Op. Cit., p. 47. 28 Op. Cit., p. 185.
248
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
O que para Lúcia Nagib é a mais notável característica realista do filme, para mim pode ser também forte indicador de seu viés naturalista. Contudo, mais adiante em seu artigo, a autora observa que a opção por atores não-profissionais, oriundos da favela, não é suficiente como único ponto de sustentação do realismo do filme. A forma emerge como outro aspecto importante. Segundo Lúcia Nagib, a “violência” da montagem adotada em Cidade de Deus, de inspiração eisensteiniana, é igual ou superior à violência do próprio conteúdo das imagens, da mise-em-scène. A cena curta, vigorosa, e o corte rápido e cada vez mais freqüente, conseguem transpor, para o cinema, muito da simbologia e das sensações invocadas pelo texto de Paulo Lins. Dessa forma, Meirelles e Lund conseguiram atingir equivalentes da prosa de Lins, organizados sobre os diferentes eixos que caracterizam a enunciação cinematográfica. Eis como o cinema pode traduzir as regras de síntese, da métrica e da rima, próprias da poesia, incorporando na forma características do assunto. A violência da linguagem aqui conformada torna-se tão ou mais palpável que a violência das ações fotografadas. Cabe lembrar, aliás, que são raras as cenas de violência explícita. Quase não há sangue e não se vêem os costumeiros membros decepados dos thrillers americanos. É a violência da forma, sobretudo da montagem, a mais contundente.29
Em sua análise da forma, Lúcia Nagib acompanha a estrutura tripartite tanto do livro quanto do filme, desenhando o seguinte panorama: Na parte inicial, que chamei de “Idade de Ouro”, temos, convenientemente, o predomínio da luz dourada do sol que se liga ao alaranjado das ruas de terra batida da Cidade de Deus. Predominam também as tomadas externas, a câmera estável, os diálogos longos. Na segunda parte aumentam as tomadas internas e noturnas. À medida que se avolumam as mortes a câmera se desvencilha do tripé, e no assassinato de Bené as imagens se tornam indeterminadas pela posição pouco privilegiada da câmera e a fragmentação da luz estroboscópica do baile onde se dá a cena. A última parte, sobre a vingança de Mané Galinha contra Zé Pequeno, que estuprou sua namorada e matou membros de sua família, é a mais sombria. A câmera, freqüentemente na mão, torna-se instável à cata de um objeto que se esconde em ambientes mal-iluminados. Os cortes tornam-se ultravelozes e bruscos. O final do filme, como no livro, mostra a Caixa Baixa (as crianças delinqüentes) tomando o poder de Zé Pequeno e planejando uma série de assassinatos que indicam suas próprias mortes prematuras e o encolhimento ainda maior da história das futuras gerações.30
29 Op. Cit., p. 187. Antes a autora esclarece: “Não estando restrito à palavra, como a literatura, o cinema precisa, numa adaptação, distribuir os recursos lingüísticos pelos vários componentes da enunciação: performance, fotografia, montagem , diálogos, música etc.” (Ibid., p. 185). 30 “A Língua da Bala: Realismo e violência em Cidade de Deus”, em Novos Estudos CEBRAP, no 67, nov/2003, p. 188.
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
249
Na “favela-laboratório” de Cidade de Deus, indivíduos de origens e índoles diferentes trilham caminhos muitas vezes bifurcados. Buscapé, após ser despedido injustamente de um supermercado na cidade, bem que tenta o crime, mas fracassa pela absoluta falta de vocação. Seu destino será tentar novamente a vida honesta, realizando seu sonho de se tornar fotógrafo profissional. Conforme aponta Maria do Rosário Caetano, Zé Pequeno “parece nascido de compêndio lombrosiano”.31 O maior facínora da favela é descrito como psicopata desde criança, quando para ele matar já era um prazer. Figura radicalmente oposta a de personagens como Lúcio Flávio, no filme de Hector Babenco (1977),32 ou ainda Corisco ou Antônio das Mortes, em Deus e o diabo na terra do sol (1964), de Gláuber Rocha. O personagem de Mané Galinha, por outro lado, será aquele que se torna bandido por força das circunstâncias. Outrora trabalhador, Mané Galinha entrega-se ao crime movido pelo desejo de vingança. Mata tão bem ou até melhor que Zé Pequeno, embora seja descrito como um herói, para alguns um verdadeiro paladino da justiça. Sobre a figura do bandido em Cidade de Deus, Lúcia Nagib observa: Esgotadas as motivações políticas que outrora impulsionavam o bandido social, tal como mostrado em certos filmes do Cinema Novo, no novo cinema o criminoso não age senão por ressentimento e suas ações agressivas se voltam contra seus próprios pares, quando não contra si mesmo.33
Como demais filmes de sua época, Cidade de Deus não aborda frontalmente as causas da miséria retratada, nem tampouco nomeia responsáveis. Relações de poder e exploração que estão na origem da miséria e da violência são relatadas pontual e parcialmente (por exemplo, o relacionamento comercial entre o traficante e o policial corrupto), ou apenas sugeridas. O “como” é mais importante que o “porquê” – mais um fator de coincidência com o método naturalista na literatura. Nesse movimento de descrição da realidade nua e crua, potencializada pelos recursos cinematográficos, reside o viés naturalista em Cidade de Deus, sem dúvida alguma também produto de um artifício.34 Em tempo: vale a pena não perdermos de vista a afinidade estética do filme com o cinema clássico.35 31 Revista de Cinema, 03/2003 http://www2uol.com.br/revistadecinema/edicao29/cidadededeus/index. shtml. João Cezar de Castro Rocha critica o filme dizendo que “(…) Cidade de Deus atualiza clichês, estruturando a narrativa mediante um maniqueísmo difícil de aceitar. Zé Pequeno é transformado em verdadeiro tipo ideal lombrosiano. Ele é o indiscutível bandido mau, perverso, cruel, sem possibilidade aparente de regeneração: um psicopata, em suma.” (Folha de S. Paulo, Mais!, 29 de fevereiro de 2004, p. 7). Será mesmo tão difícil de aceitar os personagens apresentados por Cidade de Deus? 32 A propósito, Babenco insiste na figura do bandido romântico, idealizado, algo que afasta um filme como Carandiru de uma perspectiva naturalista, tal como entendida aqui. 33 Op. Cit., p. 189. 34 Na primeira página de seu artigo, Lúcia Nagib observa que “(…) a produção da aparente ‘espontaneidade’ reinante em ambas as obras [o livro e o filme] requer boa dose de artifício”. (Op. Cit., p. 181) 35 Lúcia Nagib observa: “Obviamente, Cidade de Deus está também afinado com os preceitos da montagem clássica, cujo objetivo não é o efeito realista, mas a “impressão de realidade”. A violência, seja do enredo ou da linguagem, não deixa de produzir aquele resultado visado pelo cinema comercial norteamericano, qual seja, a catarse ilusionista. O ritmo alucinante do romance se traduz aqui no corte rápido da montagem digital, à maneira da publicidade e do videoclipe. Na verdade, o filme tinha tudo para se alinhar à linguagem pós-moderna de um cinema de citações como o de Tarantino, que apenas “surfa” na superfície do real; ou reproduzir o truque fácil do cinema norte-americano atual, reduzido a uma repetição infinita de atrações que relegam a narrativa a segundo plano. Mas o filme, tanto quanto o
250
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
Esse aspecto é capaz de confundir o naturalismo literário, um projeto de “retrato” da realidade por meio da ficção, com o naturalismo hollywoodiano, que serve muito mais ao projeto ilusionista.
Amarelo Manga (2002) Amarelo Manga, de Cláudio Assis, talvez seja o filme no qual a tendência naturalista mais sobressai. Já no cartaz de divulgação do filme podemos ler a sentença: “o ser humano é estômago e sexo.” Espécie de máxima do filme, essa frase será repetida em pensamento pelo personagem do padre Eugênio (Jonas Melo), a caminho de sua paróquia. Em Amarelo Manga não há um ou dois protagonistas, mas um punhado deles, com trajetórias interligadas. Esses personagens são de classe baixa, habitantes de regiões pobres e decadentes da Recife contemporânea, descrita como uma espécie de Babilônia moderna. Dentre eles destacam-se Lígia (Leona Cavalli), a jovem dona de bar solitária, que vive às voltas com investidas sexuais dos clientes; Issac (Jonas Bloch), o taxista que alimenta uma espécie de tara por cadáveres; Wellington “Kanibal” (Chico Diaz), o funcionário do abatedouro, dividido entre a luxúria da amante Daisy (Magdale Alves) e a “santidade” de sua mulher, Kika (Dira Paes); e finalmente Dunga (Matheus Nachtergaele), o “faz-tudo” do Texas Hotel, homossexual apaixonado por Wellington. Esses personagens formam o núcleo da ação em Amarelo Manga, dividindo espaço com aqueles que vêm em segundo plano, porém não menos dignos de nota: Eugênio (Jonas Melo), o padre intelectual que se comporta quase como um sociólogo, surpreende os demais por sua heterodoxia e se distingue pela introspecção e racionalidade; o dono do hotel, seu Bianor (Cosme Soares), que morre “como um passarinho”; dona Aurora (Conceição Camaroti), uma hóspede solitária com sérios problemas respiratórios, e “Rabecão” (Everaldo Pontes), o funcionário do IML que satisfaz o estranho hobby do amigo Isaac. O desejo sexual é a mola propulsora da ação em Amarelo Manga. Dunga deseja Wellington. Wellington deseja tanto a amante Daisy quanto a mulher Kika. Isaac deseja Lígia, que é famosa por desprezar pretendentes. De certa maneira, todos os personagens sofrem uma interdição. Dunga não é correspondido. O triângulo Wellington, Kika e Daisy finalmente colapsa, e Lígia está à espera de um amante idealizado. Kika, reprimida pela doutrina evangélica, mudará sua postura radicalmente após a decepção com o marido. A pulsão sexual flui farta e vigorosa nos “subterrâneos” de Amarelo Manga, e referências à sexualidade dos personagens, quando não explicitadas, ficam sugeridas pelos diálogos. Pois essas duas funções biológicas tão básicas e análogas, o sexo e a alimentação, estão no centro da disputa entre os personagens. A carne é um elemento recorrente no filme de Assis. Carne humana, carne bovina, carne viva, carne morta. Personagens manipulam carne crua, separam a gordura, assam a carne. Não é à toa que Wellington trabalha num abatedouro. Ele mata e estripa bois, manipula e carrega carnes. Também mataria um homem. É dele a frase: “entre todas as livro, distancia-se de tal esquema pela importância conferida à narrativa. A grande realização de Paulo Lins foi justamente encontrar a linguagem para retratar o encontro da mais violenta modernidade com o potencial narrativo do mito. A conseqüência da bala e do corte brusco não foi a fragmentação da fábula, mas seu encolhimento, sua concentração”. (Op. Cit., p. 187)
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
251
espécies que habitam o mundo, o homem é o bicho que mais merece morrer.” Em Amarelo Manga, homens e animais estão no mesmo patamar, regidos por leis muito objetivas de sobrevivência e perpetuação. Isaac tem prazer tátil com a carne humana morta. Ele toca o sangue e o saboreia. Em conversas com Rabecão, ambos referem-se ao cadáver como “bicho”: “Cadê o bicho?”, “Vê se manera com o bicho aí.” Luiz Zanin Oricchio também recorre à metáfora da carne em sua crítica de Amarelo Manga: “(…) Tudo pulsa, tudo ama e tudo dói, como se a câmera se aproximasse da carne da cidade, de uma ferida aberta. O filme não é sobre a crise brasileira, o filme é a própria crise (…)”.36 Ricardo Daehn rendese a uma imagem similar: “Sem meio-termo, a estréia do pernambucano Cláudio Assis radicaliza situações e aponta para um cinema visceral, feito de sangue, pêlos e carne.”37 A câmera em Amarelo Manga enquadra algumas vezes de cima, em plano zenital. É uma câmera distanciada, superior, analítica, mas também onisciente e detalhista, capaz de flagrar personagens em momentos da maior intimidade. O filme tem razoável pendor documental. Já nas primeiras cenas o som over de uma emissora de rádio popular faz a trilha de fundo de sucessivas imagens das ruas de Recife, especialmente do centro velho, com seus tipos costumeiros, anônimos, vendedores de fruta, trabalhadores da zona portuária, ambulantes, etc. São esses tipos o verdadeiro foco de interesse de Cláudio Assis, que não hesita em alternar o registro, do documental para o ficcional e vice-versa, ao longo de todo o filme. Após o prólogo de Lígia no bar, quando a câmera ganha as ruas de carona no trajeto do taxista, Amarelo Manga declara suas intenções: este é um filme sobre tipos anônimos, sobre a região “baixa” do Recife, onde a adversidade e a degradação deixam muito mais clara a diferença entre a vida e a morte. A seqüência no abatedouro, em que um boi é assassinado, choca não só pela mudança de registro, pelo teor documentário, mas também pelo motivo óbvio de trazer à tona o tabu da morte, algo corriqueiro no universo dos abatedouros, mas que a sociedade burguesa prefere não ver nem ouvir falar. Amarelo Manga traz um olhar voltado para baixo, sobre o chão, e isso sem qualquer conotação pejorativa – talvez por isso essa câmera que viaja no teto. O filme de Assis fala de uma faceta vulgar, degradada, mas que também tem seu papel no tecido social. Perto do fim do filme, uma sucessão de imagens de apelo documentário (closes de anônimos, trabalhadores informais, etc.) reata com o extrafilme, com a realidade do Recife contemporâneo ou, mais ainda, com a naturalidade dos seres que habitam esse palco ruinoso. É nesse flerte documentário, na descrição da vida cotidiana e no exame dos desejos de cada personagem que flui o viés naturalista de Amarelo Manga. Sobre a mescla de ficção e documentário, Luiz Zanin Orichio comenta: “O filme mantém um fio ficcional que se abre para partes documentais, nas quais se vêem os rostos podres da população periférica do Recife, as cores da cidade, que se transforma em personagem”.38 Para José Geraldo Couto, (…) Se o vigor é o que mais chama a atenção em Amarelo Manga, isso se sustenta graças a um equilíbrio entre contrários. Em primeiro lugar entre ficção e documentário: os bairros de Recife por onde transitam os personagens não
36 O Estado de S. Paulo, 25 de novembro de 2005, Caderno 2. 37 Correio Braziliense, 25 de novembro de 2002. 38 O Estado de S. Paulo, 25 de novembro de 2002, Caderno 2.
252
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
são mero pano de fundo para a ação. Seus ambientes e tipos sociais tomam conta da tela.39
Amarelo Manga procede a um exame do baixo proletariado, da pobreza na metrópole nordestina. Um laboratório, nos moldes do que já propuseram os escritores naturalistas, Zola em especial. O personagem do padre Eugênio, por sua ligeira distinção, reforça esse caráter laboratorial. É um personagem perplexo, que acrescenta às tímidas relexões da personagem Lígia indagações de maior profundidade acerca do mundo a seu redor. Uma reflexão do padre Eugênio resume com propriedade o viés naturalista presente em Amarelo Manga, remetendo-nos a uma discussão que já esteve no escopo do naturalismo literário, o embate entre razão e instinto, livre-arbítrio e contigências biológicas: O ser humano? O ser humano é estômago e sexo. E tem diante de si uma condenação: terá obrigatoriamente de ser livre. Mas ele mata e se mata, com medo de viver. Por isso meus olhos estão cegos, para não enxergar a gosma desses pecadores. Meus ouvidos escutam uma voz que diz: “Padre!” Morrer não dói, morrer não dói! Estamos todos condenados. Eternamente condenados. Condenados a ser livres.
Vale a pena observarmos como a repercussão do filme, não só no âmbito da crítica profissional, mas também da crítica amadora e do grande público, enseja a sensação de que uma tendência vem se estabelecendo no cinema brasileiro atual. Vejamos as considerações de Wesley Pereira de Castro: Ainda que a encenação da morte de Bianor (Cosme Prezado Soares), as declarações que os personagens fazem diretamente para a câmera e a retratação estática de figurantes nordestinos na seqüência final surjam como maneirismos excedentes à rigorosa coesão naturalista buscada por Cláudio Assis, o frenético travelling circular que persegue Wellington quando ele penetra voluntariamente numa Igreja Quadrangular do Senhor restitui a magnificência (auto-)denuncista desta obra enquanto tendência singular de um novo cinema brasileiro, tendência esta que depende da exacerbação de palavrões e de situações chulas para exprimir, visando incomodar os moralistas tradicionais que, conforme faz Kika, só exigem “respeito” em lugares ditatorialmente sacralizados e ignoram as atrocidades pecaminosas que, supostamente, não dizem respeito a suas manias e infortúnios pessoais.40
Castro refere-se explicitamente a uma “coesão naturalista” buscada por Cláudio Assis, e menciona uma suposta tendência do novo cinema brasileiro que, a meu ver, é justamente uma tendência naturalista. Notemos como o filme provoca mais ou menos a mesma impressão na crítica de Aline Ebert:
39 Folha de S. Paulo, 27 de julho de 2003, Ilustrada. 40 Ver http://www.aracaju.com/pagina.php?obj=cinema&var=1984.
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
253
Amarelo Manga mostra o que muitos filmes brasileiros têm explorado ultimamente: a miséria brasileira para grande parte da burguesia ver. Cenas fortes de um abatedouro ou de um aficionado por cadáveres mexem com o estômago da gente. E a cada cena, a dúvida: o que está por vir? Sim, mostra trash da vida real.41
Em resumo, o viés naturalista em Amarelo Manga se faz presente nas seqüências de caráter documental, como a do abate de um boi, na manipulação das peças de carne, na mostra dos genitais, na câmera indiscreta que percorre o teto, ocupando todo o quadro com o chão. O suor, os fluidos corporais, a engraçada cena do engasgo e a tétrica seqüência da necrofilia reforçam o apelo naturalista e abrem algumas comportas para o grotesco e o escatológico no filme de Cláudio Assis. Em inúmeras cenas há algo amarelo, uma parede, uma geladeira, um automóvel. Um dos próprios personagens do filme cita um poema de Renato Carneiro Campos, escritor e crítico recifense, que segundo Leandro Galvão “resume bem a virulência e crueza do filme Amarelo Manga (…)”: Amarelo é a cor das mesas, dos bancos, dos tamboretes, dos cabos das peixeiras, da enxada e da estrovenga. Do carro de boi, das cangas, dos chapéus envelhecidos, da charque. Amarelo das doenças, das remelas dos olhos dos meninos, das feridas purulentas, dos escarros, das verminoses, das hepatites, das diarréias, dos dentes apodrecidos … Tempo interior amarelo. Velho, desbotado, doente.42
Contra Todos (2003) “Pare de olhar e comece a enxergar a realidade.” Já no slogan do cartaz é sugerida a orientação do filme de Roberto Moreira, interessado sobretudo na falência das falsas aparências. Contra Todos joga com a realidade das coisas. Em texto de Luiz Carlos Merten, crítico de O Estado de S. Paulo, Moreira declara: “Nosso país é cheio de contradições. Não existe um Brasil, uma só realidade. Existem visões da realidade e a minha quer mostrar o País que as aparências muitas vezes mascaram”.43 O filme abre com uma seqüência familiar típica, num suposto bairro de classe média baixa da Grande São Paulo. Com o desenrolar da estória, emerge uma outra realidade, subterrânea. Uma realidade naturalista, orgânica, instintiva, das necessidades básicas e pulsões animais. Uma realidade que era encoberta pelo véu da religião e das relações familiares estereotípicas. O filme narra episódios na vida de um grupo de pessoas de classe média baixa. Uma família e alguns agregados. O chefe da família, Teodoro (Giulio Lopes), pai religioso e conservador, é na verdade um pistoleiro, um matador de aluguel que tra41 http://www.dissonancia.com/38-04.htm. 42 “Amarelo Manga”, em Correioweb, Brasília, 18 de fevereiro de 2005: http://divirta-se.correioweb.com.br/ videos.htm?codigo=752. 43 Luiz Carlos Merten. “Contra Todos lota platéia no Festival de Berlim”, em O Estado de S. Paulo, 11/02/2004: http://www,estadao.com.br/divirtase/noticias/2004/fev/11/60.htm.
254
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
balha à noite matando gente na periferia paulistana. De dia, freqüenta o culto evangélico. Tido como católico fervoroso, tem uma das colegas de culto como amante. Waldomiro (Aílton Graça), o Miro, é seu parceiro de pistolagem, carcaterizado como bandidão simpático e destemido. Cláudia (Leona Cavalli), a mulher de Teodoro, é descrita como infeliz e priomíscua. Divide-se entre a vida doméstica e o adultério com um freqüentador da casa. Parece inquietar-se com a situação de farsa, uma vez que é uma das poucas pessoas que sabe como o marido realmente ganha a vida. Soninha (Sílvia Lourenço), a filha, é uma típica jovem em crise, em período de explosão hormonal e questionamento existencial. Meio dark, meio punk (ela lembra um pouco a Marina de O Invasor, numa versão de classe média baixa), perambula entre a periferia e o centro paulistano, walkman a tiracolo. No filme de Moreira a carne também terá um papel fundamental, assim como em Amarelo Manga. Não só a carne do açougue, sanguinolenta, manipulada pelo açougueiro enquanto este explica as técnicas de abate de uma galinha para o preparo de galinha ao molho pardo, mas também a carne humana, lasciva, desejosa, suarenta e ensangüentada dos personagens do filme. O naturalismo se impõe uma vez mais, nas cenas extremas de assassinato e de sexo, cenas sem corte, totais. Como outros filmes dessa tendência, Contra Todos também se encerra na chave da tragédia ou do anticlímax (à exceção de Cidade de Deus, de todos o mais afeito ao modelo hollywoodiano). Enfim, um desnudamento completo das relações humanas. Segundo Luiz Carlos Merten, “Aos que definem Contra Todos como um Dogmabrasileiro, Moreira diz que é um Dogma com armas”.44 O crítico reconhece no filme de Moreira elementos de O Invasor, de O Homem do Ano e de Amarelo Manga. Essa observação corrobora minha interpretação de que uma certa tendência vem ganhando forma no cinema brasileiro atual. A meu ver, contudo, Contra Todos está muito mais próximo de Amarelo Manga e O Invasor do que de O Homem do Ano.
Conclusão Latitude Zero, Cidade de Deus, O Invasor, Amarelo Manga e Contra Todos têm, cada qual a seu modo, uma intenção naturalista, remotamente ligada ao naturalismo literário, manifesta sobretudo no tratamento realista das contradições sociais no Brasil. Só isso? Não. Poder-se-ia objetar: esses filmes não são apenas naturalistas; eles são mais que isso, apresentam diversas outras matrizes. De fato, como diversas outras obras contemporâneas, esses filmes não cabem na camisa-de-força de uma única escola, quiçá originária do século XIX. Os filmes aqui analisados retiram sua força do vigor realista com que descrevem personagens (o empresário corrupto, o policial fora-da-lei, o traficante de drogas, o pistoleiro de aluguel, o homossexual, a mulher brasileira) e situações de crise (as disputas na favela, a vida na periferia da cidade grande ou nos confins do país). Concentram-se no relato do “como”, muito mais do que no “porquê” do desenvolvimento dos conflitos. Nessa trajetória, valem-se de métodos documentários, referências jornalísticas 44 Ibid. Dogma 95: movimento encabeçado pelos cineastas dinamarqueses Lars von Trier (Os Idiotas, 1998) e Thomas Vinterberg (Festa de Família, 1998), que preconizava um cinema realista, desprovido de efeitos ou manipulações. Filmes de baixo orçamento, feitos em vídeo ou com mescla de suportes ilustrariam as propostas do movimento. Para olhares mais atentos, o realismo do Dogma revelar-se-ia outro artifício, mais um “realismo” entre outros tantos, e eventualmente uma bela manobra de propaganda.
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
255
e experiências dos que viveram as situações narradas ou similares. Não seria tudo isso um método equivalente ao empregado na literatura naturalista? Para melhor compreendermos o cruzamento entre o naturalismo literário e o cinema brasileiro atual, manifesto numa tendência naturalista deste último, convém remetermos às palavras de Zola em “O Senso do Real”: Fazer mover personagens reais num meio real, dar ao leitor um fragmento da vida humana, aí se encontra todo o romance naturalista. (…) Hoje [Europa, séc. XIX], a qualidade mestra do romancista é o senso do real. (…) O senso do real é sentir a natureza e representá-la tal como ela é.45
Repito que não quero apontar o surgimento de uma escola no cinema brasileiro atual, mas sim a presença de elementos herdeiros do naturalismo literário em filmes brasileiros recentes. Dessa forma, acuso o surgimento de uma tendência, ou mesmo orientação estética, a qual pode vir ou não a se tornar, no futuro, uma escola ou movimento. Aquilo que já se apontou como uma “cosmética da fome” pode ser, a meu ver, sintoma da tendência naturalista no cinema brasileiro. Em seu artigo “Naturalism and the Aesthetics”, Anthony Savile propõe o reexame do naturalismo enquanto filosofia e escola literária. Segundo o autor, a força do pensamento cientificista do século XIX pode ter comprometido um melhor aproveitamento do projeto naturalista na literatura. Após profunda análise dos naturalismos literário e filosófico, passando pelo pensamento de Kant, Hume e Spinoza, entre outros, Savile propõe um naturalismo reformado, menos atrelado ao método e projeto científicos. Para ele, o sucesso da obra de Zola talvez derive menos de sua proximidade ao programa naturalista do que de sua conformidade com objetivos mais atinentes e humanos. As propostas de Savile de releitura do naturalismo, e da possibilidade de sua ocorrência livre do jugo cientificista, abrem maior espaço para o tema aqui discutido, o de elementos da estética naturalista presentes em filmes brasileiros recentes. Cumpre notar que o sucesso dos filmes aqui analisados é paralelo à escalada do cinema documentário no Brasil. Pela primeira vez em muito tempo o documentarismo brasileiro tem conseguido conquistas relevantes em termos de comunicação com o público, por meio do trabalho de cineastas já consagrados, como Eduardo Coutinho, ou de representantes talentosos de uma nova geração, como João Moreira Salles. De toda maneira, isso significa que, seja no filme documentário, seja no filme de ficção, há interesse cada vez maior nos temas da realidade brasileira, em exibição na sala escura.
*** O texto acima foi escrito como pesquisa para a comunicação “A possible naturalistic tendency in the contemporary Brazilian cinema”, apresentada na conferência internacional New Latin American Cinemas: Contemporary Cinema and Filmmaking, ocorrida na Universidade de Leeds, Inglaterra, de 28 a 30 de junho de 2005. Desde então, alguns lançamentos me parecem confirmar as minhas suspeitas. Por isso, tenho mantido a essên45 Émile Zola, Do Romance, p. 26.
256
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
cia de minhas considerações. Dentre os demais filmes brasileiros contemporâneos com traços naturalistas, ausentes do estudo acima por motivo de espaço, ou lançados depois de minha participação na conferência, estão Cidade Baixa (2005), de Sérgio Machado, Quanto Vale ou é por Quilo? (2005), de Sérgio Bianchi, e Baixio das Bestas (2007), segundo longa de Cláudio Assis. Em Quanto Vale ou é por Quilo?, Sérgio Bianchi dá continuidade ao projeto cinematográfico iniciado em Cronicamente Inviável. Assim como seu primeiro longa-metragem, Quanto Vale ou é por Quilo? é um filme-tese polêmico e polemista que pretende uma investigação da realidade brasileira. O foco recai especialmente sobre as Organizações Não-Governamentais (ONGs), neste exame de uma “indústria da miséria” capitaneada por uma elite parasitária que recruta soldados entre os próprios oprimidos. A polêmica e a narrativa fragmentada tornaram-se marcas de Sérgio Bianchi. Quanto Vale ou é por Quilo? recorre a uma retórica documentária que lembra algo do Ilha das Flores (1989) de Jorge Furtado, outro filme (curta-metragem) de viés naturalista em determinado nível. O filme de Bianchi alterna passado e presente para mostrar a origem e a permanência de mecanismos viciados na estrutura social brasileira. O filme demonstra que a lógica escravocrata persiste no Brasil capitalista contemporâneo. Sketches baseados em “fatos reais”, relatos judiciais do período colonial (Vice-Reinado), pesquisados no Arquivo Nacional, fazem contraponto a crônicas do início do século XXI. Em Quanto Vale ou é por Quilo? a miséria, a sujeira, vômitos e secreções enfatizam o discurso provocador – como na seqüência em que os mendigos vomitam após a ingestão de beberagem preparada por charlatão. Os benemerentes sentem nojo daqueles que “beneficiam”, mas as vantagens auferidas no processo compensam o esforço. Nojo de uma sujeira que remete ao medo abordado pela antropóloga britânica Mary Douglas em seu livro Pureza e Perigo (1966), pensamento comentado recentemente por Peter Burke no artigo “Os Sentidos da Sujeira”.46 Segundo Burke, deve-se a Mary Douglas a “sugestão de que aquilo que enxergamos como sujo depende de nossa cultura e revela muito sobre nossos temores conscientes e inconscientes.”47 Por trás dessa sensação de nojo estaria a incapacidade de impor uma ordem. Dessa forma, ao descrevermos algo ou alguém como sujo, seria sensato que fizéssemos a seguinte pergunta: “Do que eu tenho medo?” A sujeira descrita nos filmes brasileiros de tendência naturalista parece carregar essa indagação, marcando um conflito de territórios. No caso de Quanto Vale ou é por Quilo?, nojo de uma sujeira constantemente varrida para debaixo do tapete. Baixio das Bestas parece representar o ápice do naturalismo no cinema brasileiro contemporâneo, o que destaca Cláudio Assis como o diretor aparentemente mais seduzido pelo estilo no momento. Em Baixio a câmera deixa Recife para se concentrar na zona rural pernambucana, nos eventos e personagens que rodeiam um velho que explora sexualmente sua neta. O plano zenital – ou câmera vertical – se intensifica neste segundo longa de Cláudio Assis, reforçando o interesse do cineasta pelo “chão”, pelo reles, pelas coisas baixas, animais e terrenas. Num procedimento ilustrativo dessa atração pelo “baixo”, mais de uma vez a câmera passeia pelo teto enquadrando o chão e revelando os personagens pelo topo de suas cabeças. Os fluidos corporais, o sexo, os odores, as peles, as texturas, tudo isso é realçado em meio a cenas de violência generalizada, verbal 46 Folha de S. Paulo, Mais!, 5/8/2007, p. 3. 47 Ibid., p. 3.
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
257
ou física, estupro, sevícia, pedofilia, etc. O baixo corporal e procedimentos de higiene íntima são também descritos em detalhes e com “naturalidade”, como na cena em que a prostituta depila os pêlos pubianos. O filme mistura a ficção a seqüências documentárias do sertão nordestino (o corte de cana, o transporte dos bóias-frias), e nenhuma cena resume melhor o espírito de Baixio das Bestas quanto a da boca desdentada sorvendo o caldo de cana - qualquer outra, relativa a sexo e violência, seria muito óbvia. Os jovens de classe média que barbarizam a comunidade lembram os drugues de Laranja Mecânica (Stanley Kubrick, 1971), fato confirmado pela seqüência do estupro no teatro abandonado, em que a câmera desvia-se dos atores para as suas sombras projetadas na tela de cinema (eis um momento de certa censura). Os personagens de Caio Blat (o playboy irresponsável) e de Matheus Nachtergaele (o intelectual psicopata) colocam Baixio das Bestas como uma espécie de “Laranja Mecânica do agreste”. A “imundície moral” dos personagens de Baixio chega a ser mais aguda que em Amarelo Manga. Mais uma vez, Assis pontua sua ficção com momentos documentários para revelar uma realidade “nua e crua”. O filme se ressente, no entanto, de um roteiro mais “frouxo” que o de Amarelo Manga, ao mesmo tempo em que se concentra ainda mais na descrição dos “fenômenos” naturais da torpeza e dos apetites corpóreos. Talvez seja isso mesmo que impeça Baixio de ser exatamente um filme brilhante. No limite, Cláudio Assis soa como um grande moralista, grande censor de uma realidade bestial. Revela para condenar, como o exame que diagnostica o cancro. Por tudo isso, Baixio das Bestas sobressai como um dos mais representativos filmes brasileiros de tendência naturalista dos últimos anos – talvez já num trajeto de declínio, anunciando sinais de fadiga e esgarçamento. O debate aqui levantado, no entanto, está longe de ser novidade. Ao analisar o filme policial brasileiro do final dos anos 70, José Mário Ortiz Ramos faz um paralelo com o cinema americano, originário do romance policial moderno que surge em torno dos anos 20 nos EUA, um estilo de narrativa onde “A ‘ação’ substitui o ‘discurso’, a plasticidade é fundamental, a narrativa deve ser naturalista e a ponte com o cinema é direta”.48 Ortiz Ramos observa que, no Brasil dos anos 70, “com o início da ‘abertura’ política e modernização do audiovisual, o cinema e a TV vão se valer dos chamados ‘romances-reportagens’, forma específica de literatura com temática policial (…)”. O autor menciona ainda que, para Flora Sussekind, esse tipo de literatura que irrigou o cinema seria “parte de um eterno retorno do naturalismo, tendência que atravessa a escritura romanesca brasileira no século XIX, nos anos 30 e mais recentemente na década de 70”. Na esteira do pensamento de Sussekind, Ortiz Ramos comenta que Nesta sua terceira aparição, o naturalismo aparece fundido com o universo da informação e do jornal: ‘Literatura de olho no jornalismo’, o novo naturalismo dá mais ênfase à informação que à narração. O romance-reportagem obedece aos princípios jornalísticos da novidade, clareza, contenção e desficcionalização.49
São exemplos dessa “terceira aparição naturalista” no cinema brasileiro do final dos anos 70 filmes inspirados no noticiário como Lúcio Flávio: Passageiro da Agonia (1977) e 48 José Mário Ortiz Ramos, Cinema, Televisão, Publicidade, p. 158. 49 Ibid., p. 158.
258
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
Pixote: A Lei do Mais Fraco (1980), de Hector Babenco, ou República dos Assassinos (1979), de Miguel Faria Jr. Em sua análise de República dos Assassinos, Ortiz Ramos observa como O locutor pontua a narrativa anunciando as entrevistas com os participantes da história dez anos depois – portanto, na época da feitura do filme –, fornecendo as “fichas” desses personagens como se fossem reais, procurando aumentar o teor de verossimilhança através deste recurso de simular depoimentos para um documentário.50
Nos filmes de Babenco, o recurso a elementos estilísticos do documentário também pode ser verificado. Para José Mário Ortiz Ramos, em República “A narrativa ‘explicitamente’ ficcional apresenta algumas seqüências calcadas na literatura, ou drama teatral, de forte cunho naturalista, conforme se pode observar, logo no início do filme de Miguel Faria Jr., o diálogo entre os personagens do travesti Eloína e seu namorado Carlinhos.51 Ortiz Ramos também comenta a legitimação cultural e política do gênero por meio do acionamento do naturalismo e da preocupação social na minissérie televisiva Bandidos da Falange (1983), enaltecida por seus realizadores em virtude da extensa pesquisa jornalística e da filmagem em locações “reais” como uma prisão desativada, onde não era preciso forjar nem mesmo as goteiras e rachaduras na parede.52 Ismail Xavier já teria abordado a filmografia analisada por Ortiz Ramos como parte de um “naturalismo de abertura”, na qual teríamos a recorrência de um “‘policial-político de cunho naturalista’, que se valeria de ‘fórmulas tradicionais’ e conseguiria apenas uma ‘verdade de aparência’”.53 Esse cenário parece repetir-se no cinema brasileiro contemporâneo, com algumas alterações sobretudo de ordem político-ideológica, porém mantendo um substrato comum que ainda se alimenta do conflito de classes. A idéia de uma “verdade de aparência” merece destaque, uma vez opondo-se a “aparência de verdade”. Curioso perceber que o naturalismo no filme policial-reportagem brasileiro do final dos anos 70 podia ser visto como possível entrave a uma comunicação mais plena e sedutora com o público. Hoje não mais. Eventualmente cooptado pela publicidade, o naturalismo torna-se elemento de atração nos filmes analisados desde o início deste texto, alguns deles similares aos filmes da virada dos anos 70 para 80 analisados por Ortiz Ramos.
Bibliografia AMARELO MANGA. Site oficial do filme. AUMONT, Jacques; MARIE, Michel. Dicionário Teórico e Crítico de Cinema. Campinas: Papirus, 2003. AZEVEDO, Aluísio. O Cortiço. São Paulo: O Estado de S. Paulo/Klick, 1999.
50 51 52 53
José Mário Ortiz Ramos, Cinema, Televisão e Publicidade, p. 160. Cf. José Mário Ortiz Ramos, Cinema, Televisão e Publicidade, p. 160. José Mário Ortiz Ramos, Cinema, Televisão e Publicidade, p. 170-1. Ismail Xavier, “Do Golpe Militar à Abertura: A Resposta do Cinema de Autor”, em O Desafio do Cinema, Rio de Janeiro, Zahar, 1985, p. 38-9, apud José Mário Ortiz Ramos, Cinema, Televisão e Publicidade, p. 172.
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
259
AZEVEDO, Reinaldo e BERNARDES, Betina. “O diabo na terra do sol”. In: Primeira Leitura, n. 7, set/2002, p. 42-49. BARBOSA, Neusa. “Cidade de Deus: a estética, a cosmética e a fome de discussão”. In: Cineweb, 21/01/2003, http://www.cineweb.com.br/index_textos.php?id_texto=47. BENTES, Ivana. “‘Cosmética da fome’ marca cinema do país”. In: Jornal do Brasil, 8/07/2001, texto obtido em http://jbonline.terra.com.br/destaques/glauber/glaub_arquivo4.html. CAETANO, Maria do Rosário. “Cidade de Deus”, em Revista de Cinema, 3/03/2003, http:// www2.uol.com.br/revistadecinema/edicao29/cidadededeus/index.shtml. ______. “Cidade dos Homens ganha as telas da Globo” (Copyright O Estado de S. Paulo, 15/10/2002). In: Observatório da Imprensa, 16/10/2002, http://observatorio.ultimosegundo. ig.com.br/artigos/asp1610200295.htm. CASTRO, Wesley Pereira. “Amarelo Manga”. In: Aracaju.com, http://www.aracaju.com/pagina.php?obj=cinema&var=1984. EBERT, Aline. “Amarelo Manga”. In: Dissonancia.com, http://www.dissonancia.com/38-04.htm. ÉPOCA. “A cosmética da fome”, edição 223-ago/02, obtido em www.epoca.com.br. GALVÃO, Leandro. “Amarelo Manga”, em Correioweb, Brasília, 18 de fevereiro de 2005: http:// divirta-se.correioweb.com.br/videos.htm?codigo=752. LOBO, Rodrigo. “O Invasor”, em Revista Autor, ano II, n. 10, abril de 2002: http://www.revistaautor.com.br/artigos/2002/W10/RLB_10.shtml. NAGIB, Lúcia. O Cinema da Retomada. São Paulo: Editora 34, 2002. ______. “A língua da bala: realismo e violência em Cidade de Deus”, em Novos Estudos. São Paulo: CEBRAP, n. 67, nov/2003, p. 181-191. RAMOS, José Mário Ortiz. Cinema, Televisão e Publicidade. São Paulo: Annablume, 2004, 2. ed. ROCHA, João Cezar de Castro. “Dialética da Marginalidade – Caracterização da Cultura Brasileira Contemporânea”, em Folha de S. Paulo, Mais!, p. 4-8. SAVILE, Anthony. “Naturalism and the Aesthetic”. In: The British Journal of Aesthetics, v. 40, n. 1. Oxford: Oxford Univ. Press, jan/2000, p. 46-63. SODRÉ, Nélson Werneck. O Naturalismo no Brasil. Belo Horizonte: Oficina de Livros, 1992. SOUSA, Ana Paula. “Uma estética para o cinema brasileiro”. In: Revista de Cinema, 8/03/2005. http://www2.uol.com.br/revistadecinema/edicao31/estetica/index.shtml. ZOLA, Émile. O Romance Experimental e O Naturalismo no Teatro. São Paulo: Perspectiva, 1982. ______. Do Romance. São Paulo: Imaginário/USP, 1995.
* Alfredo Luiz Paes de Oliveira Suppia é jornalista (PUC-Campinas), especializado em Letras e Literatura Brasileira (Unianchieta) e Jornalismo Científico (Labjor-Unicamp), mestre e doutor em Multimeios (IAUnicamp).
260
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
A crítica de cinema, a chegada do som e o futuro do cinema LUCIANA CORRÊA DE ARAÚJO*
D
esde meados da década de 1920 acontecia em Pernambuco o que mais tarde seria denominado de “Ciclo do Recife”, um entre vários ciclos regionais do cinema silencioso brasileiro. Em geral o que se costuma valorizar nesses “ciclos” é a realização de filmes e, mais especificamente, de filmes de enredo. Pouco espaço é dado aos filmes “naturais” (como eram chamados no Brasil os filmes de não ficção) e a outras esferas da atividade cinematográfica, como o mercado exibidor e a atividade crítica. Pesquisando o cinema silencioso em Pernambuco,1 tivemos a surpresa de encontrar no final da década de 1920 uma produção crítica até então desconhecida para nós, que se afirma entre os anos de 1929 e 1930, nos jornais A Província e no Jornal do Commercio. A atuação de jovens profissionais como Nehemias Gueiros, Evaldo Coutinho e Danilo Torreão marca o que provavelmente constitui o primeiro momento de exercício da crítica de cinema especializada nos jornais do Recife, substituindo as resenhas esparsas e as matérias de divulgação redigidas por repórteres ou por especialistas de outras áreas, como o teatro. Em julho de 1929, surge no Jornal do Commercio a coluna semanal de Nehemias Gueiros. Opinativo, manejando expressivo repertório cinematográfico e leitor de diversas 1
Este artigo é desdobramento da pesquisa de Pós-Doutorado realizada com bolsa Fapesp.
publicações, Gueiros é o primeiro crítico cinematográfico a surgir no Jornal do Commercio, dando início a um período em que começam a se firmar jornalistas especialmente dedicados à área, como é o caso também de Danilo Torreão (primo do realizador Ary Severo) e Pedro Gyrão, em A Província. Em 1930, a coluna diária “Telas e palcos”, do Jornal do Commercio, publica resenhas assinadas por variados autores, a julgar pelas diversas iniciais que aparecem (E.C., E.G., R.). Uma dessas iniciais, “E.C.”, corresponde ao então estudante de Direito Evaldo Coutinho, um dos colaboradores mais freqüentes entre os meses de abril e outubro de 1930. Esta seria a primeira experiência de Coutinho como crítico de cinema, sinalizando um interesse que o acompanharia por décadas e o levaria a lançar, em 1972, o livro A imagem autônoma. Acompanhando a atividade da crítica pernambucana entre 1929 e 1930, encontramos referências e mesmo intercâmbio com as duas principais publicações especializadas da área, ambas do Rio de Janeiro: as revistas Cinearte e O Fan. No jornal A Província, Danilo Torreão e Pedro Gyrão não só assinam resenhas de dos filmes em cartaz como também demonstram especial empenho em divulgar a produção local, em notas informativas, reportagens sobre as filmagens em andamento e entrevistas com diretores e artistas dos filmes Destino das rosas (Ary Severo, 1930) e No cenário da vida (Luis Maranhão, 1930). Nessas reportagens de Gyrão e Torreão fica clara a proximidade com as propostas e o formato desenvolvido pelos jornalistas cariocas Adhemar Gonzaga e Pedro Lima na coluna “Cinema brasileiro”, em Cinearte. Os esforços de Danilo Torreão para se aproximar do modelo da revista e por ela ser reconhecido podem ser acompanhados nas próprias páginas de Cinearte. Leitor assíduo, Torreão envia cartas e textos à revista, que são respondidos na seção de correspondência “Pergunte-me outra …”. Em abril de 1930, por exemplo, uma das respostas aos leitores é dirigida a Danilo (Recife): “Gonzaga agradece. A crítica está boazinha, Danilo. Continue! Apreciei as notícias que me dá de Cinema Brasileiro aí. Continue fazendo publicidade na sua seção de Cinema. Porque o Cinema Brasileiro ainda vai mostrar para o que vale”.2 Nehemias Gueiros e Evaldo Coutinho, por sua vez, mostram-se atentos à discussão estética promovida pelo Chaplin Club, grupo formado no Rio de Janeiro pelos jovens Octavio de Faria, Plínio Sussekind, Cláudio Mello e Almir Castro. Considerado o primeiro cineclube brasileiro, nos moldes dos congêneres franceses, o Chaplin Club promovia exibições de filmes, sempre seguidas de discussões, além de editar a publicação O Fan com longas resenhas sobre filmes e artigos em torno da linguagem cinematográfica. Com nove números publicados entre agosto de 1928 e dezembro de 1930, O Fan abre espaço no Brasil para a crítica ensaística de cinema, que se pretende mais aprofundada do que as resenhas e comentários veiculados em jornais e revistas, em geral mais atrelados ao gosto do público médio e aos ditames do circuito comercial. A defesa irredutível do cinema mudo e, honrando o nome, o culto a Chaplin como gênio maior, se tornariam as duas marcas registradas do Chaplin Club, que permanece em atividade de 1928 a 1931, ano em que o cinema sonoro não é mais uma ameaça a ser combatida mas uma realidade já consolidada. No Recife, a relação entre os críticos Nehemias Gueiros e Evaldo Coutinho com o grupo carioca não se dava apenas por meio da leitura. Entre os colaboradores d’O Fan estava Aluízio Coutinho, irmão de Evaldo e amigo de Nehemias. Segundo dr. Evaldo, 2 “Pergunte-me outra …”. Cinearte, ano V, n. 214, 2 abr 1930, p.20.
262
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
seu irmão estudava Medicina no Rio de Janeiro e costumava levar os exemplares de O Fan sempre que viajava de férias para o Recife.3 Para além das relações pessoais (e das facilidades de acesso aos exemplares daí decorrentes), fica evidente na crítica local a repercussão das idéias do Chaplin Club. Apesar de estar longe da popularidade e penetração de Cinearte, com distribuição em todo o país, também O Fan se mostra referência de peso na crítica pernambucana da época, indicando uma área de influência maior do que poderia sugerir a restrita circulação do periódico e um certo isolamento que caracterizava a atuação do grupo. (cf. XAVIER, 1978; e MELLO, 1991) Naquele momento, final dos anos 1920, a atuação do Chaplin Club sinaliza uma mudança no comportamento da elite intelectual em relação ao cinema – mudança na qual se inserem tanto Nehemias Gueiros quanto Evaldo Coutinho. Então estudantes na tradicional e prestigiada Faculdade de Direito do Recife, eles são provavelmente os primeiros nomes da elite cultural recifense a se dedicar sistematicamente à crítica cinematográfica. Em 1929, Gueiros é responsável pela edição da página dominical “Cinematografia” além de ser editorialista do Jornal do Commercio. Nas décadas seguintes mantém a ligação com o jornal, como colaborador e também como consultor jurídico. É com conhecimento de causa, portanto, que Gueiros escreve sobre “Cinema – Tabu dos intelectuais”, uma de suas primeiras colunas, publicadas em julho de 1929.4 Ele observa que “felizmente a nossa inteligência já se vai emancipando” e o “fetichismo pela França” vem diminuindo entre os intelectuais. Entre os “benefícios apreciáveis” da autonomia adquirida pela inteligência brasileira, está a extinção do tabu em torno do cinema. Falar sobre cinema significava “vulgarizar-se, formar com a opinião geral, que via no cinema apenas um motivo de diversão. O homem de letras que tivesse a suprema coragem de avançar um pensamento, ao menos, a cerca do cinema era miseravelmente boicotado pela classe. E ridicularizado, ainda”. Como exemplos dessa nova atitude cita Guilherme de Almeida e Tristão de Athayde. Gueiros conclui que o cinema “tabu dos intelectuais brasileiros, começa a ser levado a sério”. Em relação ao Chaplin Club, Gueiros exprime sua satisfação por já existir no Rio de Janeiro uma “sociedade de cultura cinematográfica”, a “nossa academia brasileira de cinematografia”.5 Diferente dos outros círculos de estudos e institutos de letras, que se afundam na inatividade, o Chaplin Club realiza o que promete no seu programa, constituindo um fato “excepcional, a indicar um rumo novo nos domínios da nossa inteligência”. Em sua coluna semanal, que faz parte da página cinematográfica dominical, também editada por ele, Gueiros irá enveredar, entre outros temas, pelas questões ligadas à linguagem cinematográfica. A exemplo do Chaplin Club, também irá expressar interesse em discutir o “específico fílmico”, que constitui o cinema arte autônoma, sem depender de outras expressões artísticas. Gueiros argumenta: o cinema já conseguiu sua absoluta independência, criando talvez motivos próprios, com os recursos da câmera na exploração de todos os ângulos ou com esse modo particular de exprimir fotograficamente certos aspectos humanos que nunca a literatura, isoladamente, chegaria a apresentar. O poder 3 Entrevista de Evaldo Coutinho à autora. Recife, 26 jul 1995. 4 “Cinematographia”. Jornal do Commercio, 28 jul 1929, p.9. As citações seguintes são desse texto. 5 “Cinematographia”. Jornal do Commercio, 4 ago 1929, p.9. A citação seguinte é desse texto.
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
263
de síntese e, sobretudo, esse “dinamismo de simultaneidades” de que é capaz o cinema dão-lhe um lugar inteiramente à parte no terreno das artes.6
Assim como os rapazes do grupo carioca, Evaldo Coutinho também valoriza o “cinema puro”, que se exprime pela imagem, não por diálogos/letreiros ou peripécias dignas de romance, daí a eleição de Chaplin como exemplo maior: “seu herói, humaníssimo, nunca vive nas complicações de um argumento romanesco, literário. Vive apenas em situações”.7 Assinando resenhas regulares de abril a outubro de 1930, Coutinho escreve para a coluna diária dedicada aos filmes em cartaz, espaço de pouco prestígio que até então costumava apenas reproduzir sinopses, com raros comentários que escapassem ao teor promocional dos títulos exibidos. Sem perder de vista as características do espaço que ocupa, Coutinho escreve sobre os filmes mais variados, dos mais comerciais a incontestáveis exemplares do cinema de arte, como o russo Tempestade sobre a Ásia (Potomok Chingis-Khana, V. Pudovkin, 1928). As considerações estéticas que elabora vêm inseridas nas resenhas. Essa característica confere dinamismo e informalidade aos seus comentários. Coutinho enfatiza o trabalho do diretor, numa perspectiva muito próxima da que será desenvolvida nos anos 1950 pela “política dos autores”, indicando toda uma trilha anterior percorrida pela valorização da autoria cinematográfica, antes de se consagrar nas páginas dos Cahiers du Cinéma. Na resenha que dedica a Bem-amado (Devil-may-care, Sidney Franklin, 1929], percebe-se desde já a preocupação com “estilo”, “personalidade”, recorrências de filme para filme, subordinação do roteiro ao trabalho do diretor, aspectos que irão se destacar na futura “política dos autores”. Para Coutinho, Franklin tem um estilo. Os seus filmes se desenrolam num compasso igual, indicando a cada momento uma admirável capacidade rítmica do diretor. Os cenários [roteiros] que lhe entregam tornam-se em suas mãos meros apontamentos, simples indicadores […] É o caso de Beleza moral. Embora diga o cartaz que [Hanns] Kräly fez o cenário a gente nota em todo filme a personalidade de Sidney Franklin […] A câmera não encontra obstáculos. Passa por cima de janelas, mesas, sem a gente saber como o conseguiu. A câmera não pula do medio-shot para o close-up. Não deixa subitamente um close-up para focalizar um insert. Desliza, caminha dum ângulo a outro sem interrupção de movimento. O bem-amado possui essa movimentação assombrosa de começo a fim, como em tudo que Franklin tem feito.8
Os comentários e elogios à decupagem que, ao invés de passar de um plano a outro pelo corte o faz pela movimentação da câmera, afinam-se às idéias defendidas por Octavio de Faria nos primeiros números do jornal O Fan. Ao longo do artigo “O cenário e o futuro do cinema”, publicado nos números 1 a 3, Faria argumenta em favor da “teoria da continuidade visual”, que contrapõe à “teoria do ritmo”. (FARIA, 1952) Nos momentos de “continuidade absoluta”, como em cenas de Sétimo céu (Seventh heaven, Frank Borzage, 1927) e Aurora (Sunrise, F. W. Murnau, 1927), o que se procura é “anular na tela a sucessão 6 “Cinematographia”. Jornal do Commercio, 7 set 1929, p. 9. 7 Jornal do Commercio, 12 ago 1930, p. 10. 8 Jornal do Commercio, 10 ago 1930, p. 8.
264
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
das imagens”, isto é, substituir o corte pelo movimento de câmera. O objetivo da continuidade visual é garantir a emoção e camuflar o aparato cinematográfico. Para Faria, o constante trabalho de acomodação da vista a cada cena nova, a adaptação da mente ao novo prisma pelo qual se tem de ver, não só cansa, não só provoca esse eterno sentimento de surpresa que em cinema tanto prejudica a emoção […] como também lembra a todo momento que aquilo é um filme de celulóide, cortado, colado, dividido, etc, etc, … toda a parte mecânica do cinema que é preciso esquecer para poder ver bem um filme.
Curiosamente, ao se entusiasmar com Bem-amado Evaldo Coutinho não segue a divisão proposta por Octavio de Faria, chegando mesmo a inverter as definições ao associar a movimentação de câmera não à continuidade mas à “admirável capacidade rítmica do diretor”. Tais diferenças de abordagem indicam a fluidez de conceitos que caracteriza a crítica da época, mesmo aquela mais empenhada nas discussões teóricas e estéticas. Em 1928, ao abordar “o futuro do cinema” no seu artigo, Octavio de Faria encaminha a discussão em termos de linguagem, ainda que não a desvincule da técnica. No ano seguinte, os parâmetros da discussão sobre o futuro do cinema passam por radical transformação, com as novas tecnologias assumindo papel proeminente. No último número de O Fan, em dezembro de 1930, Faria publica o artigo “Transformação do mundo pelo cinema sonoro”, no qual afirma sem meias palavras: “Cada dia o cinema não-silencioso me repugna mais”.9 Rejeita as considerações e propostas de Eisenstein e Pudovkin em relação à utilização do som, mantendo sua convicção de que “só no silêncio o cinema tem o seu máximo, o seu verdadeiro rendimento”. Faria continua defendendo a definição: “cinema – arte muda” e lamenta: “Ninguém mais sente, ninguém mais age, todo o mundo fala e canta”. As discussões em torno do cinema sonoro também freqüentam a imprensa especializada pernambucana. Apesar de haver referências ao Chaplin Club, em geral não se observa nos críticos locais a mesma atitude de rejeição. Entre as exceções está Pedro Gyrão. Em resenha n’A Província, ele cita o Chaplin Club e O Fan, alinhando-se a eles na rejeição ao sonoro, embora não por razões estéticas, e sim por considerar o sonoro “apenas mais um meio de que se serve o americano para estandardizar o seu idioma”.10 Evaldo Coutinho, que nas décadas seguintes seria um defensor irredutível do cinema silencioso, ainda não demonstra na época a mesma virulência em relação ao sonoro. Se por um lado considera A última canção (The singing fool, Lloyd Bacon, 1928), com Al Jolson, “um filme para ser ouvido […] Mas também é somente isso”,11 por outro não disfarça seu encanto pelo filme sincronizado A divina dama (The divine lady, Fank Lloyd, 1929). Para Coutinho, trata-se de uma “fita cheia de coisas bonitas, que talvez como nenhuma outra reúne muitos elementos de deleite. Lá se vê um idílio feito por mão de mestre. Duas batalhas e outras coisas mais. E acima de tudo Corinne Griffith nos melhores close-ups”.12
9 10 11 12
O Fan, Ano III, n.9, dezembro 1930, p.64-71. As citações seguintes são desse texto. “Cinema”. A Província, 10 ago 1930, Segunda Seção, p.3. A citação seguinte é desse texto. Jornal do Commercio, 21 set 1930, p. 8. Jornal do Commercio, 01 jun 1930, p. 13.
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
265
A divina dama inaugura o cinema sonoro em Recife, em março de 1930. Sonoro, nesse caso, significa com sons (mas não diálogos) sincronizados, além de cantado e musicado. O cinema falado, isto é, com diálogos sincronizados e, claro, muita música chega à cidade com Broadway melody (The Broadway melody, Harry Beaumont, 1929), que estréia no último dia de março. Em Recife, o maior entusiasta do cinema sonoro é sem dúvida Nehemias Gueiros, cuja empolgação estende-se às outras novidades que fazem parte da “febre de transformações” por que tem passado o cinema. Em artigos nos quais exibe extenso e atualizado conhecimento técnico, escreve sobre as mudanças provocadas pelo som (em colunas como “Questão da língua”,13 “Cinema e teatro”14 e “O dubbing”15), além de anunciar o surgimento do “magnafilm” (película de tamanho maior), do filme colorido16 e da televisão.17 Logo na semana seguinte ao artigo em que celebra a existência do Chaplin Club, faz questão de se declarar: “eu sou pelo cinema falado. Com armas e bagagens […] Porque o silêncio, no cinema, nunca foi uma finalidade. Foi um acidente”.18 Demonstra conhecimento em relação aos diferentes processos de gravação. Não vê futuro no Vitaphone, da Warner, que tem o som gravado em disco. Destaca o Photophone e o Movietone, porque “há de ceder lugar à maravilhosa invenção do ‘sound on film’, que realizou esse surpreendente fenômeno de reunir, na mesma película, o som e a luz”. Considera um dos maiores méritos do cinema falado “o de acabar com a literatura rococó dos letreiros […] Cinema e literatura são coisas distintas […] Confundi-los tem sido tão pernicioso que os vícios literários já vão prejudicando certos filmes”. Espirituoso, ele se refere aos que combatem o sonoro como os “senhores sebastianistas do cinema”.19 Em 1929 Gueiros ainda acreditava que o cinema silencioso iria permanecer como um gênero à parte, apreciado por meia dúzia de estetas. No ano seguinte, porém, chega à conclusão de que o mudo “há de morrer”. E não esquece de acrescentar o comentário irônico: “Os meus amigos do Chaplin Club, por sua vez, estão esperando, com certeza, a minha surpreendente profissão de fé ‘silenciosa’ e o meu anátema ao cinema sonoro”.20 Uma característica singular nas concepções cinematográficas de Nehemias Gueiros é que, ao contrário de boa parte da elite cultural da época, ele se recusa a enxergar o cinema em termos de contraposição entre arte e indústria. Gueiros sustenta que o cinema é exceção à idéia de que “onde predomina o caráter industrial falecem, de um modo absoluto, os motivos de ordem artística”.21 Para ele, “o cinema-indústria é que nos deu o cinema-arte. A concorrência comercial, o estímulo das competições foram – com o concurso dos elementos artísticos que o cinema tinha que arregimentar – o motivo das produções de arte”. Por isso o cinema conseguiu “realizar o milagre econômico de tornar útil a arte”. 13 14 15 16 17 18 19 20 21
“Cinematographia”. Jornal do Commercio, 23 mar 1930, p. 10. “Cinematographia”. Jornal do Commercio, 27 jul 1930, p. 9. “Cinematographia”. Jornal do Commercio, 14 set 1930, p. 10. “Cinematographia”. Jornal do Commercio, 13 out 1929, p. 9. “Cinematographia – A televisão e o cinema”. Jornal do Commercio, 13 jul 1930, p. 10; “Cinematographia – Mais televisão”. Jornal do Commercio, 7 set 1930, p.8; entre outros. “Cinematographia”. Jornal do Commercio, 11 ago 1929, p. 9. As citações seguintes são desse texto. “Cinematographia”. Jornal do Commercio, 17 nov 1929, p. 9. “Cinematographia”. Jornal do Commercio, 30 mar 1930, p. 10. A citação seguinte é desse texto. “Cinematographia”. Jornal do Commercio, 8 dez 1929, p. 9. As citações seguintes são desse texto.
266
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
Enquanto a revolução do cinema sonoro promove mudanças no mercado cinematográfico e compromete a continuidade da produção local de filmes, esse primeiro momento de afirmação da crítica cinematográfica pernambucana é interrompido por outra revolução. Tanto o Jornal do Commercio quanto A Província, que abriam espaço para os novos críticos, são empastelados durante os levantes da Revolução de 1930, deixando de circular a partir de 5 de outubro.
Bibliografia ARAÚJO, Luciana Corrêa de. Aspectos do cinema em Recife nos anos 1920. Relatório de PósDoutorado, 2005. BEHAR, Regina Maria Rodrigues. “Caçadores de imagem”: cinema e memória em Pernambuco. Tese de Doutorado, ECA/USP, 2002. BERNARDET, Jean-Claude. O autor no cinema. São Paulo: Brasiliense/Edusp, 1994. BERNARDET, Lucilla Ribeiro. O cinema pernambucano de 1922 a 1931: primeira abordagem. São Paulo, 1970. CUNHA FILHO, Paulo C. (org.). Relembrando o cinema pernambucano – Dos Arquivos de Jota Soares. Recife: Fundação Joaquim Nabuco/Editora Massangana, 2006. FARIA, Otavio de. “O cenário e o futuro do cinema”. Significação do far-west. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Saúde, 1952, p.5-44. MELLO, Saulo Pereira de. “O Fan, o Chaplin Club & Limite”. In: Cinearte. Rio de Janeiro: Centro de Pesquisadores do Cinema Brasileiro, 1991. XAVIER, Ismail. Sétima arte: um culto moderno. São Paulo: Perspectiva, 1978.
* Luciana Corrêa de Araújo é professora do Mestrado em Imagem e Som da UFSCar.
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
267
CULTURA, IDENTIDADE E DIVERSIDADE CINEMATOGRÁFICAS
o caso São Paulo, o cinema japonês e as suas salas de exibição ANDRÉ PIERO GATTI*
S
e existe algum fator histórico e cultural que revela o lado mais cosmopolita e generoso de São Paulo é a recepção que foi dada às ondas de imigrantes que por aqui aportaram nos últimos cem anos. Curiosamente, esta situação migratória veio a permitir uma rica oferta e circulação de obras cinematográficas das mais variadas origens e tendências. Fato este difícil de se ver mundo fora com a mesma força que aqui foi vista. Esta situação pode ser considerada como um elemento atípico na própria história comercial do cinema, uma espécie de desvio de norma econômica vigente. Sobre a imigração levantou-se que houve um período áureo da imigração, que acontece entre 1882 e 1930. Foi quando 2.223.000 pessoas chegaram a São Paulo. Os italianos eram em maior número desse contingente, eles representavam cerca de 1 milhão de pessoas, quase 50% do total. Os imigrantes mais antigos como portugueses e espanhóis representavam 18%, cada grupo. Esta conta redunda num resultado em que 80% dos imigrantes procediam da Europa de cultura latina, seguidos em menor escala por japoneses, sírios, libaneses, poloneses, judeus, armênios e alemães. Este verdadeiro melting pot é o elemento que sustentou a possibilidade da circulação das mais variadas cinematografias em São Paulo, garantindo o seu caráter multicultural. No Brasil, a presença de cinematografias diversas acontece desde a inserção da invenção no final do séc. XIX. Pois, foi neste momento que vieram os primeiros filmes. Eles
eram chamados de “naturaes” e abordavam fatos diversos, também, vieram os “posados”, hoje conhecidos como filmes de ficção. As origens destes filmes? Elas eram bastante variadas, normalmente, as películas vinham das produtoras francesas, alemãs, italianas, espanholas, norueguesas, dinamarquesas, suecas, austríacos e norte-americanos. Os filmes brasileiros só aconteceram algum tempo depois, mas de maneira bastante escassa e precária. Sabe-se que houve um processo de homogeinização internacional da indústria cinematográfica, gestado no seio da expansão do cinema norte-americano. Entretanto, este processo se torna um fato mais amplo a partir da II Guerra Mundial, mas não no que diz respeito ao Brasil. Aqui tal processo de dominação econômica e cultural já se encontrava consolidado desde o final da I Guerra Mundial. Isto porque houve uma escassez de fornecimento de filmes por parte das produtoras e distribuidoras européias. Devido à presença de variadas colônias de imigrantes, com o decorrer do tempo, os sujeitos destas comunidades vieram a sentir a necessidade da busca de uma referência cultural e de uma identidade que lhes fosse familiar. Estes elementos permitiram o surgimento e a existência de nichos de mercados cinematográficos, numa economia que já funcionava e funciona em regime de oligopólio.1 Os mercados destinados para o público das colônias vicejaram de maneira pródiga e única em solo paulista. Este quadro conferia uma situação única para a distribuição de filmes não-estadunidenses. Entre as cinematografias que desafiaram a hegemonia indiscutível do filme norte-americano se encontrava a produção vinda do Japão. Tal onda cinemática gerou um fenômeno muito particular que acontece primeiro no âmbito do estado e depois na cidade de São Paulo, especificamente, no bairro da Liberdade. Na capital foi constituído um circuito exclusivo de exibição das obras nipônicas, fossem clássicas ou não. Tal fato idiossincrático, atípico e multicultural é o que interessa para este artigo. De acordo com Maria Rita Galvão: Mesmo durante a guerra, até o Brasil romper com a Alemanha, a quantidade de filmes alemães exibidos aqui era relativamente grande, e em São Paulo havia mesmo um cinema que praticamente só exibia esses filmes, o UFA Palácio. Filmes italianos continuaram aparecendo em São Paulo, mesmo depois da constituição do Eixo, em promoções especiais para a colônia […] Em São Paulo, especificamente, havia ainda o cinema japonês, desde antes da guerra inicialmente, tratava-se de exibições internas para a colônia, sem letreiros, mas logo o volume de filmes japoneses que entravam no país era suficientemente grande para possibilitar a exibição comercial regular no cinema São Francisco. Tudo isso atesta uma presença do cinema em São Paulo mais diversificada do que se supõe à primeira vista.2 (grifos nossos)
Um panorama mais abrangente sobre a situação descrita acima pode ser encontrado no estudo de Maria Arminda Arruda sobre a presença de empresários estrangeiros na atividade econômica cultural da cidade de São Paulo. Neste trabalho ela afirma que:
1 As empresas distribuidoras norte-americanas encontram-se operando no Brasil desde 1915. 2 Galvão, Maria Rita. Burguesia e cinema: o caso Vera Cruz. p. 24.
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
269
[…] entre imigração, indústria, diversificação das elites e criação das instituições culturais em São Paulo nos anos de 1950, momento de intenso dinamismo da cidade que adquiria os contornos definitivos de metrópole. Como conseqüência dessas mudanças, solidificou-se a compreensão do caráter civilizatório contido no desenvolvimento cultural, estabelecendo-se franca homologia com a modernização em curso, em todas as esferas da sociedade. Na esteira dessas iniciativas, vicejaram as linguagens culturais mais renovadoras, caso do concretismo na poesia e nas artes plásticas; da dramaturgia e da cinematografia; da arquitetura, do design, da publicidade; das ciências sociais e do planejamento urbano; dos debates que grassavam em todos os campos. O vigor cultural do período forjou-se na dinâmica da modernidade burguesa, identificada com o progresso e comprometida com a construção do poder do dinheiro.3
A exibição de filmes japoneses em São Paulo: cultura e identidade O mercado de cinema é um fato econômico bastante curioso, sua principal característica é a de ser dominado por uma espécie de monocultura. Isto no que diz respeito à distribuição, ao gênero e nacionalidade do filme, com gradações variadas no tempo histórico. Num ambiente econômico-cultural deste tipo, a presença do cinema japonês vem a ser uma nota dissonante neste arranjo. Lúcia Nagib ilustra o fato da seguinte maneira: A história do cinema no Japão é marcada ao mesmo tempo por inovação e tradição. Nascido ao final do século XIX, pouco depois de se estabelecer na Europa, era fruto tanto do avanço industrial e comercial quanto do teatro tradicional japonês, especialmente o kabuki, que abrigou as primeiras casas de produção de filmes, como a Nikkatsu e a Shochiku. O cinema tornou-se, assim, parte essencial da identidade cultural japonesa, acompanhando até o outro lado do globo aqueles que haviam deixado o Oriente para tentar a sorte no Novo Mundo. Por José Fioroni e Edna Kobori sabemos que curtas-metragens noticiosos ou documentais do Japão circulavam no interior paulista ao longo dos anos 20. O mais antigo registro dessa presença data de 1929, quando foi fundada, por Masaichi Saito, a Nippaku Shinema-Sha (Companhia Cinematográfica Nipo-Brasileira), primeira exibidora comercial de filmes japoneses no Brasil, sediada na cidade de Bauru. A Nippaku passou a importar filmes de ficção de longa metragem, conquistando cada vez mais espectadores na longínqua diáspora.4
Por outro lado, é importante entender a lógica do sistema de circulação da mercadoria cinematográfica. Esta que tinha a seguinte mecânica: ARRUDA, Maria Arminda. Empreendedores culturais imigrantes em São Paulo de 1950. Ver: www.scielo. br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20702005000100006&lng=en&nrm=iso. 4 NAGIB, Lucia. Cinelândia na Liberdade. 3
270
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
A distribuição dos filmes pelo interior paulista se dava pelas estradas de ferro Noroeste, Paulista, Sorocabana e Mogiana que cortavam as lavouras. A própria Nippaku realizou um filme, intitulado Noroeste-senisshu (1929), documentando essa saga. Conforme informam Fioroni e Kobori, essa atividade cinematográfica envolvia uma complicada operação. Toneladas de equipamentos tinham de ser transportadas em caminhões por estradas de terra esburacadas a locais desprovidos de luz elétrica, onde os filmes eram projetados em galpões de madeira do modo mais bizarro: um gerador improvisado era alimentado pelo próprio caminhão, em cujo motor atava-se uma correia movimentada por sua roda traseira, suspensa no ar.5
O fato concreto é que a indústria cinematográfica nipônica se desenvolveu de maneira pujante. Esta grandeza pode ser vista já faz muito tempo, como bem afirma Paulo Emilio Salles Gomes no seu emblemático texto Cinema: trajetória no subdesenvolvimento: O cinema norte-americano, o japonês e, em geral, o europeu nunca foram subdesenvolvidos […] No Japão, que não conheceu este tipo de relacionamento exterior que define subdesenvolvimento, o fenômeno cinematográfico foi totalmente diverso […] Na verdade, o publico japonês nunca aceitou o produto estrangeiro tal qual […] Diferentemente do que ocorreu na Índia, o cinema japonês foi feito com capitais nacionais e se inspirou na tradição, popularizada mas direta, do teatro e da literatura do país.6
Em que pese os fatos acima citados, por muito tempo, no que tange ao mercado internacional, a cinematografia japonesa foi pouco divulgada no Ocidente. O fato relevante para a propagação de produção do Japão foi a Palma de Ouro conquistada por Akira Kurosawa no Festival Internacional de Cinema de Cannes (1951). Para se ter uma dimensão do quão tardio foi este reconhecimento, o nosso O cangaceiro, de Lima Barreto, ganhou uma Palma de Ouro apenas 2 anos depois, em 1953. Hoje, já se sabe que por volta de 1926 os filmes japoneses por aqui já eram vistos de maneira sistêmica. Portanto, pode-se afirmar que aqui em São Paulo houve uma exibição, praticamente, completa da produção do Japão. Isto porque aqui foram exibidos desde os primeiros filmes silenciosos, que se consagram com a performance dos benshi, depois, vieram os sonoros e, por fim, os coloridos. Como no começo do cinema, os primeiros filmes japoneses eram mostrados por exibidores ambulantes que se espalharam pelo interior paulista seguindo, normalmente, a linha do trem. Dizia-se que o filme “fazia a linha”. Já que a imigração japonesa neste momento era particularmente direcionada para o interior do estado. Sobre as primeiras exibições destes filmes silenciosos destinados à colônia, normalmente, elas aconteciam junto aos camponeses que vieram trabalhar em fazendas destinadas ao plantio de café, o historiador Tomoo Honda as descreve da seguinte maneira:
5 Idem. Cinelândia na Liberdade. 6 FUTEMA, Olga. As salas japonesas no bairro da Liberdade, p. 85 e 87.
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
271
Durante as sessões, estendia-se um pano branco, que servia como tela e, a sua frente, no chão, um outro pano, usado nas colheitas, para o público sentar-se […] A época era o cinema mudo. Havia, então, o orador que, usando diferentes impostações, narrava o filme. Não raro o rolo se rompia exatamente no clímax. Enquanto consertava a fita, o público tomava uns tragos de pinga que havia trazido de casa. Se os filmes fossem curtos, havia normalmente duas sessões. Ao invés de ingressos, pagavam-se contribuições.7
O que primeiro chama a atenção é o fato de que a mecânica da projeção acima descrita ser idêntica àquela praticada no Japão. Sabe-se que o orador, o benshi, era normalmente um ator com muitos dotes artísticos, formado no seio da tradicional escola de teatro kabuki. O benshi acabou se tornando uma grande atração do evento cinematográfico na sua terra de origem. Entretanto, em outras localidades surgiram variáveis semelhantes como a figura de Uncle Josh no cinema americano. Neste momento, nos Estados Unidos o cinema era a grande atração dos imigrantes, que podiam pagar entre 5 e 10 centavos de dólar para assistir um espetáculo. Entretanto, a profissão de narrador cinematográfico veio a entrar em crise e a desaparecer na atividade de exibição de filmes. Isto se deve ao advento do cinema sonoro que veio remodelar a recepção e a linguagem cinematográficas. Em relação ao benshi, Lúcia Nagib atesta o fato de que muitos benshi desempregados com a decadência do cinema silencioso, porém, optaram em tentar a sorte no Brasil, onde o cinema mudo persistiu por mais tempo e, conseqüentemente, lhes ofereceria mais alguns anos de carreira. É bem provável que algum destes profissionais tenha por aqui ficado, entretanto, desconhece-se tal registro. Esta situação de projeção de filmes reproduzida tal qual na origem, em seus mínimos detalhes, certamente, configurava-se como um importante nutriente para a manutenção do corpo da identidade cultural dos imigrantes japoneses. Afinal, nesta situação, tinha-se a oportunidade de participar em um raro acontecimento social e de uma manifestação cultural de grande impacto e espetacularização. Esta que deveria ser bastante familiar para a maioria dos sujeitos presentes. Por sua vez, o cinema veio a se aproveitar de um processo de crescimento das relações entre o Brasil e o Japão. Isto aconteceu devido ao aumento do fluxo de mercadorias e pessoas. Este crescimento do intercâmbio econômico e cultural veio a permitir a presença do cinema japonês no mercado brasileiro, como não se viu em outros mercados mais desenvolvidos, como os Estados Unidos, por exemplo. Pode-se inferir o fato de que uma situação de importação de filmes de maneira avulsa e esporádica, parecida com aquela que acontecia com os similares europeus, não tornaria o negócio rentável. Isto por tomar muito tempo para se resolver o deslocamento entre os dois países, além do alto custo desta passagem transatlântica. Estes fatores combinados tornariam o empreendimento inviável sob os pontos de vistas econômico e logístico. Sem uma linha de transporte e uma via de comunicação regular tal situação não seria viável. Negócios remanescentes dos primórdios deste comércio ainda podem ser vistos até hoje no bairro da Liberdade. Nesta tradicional localidade são encontradas lojas que vendem todos os tipos de artigos japoneses como: roupas, alimentos, bebidas, brinquedos, cosméticos, souvenires de grifes, produtos eletrônicos, livros, jornais, revis-
7 HONDA, Tomoo. O imigrante japonês. História de sua vida no Brasil. p. 125.
272
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
tas, cds, dvds etc. Isto sem falar na extraordinária oferta culinária, com seus restaurantes, quiosques, quitandas, feiras, pastelarias etc.
O mercado cinematográfico de filmes japoneses é uma realidade Não demorou muito tempo, a Empresa Cinematográfica Nipo-Brasileira (Nippaku Cinema-sha) passa a importar filmes de longa-metragem. Estes filmes começaram a fluir pelas estradas de ferro e de rodagens paulistas, no regime de deambulação cinematográfica que acabou consagrando um sistema muito particular de exibição. O exibidor, por sua vez, viria a enfrentar uma série de percalços, o trabalho alcançava dimensões épicas em certos momentos. Entende-se que tudo isto só foi possível, neste caso, pelo fato de haver uma demanda sócio-cultural por parte da comunidade instalada. Dessa maneira, o cinema cooperava para manter viva a memória de um povo que muito preza a sua tradição e cultura. Em 1933, a Nippaku viria a constituir a sua sede na cidade de São Paulo, trabalhando como exibidora e distribuidora de filmes japoneses. Em 1935, surge a Nippon Eiga Kogyo, de propriedade de Kimiyasu Hirata, que, juntamente com a Nippaku – Cinema-sha são as responsáveis pelas importações de filmes do oriente. Aqui o regime de importação é feito de maneira avulsa, como faziam os pioneiros do cinema brasileiro. Somente mais tarde as empresas majors japonesas virão a se interessar em explorar o mercado local de maneira direta, reproduzindo o clássico modelo da verticalização econômica internacional. A despeito desta situação, nesse período, o público já tinha acesso a obras importantes de cineastas como: Minoru Murata, Shigeyoshi Suzuki, Tomotaka Tasaka. Há registro da projeção de algumas obras-primas, como A feiticeira das águas (Taki no shiraito, 1933), de Kenji Mizoguchi. Inicialmente, as sessões na capital paulista eram realizadas em clubes e escolas da comunidade. Porém, com o crescimento da demanda, são alugadas salas maiores, como, por exemplo, o Cine Teatro São Paulo. Esta se trata da primeira sala a exibir filmes para a colônia de maneira regular. Outra sala importante foi o Cine São Francisco que após a guerra passaria a exibir de maneira corriqueira os filmes nipônicos. A importação de filmes japoneses para o Brasil , a partir de 1947, entrará em escala ascendente como bem demonstra a tabela abaixo: Importação de Filmes Japoneses de Longa-metragem (1939-1978)
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
Ano
no de filmes
1939
04
1940
03
1941
01
1942-1946
(*)
1947
01
1948
12
1949
11
1950
05
1951
16
1952
33
1953
36
1954
55
273
Ano
no de filmes
1955-1958
s/d
1959
120
1960
120 (**)
1961-1964
s/d
1965
135
1966-1968
s/d
1969
106
1970-1972
s/d
1973
97
1974
86
1975
74
1976
50
1977
30
1978
18 (***)
Total 985 Fonte: Cinema em close-up, abril de 1978. Elaboração: Autor (*) Restrições de guerra impediam a chegada de filmes nipônicos (**) Número aproximado (***) até abril s/d – sem dados
Os números acima são impressionantes, pois como a tabela apresenta algumas lacunas periódicas importantes, pode-se deduzir que o numero de filmes exibidos em muito superou a casa de mil e duzentas unidades. Identifica-se, em alguns momentos, uma importação de mais de cem filmes por ano. A década de 1960 é o momento áureo da recepção do cinema japonês entre nós. Entretanto, o surgimento das salas exclusivas para filmes japoneses acontece somente no inicio da década de 1950. Não por acaso o período de maior crescimento de salas e de público de cinema na cidade de São Paulo. Pois, a capital produzia mais de 50 milhões de ingressos por ano, a população da capital girava em torno de 2.000.000 de habitantes. Aqui se tem uma alta média de venda de ingressos per capita, 25 bilhetes por habitante ou mais. O cinema era a mais popular atividade cultural da população paulistana, desbancando inclusive o futebol. Entretanto, isto não significou o fato de que o outro sistema de exibição, o ambulante, tenha cessado as suas atividades. Pois, ainda havia um público, localizado nas cidades do interior e naquelas próximas da capital, sem falar no circuito de kaikans (clubes) que se interpenetrava entre o centro e a periferia. Este tipo de circuito de cinemas de clubes, não confundir com cineclubes, existe até os dias de hoje. Normalmente, funcionava de maneira aleatória, mas com regularidade, não se seguia mais a linha do trem. Após o período de incertezas do pós-guerra, por sua vez, percebe-se um claro crescimento da importação de filmes japoneses para o Brasil. Pouco a pouco, as grandes companhias japonesas (produtoras-distribuidoras) passariam a se mostrar interessadas em atuar de maneira direta no mercado brasileiro. Entretanto, isto só viria acontecer em 1958, pois foi neste momento que aqui se instalaram as empresas majors orientais. Primeiro foi a Toho e que no ano seguinte fecharia um acordo com Serrador para programar
274
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
a sala Cine Jóia. Em 1959, outra grande companhia cinematografia se estabelecia no mercado, tratava-se da Shochiku que programaria seus filmes no Cine Nippon. Pode-se dizer que a constituição do circuito de salas obedecia a uma situação típica do desenvolvimento urbano da cidade de São Paulo, Arminda Arruda afirma que: A cidade de São Paulo, nos anos de 1950, passava por modificações ponderáveis em todos os planos da convivência urbana e adquiria os contornos definitivos de metrópole, substrato do aparecimento das instituições da cultura e das novas linguagens. Desde o pós-guerra, as grandes cidades mundiais estavam submetidas a processos de redefinição das funções urbanas, de readequação da malha ocupacional do espaço, visível na tendência à desconcentração dos bairros étnicos, na reestruturação das relações inter e intrametropolitanas […] No meio do século, a capital paulistana perdera o ar acanhado dos anos que viram nascer o Modernismo, momento no qual os imigrantes, concentrados em bairros preferenciais, representavam um terço da população, conferindo um tom estrangeirado à cidade.8
O circuito das salas tinha uma configuração geográfica de proximidade como pode se ver abaixo pelos endereços das salas abaixo: Salas de cinema Japonês em São Paulo (1952-1988) Ano
Sala
Endereço
Assentos
Distr
1947/s/d
Cine São Francisco
R. Riachuelo
s/d
s/d
1952/1987
Jóia
s/d
Toho
Galvão Bueno, 102
1.500
Toei
Av. Liberdade, 300 (?)
933
Rua São Joaquim, 120
s/d
Nikkatsu
s/d
Shochiku
Shochiku(1979)
Pça Carlos Gomes, 82
Shochiku 1953/1988
1954/s/d
Niterói
Tokyo Álamo Nikkatsu
1959/1988 Nippon Rua Santa Luzia Fonte: Salas de cinema de São Paulo e A Cinelândia da Liberdade. Elaboração: Autor s/d – sem dados
Olhando os dados acima, a única sala a fugir da espacialidade da Liberdade era o Cine São Francisco, que exibia filmes japoneses de maneira regular, mas não exclusiva como acontecia com as outras salas. A sala pioneira e exibir filmes japoneses na capital foi o Cine Teatro São Paulo que, também, ficava nas proximidades do bairro, quando foi constituído em 1914. O sue endereço era na Praça Almeida Júnior. 8 Idem. O imigrante japonês. História de sua vida no Brasil, p. 125.
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
275
O circuito de salas gerou uma oferta de assentos que girava em torno de 4.000 lugares, sendo que as casas de exibição lotavam nos finais de semana. Este circuito poderia perfazer apenas no sábado e no domingo um público da ordem 25 a 30.000 espectadores apenas nestes dois dias Primeiramente, vieram as fitas tradicionalistas, dramas familiares e regionais, depois vieram os filmes de samurais, yakuza, eróticos etc. Logo, a circulação de filmes japoneses não ficaria mais restrita as salas do circuito tradicional da Liberdade. Em 1959, houve um fato que marcou o processo de transição dos filmes para um circuito maior com o passar do tempo. Refiro-me a exibição de A lenda de Narayama, de Keisuke Kinoshita. Neste circuito extra-colônia a sala que consolidou uma tradição de exibição de filmes japoneses foi o Cine Coral. Esta sala comandada pelo lendário Dante Ancona Lopez foi um grande sucesso no segmento do cinema de arte. No Coral, Ancona Lopez programou filmes como o O corvo amarelo, de Heinosuke Gosho, que se transformou em um grande sucesso de público em 1963. O tradicional cine República que se orgulhava do fato de possuir a maior tela do mundo a exibiu filmes como Guerra e humanidade, de Masaki Kobayashi com grande sucesso. O Trianon, depois Belas Artes, Cinearte e tantos outros também viriam a exibir os clássicos do cinema japonês. Para a circulação de filmes japoneses, pode-se afirmar que a década de 1960 foi pródiga devido ao fato de que os filmes tinham grande aceitação por parte do público de cinema também, não se restringindo ao público de colônia. Por outro lado, esta situação de crescimento da exibição de filmes estrangeiros, já neste período, enfrentava algumas limitações impostas pela legislação cinematográfica em vigor: a cota de tela. Nas décadas de 1970 e 1980, o aguçamento desta legislação seria um elemento que ajudaria a estrangular a atividade do circuito de salas dedicadas ao cinema japonês. Isto porque o processo de reorganização da indústria internacional do audiovisual também, afetaria o modelo de produção de filmes no Japão e a sua distribuição consequentemente. A produção cinematográfica japonesa passou a se dedicar muito em função da indústria do desenho animado, com a finalidade de abastecer canais de televisão abertos e pagos. Outro problema que pode ser identificado é o fato de que as salas de cinema da Liberdade eram freqüentadas basicamente por elementos da colônia. Com o passar do tempo, este tipo de público foi escasseando e o público não-nikkei era insuficiente para manter as salas em plena atividade. A perda do público da colônia se deve a inserção da televisão que irá facilitar o acesso a outras dramaturgias. Os elementos descendentes dos imigrantes, por sua vez, também passaram a adotar de maneira mais natural o comportamento do brasileiro ou do ocidental. Além disso, nem todos eles se sentiam mobilizados pelo cinema japonês. Depois, veio o avanço da tecnologia do home video que se estabeleceu de maneira explosiva e acabou ajudando a esvaziar definitivamente as salas. Atualmente, existem canais de tv paga que passam programação falada em língua japonesa e de outras nacionalidades de maneira regular, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Portanto, o fenômeno das salas de colônia dificilmente voltará a se repetir. Na realidade, a conjugação de vários elementos foi o que veio a permitir o fechamento do circuito de salas exclusivas de filmes de nacionalidade estrangeira e no caso específico da nikkei. Pois, além dos fatos acima citados, houve a crise econômica da década de 1980, a política de congelamentos de preços, inflação, recessão etc. Este quadro econômico e social veio a atingir de maneira dramática vários setores do comércio e da indústria, entre eles a exibição cinematográfica.
276
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
Niterói um marco na cinematografia paulistana Na esteira do desenvolvimento das salas de cinema em São Paulo irá surgir o fenôme-
no do Cine Niterói. A sua construção foi num fato digno de nota na sua época pelo tamanho do investimento. A sala de cinema tinha dois andares, 1.500 lugares e as suas poltronas estofadas em couro eram dispostas em degraus, próximo do estilo stadium adotado hoje. Havia sete lanterninhas para apontar os assentos principalmente para as obátchans (velhinhas). Além disso, havia um restaurante no primeiro andar, um hotel nos dois andares seguintes, e um salão de festas no último pavimento. De acordo com o pesquisador Francisco Sato: Era um empreendimento que certamente encheu de orgulho, não só a família Tanaka, como também toda comunidade japonesa, que saía da triste situação do pós-guerra, quando o seu país foi derrotado. O ano era 1953, e o primeiro filme exibido foi Genji Monogatari, traduzido como Os Amores de Genji. Todos os filmes eram legendados e toda segunda-feira entrava um novo filme no projetor. 20 mil pessoas passavam pela sala todas as semanas. Ao contemplar a alegria dos japoneses que lotavam sua casa, Yoshikazu resolveu ser ainda mais ousado para dar ainda mais alegria ao seu público: foi ao Japão buscar os protagonistas dos filmes para se apresentarem na estréia das películas. Isso aconteceu várias vezes, e um dos convidados foi Koji Tsuruta, um galã na época. Nessas ocasiões, o convidado se hospedava no hotel da família, e as recepções aconteciam na ampla sala da casa de Susumu. Sua filha, Zelinda, ainda se lembra dessas festas, quando a sua casa ficava cheia de destacadas personalidades da época.9
O nome Niterói trata-se de uma espécie de neologismo às avessas, pois a palavra Nitto em japonês significa Japão, esta anexada a palavra Herói, em português, vem a significar Herói do Japão. Entretanto, com as mudanças urbanísticas que aconteceram na região, na virada da década de 1960 para 70, o Cine Niterói veio mudar para um endereço mais modesto, mas ainda bastante impactante com seus mais de 900 lugares.
Interseções transculturais, culturas cinéfila e japonesa Apesar da circulação expressiva de filmes nikkeis em São Paulo, até a década de 1950, especificamente sobre a cultura cinematográfica japonesa muito pouco se sabia sobre o assunto. Isto fica claro quando Paulo Emilio comenta sobre uma mostra de filmes japoneses que aconteceu em São Paulo em 1957, realizada pela Cinemateca Brasileira:
9 SATO, Francisco O imigrante japonês. História de sua vida no Brasil.
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
277
Há menos de dez anos atrás na Europa e na América ainda não se sabia nada sobre o cinema oriental […] Hoje ainda há quem se surpreenda diante do fato de o cinema norte-americano ser quantitativamente apenas o terceiro do mundo, vindo logo em seguida do hindu e bem atrás do cinema japonês.10
Cinematografia de tal magnitude, portanto, não poderia passar de maneira totalmente desapercebida, isto tanto pela critica quanto pelo público intra e extra-muros da colônia. Contudo, o fato que colaborou para este situação foi a regularidade da exibição de filmes legendados nas salas do circuito da Liberdade. Em função desta acessibilidade, um pouco mais tarde, no início da década de 1960, presencia-se a formação de um grupo organizado de cinéfilos não nikkeis. Este coletivo passa a acompanhar regularmente as sessões do Cine São Francisco e das salas da Liberdade. Tratava-se do cineclube Grupo de Estudos Fílmicos, cujos nomes destacados eram os de Hermes Ciocheti e José Marques de Oliveira. Estes vieram a editar uma publicação intitulada: O filme japonês (1963), pioneiro estudo no Brasil sobre o tema. Entretanto, deve-se destacar a cobertura do crítico Rubem Biáfora no jornal O estado de São Paulo que acompanhou a exibição destes filmes de maneira sistemática. Ao longo do tempo, criou-se um expressivo caldo de cultura em torno da cinematografia nipônica. Esta produção de filmes, por sua vez, veio a encontrar excelente recepção em vários setores do pensamento crítico e artístico paulistano. Influenciando os elementos constitutivos destes tecidos de maneira significativa. Neste caldeirão destacam-se nomes como: Walter Hugo Khoury, Rubem Biáfora, Carlos Reichenbach, Antunes Filho, Rogério Sganzerla, Orlando Parolini,11 Augusto e Haroldo de Campos, Roberto Piva, Marcio de Souza, Ozualdo Candeias, Jean-Claude Bernardet, Maria Rita Galvão, Ismail Xavier, José Celso Martinez, Lucia Nagib, Flávio Rangel, Olga Futtema, Paulo Emilio Salles Gomes, Maximo Barro, Andréa Tonacci etc.
Bibliografia ARAÚJO, Vicente de Paula. Salões, circos e salas de cinema de São Paulo. São Paulo: Perspectiva, 1981. ARRUDA, Maria Arminda. Empreendedores culturais imigrantes em São Paulo de 1950. In: www. scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010320702005000100006&lng=en&nrm=iso. ASA, Briggs e BURKE, Peter. História social da mídia?. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004. Cinema em close-up. Ano IV, n. 18, abr., 1979. FUTEMA, Olga. As salas japonesas no bairro da Liberdade in Filme cultura, Embrafilme, Rio de Janeiro, n. 47, ago., 1986. p. 79-81. GALVÃO, Maria Rita. Burguesia e cinema: o caso Vera Cruz. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1980. GOMES, Paulo Emilio Salles. Suplemento literário. São Paulo: Paz e Terra, 1982. ______ . Cinema: trajetória no subdesenvolvimento. São Paulo: Paz e Terra, 1996. 10 SALLES, Paulo Emilio Gomes. Suplemento Literário, p. 171. 11 Parolini, Jairo Ferreira, Márcio Souza e outros colaboraram para o jornal São Paulo Shimbum. Ver GAMO, Alessandro. Críticas de invenção: os anos de São Paulo Shimbum.
278
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
HANDA, Tomoo. O imigrante japonês. História de sua vida no Brasil. São Paulo: T.A. Queiroz e Centro de Estudos Nipo-Brasileiros, 1987. MELO SOUZA, José Inácio de. Imagens do passado: São Paulo e Rio de Janeiro nos primórdios do cinema. São Paulo: Senac, 2003. NAGIB, Lucia. A Cinelândia da Liberdade. http://www.fjsp.org.br/guia/cap08_b2.htm, acesso 07.07.2008. RAMOS, Fernão; MIRANDA, Luis F. (orgs.). Enciclopédia do cinema brasileiro. São Paulo: Senac, 2004. RICHIE, Donald. The japanese movie. Tokyo- San Francisco: Kodansha, 1981. SATO, Francisco Noriyuki. O imigrante japonês. História de sua vida no Brasil. http://salasdecinemadesp.blogspot.com/, acesso 07.07.2008. SIMOES, Inimá Ferreira. Salas de cinema de São Paulo. São Paulo: Secretaria Municipal de Cultura, 1980.
Sitiografia http://www.almanack.paulistano.nom.br/brascine.html http://www.culturajaponesa.com.br/ http://www.fjsp.org.br/guia/cap08_b2.htm
* André Piero Gatti é pós-graduado pela ECA-USP e pelo IA-Unicamp (mestrado e doutorado). É professor de cinema brasileiro no curso de cinema da FAAP. Tem textos publicados em coletâneas nacionais, como a Enciclopédia do cinema brasileiro, e internacionais: Diccionario espagnol e ibero americano del cine e City of God in several voices. Publicou virtualmente os seguintes títulos: A Embrafilme e o cinema brasileiro; O novo cinema paulista; A distribuição comercial cinematográfica e A exibição cinematográfica: ontem, hoje e amanhã.
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
279
Foto 1 Cine Jóia (hoje)
Foto 2 Sr. Susumu, único sobrevivente dos irmãos da família Tanaka, que foi proprietária do cine Niterói.
280
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
Foto 3 Cine Niterói (hoje)
Foto 4 Zelinda, filha do proprietário do Cine Niterói, e o ator Koji Tsuruta, um galã do cinema nikkei na época.
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
281
Contexto e fluxos entre linguagem audiovisual, novas mídias e sociedade VICENTE GOSCIOLA*
Introdução O mercado consumidor de produtos audiovisuais tem um movimento crescente e não se prevê uma mudança para tão cedo. Um dos assuntos que voltam ao interesse nesta área é o papel criador da câmera que vão para além de preocupações com os efeitos que a iluminação, as lentes, os ângulos, os movimentos e os enquadramentos produzem na imagem quando se trata de uma câmera de cinco mega pixels ou mais nas mãos de um usuário de celular sem nenhuma formação em cinematografia. A câmera figura, aqui, como a geradora de uma realidade própria. Nesse caso, não é para a iluminação especificamente, nem para as lentes, nem para nenhuma das outras técnicas individualmente que o desenvolvimento da imagem aponta, mas sim para um entendimento do todo da imagem em movimento, para que a sua complexidade seja inteligível, para que o vídeo, como resultado de uma gravação de um evento, fique cada vez mais próximo de sua origem ou mesmo que o transforme integralmente. Nesse esforço comum eles caminham para compreender a complexidade da imagem em movimento. Os avanços tecnológicos nesta área permitem uma apreensão muito mais ampla do potencial audiovisual nas realizações domésticas. A videogravação é uma fonte riquíssima para as mais diversas pesquisas ou registros para finalidades mais simples, pois o vídeo
apresenta um acúmulo de vários dados simultâneos. É um registro de informações claras que aproximam do evento original. Um mesmo pesquisador pode observar inúmeros conteúdos, distintamente. Pelo vídeo um evento pode ser assistido repetidas vezes. As diversas possibilidades de leitura de uma mesma cena e o acesso à pluralidade de objetos de análise são propósitos que contemplam a pesquisa ou qualquer interesse mais informal.
Novas câmeras, novas mídias É natural que qualquer cultura opte por um determinado veículo, como dominante, para se comunicar. Essa opção não elimina outros veículos de comunicação, pois toda e qualquer cultura usa todos os meios que estiverem ao seu alcance. Por exemplo, tradicionalmente o povo tibetano, reverenciando os tankas, passa de geração a geração os ensinamentos do Buda. Os tankas são imagens pintadas sobre seda que representam as passagens do Buda. Conceitos e relatos históricos são milenarmente descritos por estas imagens. Por outro lado, há outras culturas proíbem o uso de imagens e adotam como meio de comunicação de conhecimento a escrita, com letras de elaborado senso estético e expressividade. Cada letra é um desenho que configura uma palavra e uma sentença que, pelo seu resultado visual abstrato, parece querer alcançar o sentido metafísico da coisa de que está falando. Culturas como as das nações da África Negra ou dos indígenas brasileiros, têm a fala como o veículo mais utilizado para propagarem o seu legado cultural. A tradição oral evoluiu constituindo uma fala de avançadas e variadas estruturas, com inigualável apuro rítmico e musical, reconhecidamente presente em seus rituais, invejadas e copiadas pela nata da música pop mundial. Não só pela música pop; as culturas “primitivas” foram e são fontes riquíssimas para outras expressões artísticas da “civilização ocidental”. O compositor Hans Joachin Koellreutter dizia que a música “erudita” só recuperará seu fôlego quando voltarmos nossos sentidos para as culturas “primitivas”. Como Picasso, que, paralelamente, ao estudar as máscaras africanas, a partir de 1907, aplicando-as no quadro Les demoiselles d’Avignon, revolucionou a pintura projetando-a para o cubismo. Enfim, cada cultura se especializa e utiliza o veículo que mais se afina com suas capacidades e necessidades de comunicar, criar e preservar seus conhecimentos. Invariavelmente, nas sociedades urbanas predomina a televisão. Talvez o homem da oralidade tenha perdido a confiança no que escutava, passando a registrar tudo no papel e, agora que os papéis também não são mais confiáveis, ele procura desesperadamente outro suporte para registrar seus documentos portadores de dados que sejam mais aceitos como verdadeiros. Por enquanto é o vídeo, mais confiável ainda se for o telejornal. Mas a televisão, que já manipula todos os fatos, vem perdendo a credibilidade e, em breve -quando a operacionalidade e a digitalização da imagem estiverem ao alcance de todos-, não representará mais um documento portador de verdades inquestionáveis para a população. A videocâmera veio para ocupar definitivamente o seu lugar neste universo. O verbal já não é soberano frente ao visual. Os fatos, os comportamentos, as interações, são dados extremamente significativos e como vemos, hoje em dia, os veículos que asseguram a divulgação destes dados transformam-se e dão sua vez a outros veículos. É interessante lembrar os programas de auditório que fazem concursos sobre quem se lembra de mais dados sobre determinado assunto. Programas que existiram em quase AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
283
todos os países, do primeiro ao terceiro mundo. Curiosamente eles são comunicados por um meio audiovisual: a televisão. É a própria televisão valorizando o verbal. E o que dizer da escola de nossos dias ou os concursos vestibulares, imprimindo uma importância monumental à capacidade de memorização de dados e fórmulas em contraposição à expressão escrita? Talvez sejam formas de resistência ou de dissimulação da passagem da predominância do verbal para o audiovisual. Os meios podem deixar de ser predominantes dando vez a outros. As mais diversas culturas sempre tiveram um meio de comunicação que se sobressaía entre os outros. Há sempre um destaque maior para um determinado veículo de comunicação em uma determinada cultura, tanto pela maior demanda de uso, quanto pela sua maior capacidade de expressão. Porém, este meio predominante não o é para sempre. Ele tem uma vida útil, uma permanência limitada pelas necessidades de evolução de certa cultura. Um canal de comunicação de idéias é transitório, e esse período é determinado não só por forças internas a esta cultura, como também por forças externas a ela, como, por exemplo, a entrada do islamismo no norte e centro da África, que substituiu a tradição oral pela escrita, estampada no Alcorão, o seu livro sagrado. Portanto, assim como ocorre em um grupo social, um meio pode deixar de ser predominante em uma atividade profissional. Desta forma observa-se que o gravador de áudio deixou de ser o mais utilizado para dar lugar à câmera de vídeo. A mudança para a videogravação não foi uma revolução, mas sim uma adaptação para atender às necessidades ou caprichos do dia-a-dia de todos nós. Acredito que a cultura ocidental moderna, assim como algumas asiáticas também vivem atualmente uma mudança de predominância de meios. Já teve a sua tradição oral e já passaram pelo auge da tradição escrita. Hoje vivemos um período novo, intermediário talvez. Há quem discuta sobre o fim da escrita em função da “bestialização” humana exercida pela predominância excessiva de imagens, desembocando em uma humanidade “analfabeta”. Como diz Patricia Marks Greenfield: Os educadores (inclusive eu) têm uma tendência a serem esnobes letrados, lastimando ter passado a época em que as pessoas “realmente” sabiam ler e escrever. Esta atitude impediu-nos de ver a promessa revolucionária da mídia eletrônica: proporciona novas possibilidades cognitivas a grupos carentes e tem potencial para enriquecer e diversificar a experiência educacional de todos. (GREENFIELD, 1988, 146)
Os meios de comunicação massiva estão assumindo uma nova posição diante do passado. A hipermídia e a web deixaram de ser meros artefatos, objetos de curiosidade, decoração e entretenimento. Elas hoje representam a maneira mais rápida e segura de se obter informações, de se fechar negócios, de se desenvolver pesquisas mais aprofundadas a qualquer distância, espacial ou temporal, do objeto de estudo. E é exatamente por aí que ela sai ganhando em relação à escrita: ela agrega um volume muito maior de informações de diversas origens, como a própria escrita, a imagem e o som. E ela não é mais um meio, mais um hardware. Ela é um grupo de meios, constituindo um verdadeiro conceito; um conceito de comunicação, uma somatória de veículos e mensagens que produzem uma nova mensagem final, mais completa e inteligível; uma “navegação” por meios, uma transitoriedade permanente de veículos. A hipermídia traz um forte potencial instrumental junto ao vídeo, que vem nessa direção porque já trabalha com uma somatória de meios, 284
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
por unir a imagem ao som; dois meios que podem ser percebidos simultaneamente. E estamos a um passo de a hipermídia ocupar esse espaço, proporcionando enormes benefícios às pesquisas como, por exemplo, a visualização do texto e da imagem e a audição do som de uma aula na tela, simultaneamente. Foi dito que todas as possibilidades de narrativa da seqüência fílmica já foram exploradas nos primórdios do cinema, mas sabemos que novas possibilidades de se contar uma história surgem diariamente. O filme nos últimos anos, a partir das experiências do vídeoclipe, devora o tempo dos planos com muita avidez, cada plano dura de um a dois segundos. Uma pessoa que não tenha formação em cinema ou algo similar, ao fazer uso de sua câmera no celular, ou sua pequena câmera de vídeo vem utilizando, sem se dar conta, um velho recurso de linguagem audiovisual: a “câmera nervosa”: a câmera acompanha o objeto que está gravando, sem usar tripé; todo o movimento do corpo do “vídeo-realizador” é refletido no vídeo e observável pelo espectador como se a câmera fosse balançada por uma rajada de vento. Esse recurso foi incorporado a antigos telejornais e até mesmo em telenovelas e mini-séries. A “câmera nervosa” nada mais é do que um plano-seqüência, isto é, não há uma série de tomadas, mas sim uma única e longa tomada. É um recurso que permite ao espectador a visão do todo. O plano-seqüência não só apresenta a situação espacial que envolve a cena como também leva, encaminha o espectador para um determinado acontecimento. Ele tem um início, um ponto de partida, caminha por variadas situações com pequenas paradas e conclui com um ponto de chegada conclusivo. É pura tensão, isto é, por todo o caminho, aquele que assiste ao plano-seqüência, permanece com a atenção totalmente voltada para onde irá levá-lo aquela continuidade de imagens sem cortes, na expectativa de conhecer o final daquele roteiro. Justificando completamente o nome espectador. O plano-seqüência tem muito para ser explorado e estudado como contador de histórias. A evolução tecnológica proporciona avanços de linguagem: antes a câmera de filmar em 35 ou 16 mm possibilitava até 10 minutos de plano-seqüência, agora há câmeras de vídeo não profissional que possibilitam até 120 minutos de plano-seqüência; há câmeras profissionais de alta definição, HDTV, que têm como gravadores discos rígidos de alta capacidade de registro. Sem dúvida, programas de hipermídia já desenvolvem elementos próprios de narrativa, até porque o videogame é um grande plano-seqüência. É preciso tomar um cuidado especial com o pesquisador, que agora é um espectador. Mas longas gravações também têm suas desvantagens. Há a necessidade de uma determinada tensão promovida pela narrativa ou, simplesmente, de ser resolvida a continuidade das imagens, isto é, ter um instante de relaxamento pela apresentação de um ponto de chegada, mesmo que não seja o final. É isso que faz com que sejam apresentados diversos relaxamentos para as diversas tensões. Sendo assim, a videogravação de um longo plano-seqüência deve ser contínua, mas com pequenas conclusões, isto é, parando a câmera um pouco mais detalhadamente em alguns detalhes.
Audiovisual na web e suas especificidades Se a câmera digital já é companheira e realizou o sonho de Jean-Luc Godard de caber no porta-luvas de seu carro para bem gravar onde quisesse, (NEYRAT, 2007) a web já é altamente explorada em determinados segmentos profissionais e camadas sociais. Um mercado de grandes proporções e muito jovem pode estar apresentando, desde já, características muito específicas. Entre todas as questões que se poderiam levantar sobre seus AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
285
processos de trabalho uma desperta muito a atenção dos artistas, empresários e técnicos do mercado abraçado pela web: como se organiza a apresentação de filmes em um site?; a web poderia utilizar alguns padrões que, se analisados, abririam as portas para um desenvolvimento ainda mais rápido e maior de seu poder comunicativo e abriria um diálogo com a linguagem cinematográfica que, há mais de 100 anos vem aprimorando suas potencialidades comunicacionais? A preocupação com as imagens nesse veículo baseia-se nas observações de Gaston Bachelard quando diz: … se uma imagem presente não faz pensar numa imagem ausente, se uma imagem ocasional não determina uma prodigalidade de imagens aberrantes, uma explosão de imagens, não há imaginação. … uma imagem estável e acabada corta as asas à imaginação. (BACHELARD, 1990, 1-2)
Bachelard permite compreender a importância da imagem em movimento em meios de comunicação. Afirma que uma imagem estável e acabada corta as asas à imaginação e que sem imaginação não há vida, não há sedução e fecundidade. (BACHELARD, 1990, 3) Atualmente os produtores de sites na web estão preocupados com o nível de sedução de seus produtos que devem não só divulgar uma empresa e seus serviços mas também oferecer algo a mais como, por exemplo: animações, informações diversas, entretenimento, páginas bem elaboradas esteticamente, etc. Se a televisão, hoje, é meio de participação nos acontecimentos durante a sua dinâmica, mais do que simples meio de comunicação, (GIACOMANTONIO, 1986, 19) a web – com seus vídeos – seria a sua expansão. Já em 1981 James Monaco (1981, 43) ressaltava que o filme é uma importante ferramenta científica que tem aberto novas áreas do conhecimento. E assim como a televisão desenvolve a sua própria sintaxe, os vídeos apresentados na web poderiam iniciar um caminho particular para desenvolver a sua linguagem. Esse caminho não é tão aparente, mas é possível observar que a localização, o tempo de exposição e a dimensão de vídeos obedecem a certos critérios nos sites da web. É possível observar, também, de que modo aparece a imagem em movimento: o tipo de movimento da ação na cena, o tipo de movimento da câmera; efeitos de transição, tanto para início e fechamento do clip quanto para a passagem de plano para plano; a escala e a angulação da câmera; os pontos de iluminação; o número de tomadas; a categoria da edição; o movimento interno a cada seqüência. Todavia, é necessário, ainda, investigar a relação entre o vídeo e os textos e desenhos de sua correspondente página no site. O vídeo na web está experimentando as mais diversas possibilidades de tirar proveito de suas limitações como, por exemplo, assumir o baixo nível de frame rate, isto é, não se trata do movimento contínuo, ou full motion, como o que se vê em um vídeo, que tem 30 quadros ou frames por segundo, ou em um filme, que tem 24 fotogramas por segundo. Na web o vídeo pode ter a frame rate reduzida entre 10 e 20 frames por segundo. Há ainda outro detalhe: em web, os vídeos não só aparecem com baixo nível de continuidade mas também com a dimensão reduzida, ou resolução de imagem, a maioria ao redor de 640x480 pontos (ou pixels). Um vídeo digital tem uma resolução de 720x480, 30 fps e áudio de 44.16kHz. Esse mesmo vídeo na Internet pode aparecer com uma janela de 160x120 pixels de resolução, 10 fps e áudio de até 56kbps. 286
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
A narrativa de um vídeo na Web pode ser garantida por preceitos de Sergei Eisenstein como quando revela que a forma e o sentido do filme, os seus métodos de montagem e as suas relações de conflito geradoras das construções de montagem se obtém através de duas pontas quaisquer, unidas, combinam-se infalivelmente numa representação nova, surgida dessa justaposição. (EISENSTEIN, 1969, 72) Mas o vídeo e suas limitações de imagem na Web chamam a atenção inicialmente. Essas limitações alteram profundamente a narrativa do vídeo. Jacques Aumont pode servir como inspiração a sugerirmos algumas saídas, conforme segue: Luz: para um suporte que não oferece muitas condições para que um vídeo seja apresentado com toda a sua definição de imagem que os pintores de claro escuro têm usado com abundância … o contraste entre sombra e luz. (AUMONT, 1993, 31) Se é difícil iluminar ou realçar cores, se não é possível refinar a imagem, então o caminho da simplicidade pode ser a solução: a luz será projetada apenas nas pessoas e nos objetos importantes para a ação. Profundidade: se não é possível dar uma maior definição na profundidade de campo vale pensar que a idéia de espaço está fundamentalmente vinculada ao corpo e ao seu deslocamento. (AUMONT, 1993, 37) Isso quer dizer que para dar uma visão melhorada da espacialidade é importante que o vídeo apresente deslocamento dos personagens ou da própria câmera. Movimento: e para realçar a sensação de movimento no vídeo vale o contraste de que percebemos um mundo estável durante nossos próprios movimentos. (AUMONT, 1993, 47) Um vídeo, na Web, pode demonstrar melhor os movimentos de um objeto ou de uma pessoa quando há objetos ou pessoas estáticas. Enquadramento: Um esforço para valorizar o conteúdo e respeitar o roteiro de um vídeo na Web está no enquadramento. Como diz Aumont: A palavra enquadramento e o verbo enquadrar apareceram com o cinema para designar o processo mental e material já em atividade, portanto na imagem pictórica e fotográfica, pelo qual se chega a uma imagem que contém determinado campo visto sob determinado ângulo e com determinados limites exatos. (AUMONT, 1993, 153)
Sendo assim, para o vídeo na web vale também a regra de que o enquadramento não é gratuito. Ele pode servir até como um motivador para explorar as limitações do meio. Certos enquadramentos são de grande poder de coesão e síntese de informação, o que é vital para uma boa utilização de um meio tão limitado. Estas seriam algumas possibilidades de enquadramento com um elevado nível de síntese: Omissão: É a omissão de uma informação facilmente subentendida. Pode existir uma ação na cena do vídeo, mas ela não aparece na tela. Conhecido também como elipse de enquadramento, diferente da elipse de tempo que é a transição de um plano saltando no tempo narrativo. Redundância: Também chamado de pleonasmo, é a repetição de alguma informação já expressa. Por exemplo: a câmera dá uma panorâmica da esquerda para a direita no ambiente e volta imediatamente. As informações sobre o local são novamente mostradas sem necessidade. Mas também a redundância pode promover ao vídeo uma maior dramaticidade.
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
287
Desconstrução: Ou anacoluto, é a quebra da ordenação lógica das informações. Seria o principal mecanismo de linguagem a ser utilizado pelo vídeo-realizador na web. A câmera não se desloca em panorâmica com leveza e precisão. Muitas vezes, eventos importantes para o vídeo ocorrem simultaneamente e o realizador não consegue acompanhar com a mesma velocidade. Começa a mostrar alguma manifestação importante e logo se desloca para outra, sem que a anterior tenha sido concluída. Na tentativa de não voltar pelo caminho que percorreu, a câmera segue em frente com sucessivas e rápidas paradas. O que se espera é que, mesmo com perturbações de movimentos bruscos, o vídeo-teipe seja satisfatório às necessidades da pesquisa, apresentando falas importantes, ainda que curtas. Antecipação: É a câmera dirigir-se à pessoa antes que esta se manifeste. Enfatiza até a menor expressão que possa ter, durante o vídeo, por apresentá-la, geralmente, em close-up. Concisão: Ou braquilogia, é a exposição da situação por breves tomadas, intermediadas por rápida movimentação. Mostra rapidamente a configuração do ambiente. Contração: Também chamado de haplologia, é a omissão da parte final de uma manifestação; o som permanece, ainda se escuta o final da fala do sujeito mas já se observa o próximo se preparando para iniciar sua ação ou já iniciando a sua fala. Permite ao realizador a opção de direcionar a câmera para outra pessoa, registrando boa parte da manifestação do anterior sem perder o novo início, ampliando o ritmo da videogravação. Fusão: Ou contaminação é quando a câmera registra duas ou mais fontes de ação simultâneas, o que resulta à primeira vista num material ilegível mas possibilita ao realizador aproveitar as informações com bom nível de qualidade. Muito usado em momentos em que dois ou mais grupos de pessoas comunicam-se ao mesmo tempo, e que, de tão próximos que estão, não se faz possível gravar apenas uma manifestação. Complementação: Também expletivo, é uma tomada desnecessária por não participar do sentido que venha percorrendo uma videogravação. Por exemplo: a câmera continua captando pessoas e objetos mesmo depois da ação concluída. É desnecessário, mas pode significar um ganho de expressividade porque, por imprimir mais fortemente a presença da fonte da ação na tela, confere à videogravação mais dramaticidade, mais informação. Erros: Entre paradas desnecessárias e movimentações rápidas demais, um dos piores erros é a Indeterminação. É quando o realizador hesita entre captar uma pessoa ou outra e acaba não gravando nem uma nem outra, aparecendo apenas um vazio na telinha. Outro erro é a Atração. Aqui o vídeo-realizador pode ficar encantado com alguma pessoa, algum objeto ou o próprio equipamento que utiliza e se esquecer de dar continuidade à videogravação. É certo que seqüência de utilização desses elementos vai depender muito de cada situação. Não há como prever se uma determinada ordem será suficiente para levar com clareza ao espectador os fatos. O vídeo-realizador, no momento em que está exercendo sua função, função esta que exige tanta concentração, não se lembrará de nenhum desses nomes de fenômenos de linguagem da videogravação. Descrever ingenuamente essa linguagem é um esforço que vem no sentido de tentar delimitar os elementos que constituem o vídeo na Web e de possibilitar ao realizador, num segundo momento, refletir sobre o seu próprio trabalho, e projetar outras leituras de suas produções.
288
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
Próximos passos À medida que cada novo meio se destaca, os existentes tendem a preencher novas funções ou a se restringir ao que fazem melhor. Com o surgimento da televisão, o rádio especializou-se em música. A leitura tornou-se mais orientada à instrução, ao passo que a leitura de romances como lazer foi, até certo ponto, suplantada pelos filmes. Paradoxalmente, hoje em dia a escrita faz parte dos meios audiovisuais. A letra é um desenho, um símbolo que representa um som. A sociedade está mudando quanto à sua relação com os meios de comunicação. Estes estão aumentando sua capacidade de recepção e emissão de informações. O acesso a informações aumentou em qualidade e quantidade, principalmente pela possibilidade de receber, elaborar e emitir informações por diversos meios ao mesmo tempo. Este período que vivemos agora significa uma nova predominância, uma predominância de meios simultâneos. Não estaríamos transitando de um meio para outro, mas sim assumindo muitos meios para comunicar, preservar, desenvolver e criar nossos conhecimentos. Em certas culturas, de acordo com a somatória das habilidades dos seus indivíduos, predomina um determinado campo sobre os demais. E, conseqüentemente, seus conhecimentos são comunicados, preservados e elaborados por um meio correspondente. É fato que o inverso também pode acontecer: um meio mais disponível nessa cultura, por ser muito usado, faz com que os indivíduos desenvolvam muito mais as habilidades que sejam correspondentes a ele. E, por extensão, se uma cultura tem como predominantes vários meios de comunicação, terá como predominantes vários campos correspondentes. É benéfico, portanto, que uma sociedade atue em múltiplos meios de comunicação. Suas habilidades estarão mais expostas e suas informações terão mais veículos para receber, refletir e expressar novas idéias. É sintoma de que a sociedade passa a encarar seus indivíduos por uma abordagem mais ampla e complexa. Assim como os múltiplos meios, os múltiplos campos da mente são utilizados simultaneamente. Rudolf Arnheim explica, em Arte e percepção visual, que entendemos o mundo pela “simultaneidade” de percepções. (1992, 115) As percepções simultâneas da teoria de Arnheim são as habilidades em funcionamento simultâneo. E essa simultaneidade de habilidades dos campos da mente é análoga à simultaneidade de meios que hoje vivemos. A hipermídia trabalha com informações que exigem do usuário boa capacidade em diversas habilidades. Os usuários, por sua vez, são consumidores de informação exigentes e sabem que apenas uma fonte de informação não garante a veracidade de um fato. Estamos chegando a um estágio em que nossas atenções estão muito abertas e, por exemplo, uma notícia simplesmente narrada pelo repórter do telejornal não representa para nós a verdade absoluta e irrefutável. Um telejornal que pretenda que sua notícia convença o telespectador deve apresentá-la acompanhada de fotografias, filmagens, dados estatísticos e históricos, e torcer para que não fique em contradição com o que a mídia impressa divulgar no dia seguinte. Todos os pólos de comunicação de uma sociedade estão sempre tentando ampliar as suas ferramentas de emissão e de recepção. A televisão é interativa, o rádio é digital e do tamanho do planeta, o telefone é banco, loja etc., o computador é a secretária completa que cuida até dos afazeres domésticos e o usuário quer Uma coisa de cada agora / Ao mesmo tempo de uma vez, como diz o final da música “Uma coisa de cada vez” do disco
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
289
Tudo ao mesmo tempo agora, de autoria da banda paulistana Titãs. E essa convergência das mídias, conforme Henry Jenkis, (2006, 25) é mais que uma mistura tecnológica, ela altera as relações entre tecnologias, indústrias, mercados, gêneros e audiências. Neste momento, a tecnologia está expandindo o “telecommuting” que nada mais é do que trabalhar em casa e ficar ligado ao local de emprego pelo computador. As palavras de Benedito Nunes são esclarecedoras: Na sociedade greco-romana, técnica e ciência evoluíram separadamente. Técnica sem “logos”, técnica, mas não tecnologia, foi o que a Europa conheceu até a época da Revolução Industrial. … Ao lado do erudito letrado, do artista-artesão, o perito em mecânica, misto de sábio e de técnico, inventor e construtor, às vezes artista como Leonardo e Alberti e, precursor de engenheiro, tipo germinativo do cientista moderno, destacar-se-ia na rica inteligência das florescentes cidades italianas do Renascimento. “Galileu jovem não está nas universidades, mas nos arsenais de Veneza, entre gruas e cabrestantes”. (NUNES, 1985, 110)
Tecnologia e sociedade, há muito tempo, caminham unidas, uma beneficiando a outra. Assim como Décio Pignatari afirma: Ao contrário do que muita gente pensa, o computador e a televisão podem conduzir à descentralização - e não à centralização. Tal como a fotografia e o cinema, que ontem estavam nas mãos de especialistas, aquelas “máquinas” amanhã também estarão nas mãos das crianças e adolescentes. Como se fossem lápis e papel. E isso descentraliza. O sábio poder não é aquele que centraliza, mas o que souber proporcionar a descentralização, mais induzindo do que conduzindo. (PIGNATARI, 1984: 182-183)
Contudo, a movimentação da sociedade é aparentemente soberana em suas tomadas de decisões, porque quando há poucas alternativas para optar não significa que se tenha verdadeiramente liberdade de escolha. Isto quer dizer que o que vemos se constituir como grande revolução tecnológica é uma condução por aquilo que a indústria resolve em nos oferecer. São iluminadas as palavras de Álvaro Vieira Pinto em seu monumental estudo O conceito de tecnologia (2005): O transporte ferroviário só veio a se constituir em alvo da pesquisa inventiva quando se tornou patente a insuficiência da tração animal para movimentar volumosas e pesadas cargas, principalmente o carvão inglês, destinado à navegação e exportação. (2005, 244)
Outra frase de Pinto é fundamental para complementar o raciocínio: A suprema imposição moral e humanista dos dirigentes de nossos dias consiste em aproximar o homem e a técnica, em fazer as massas ingressarem na “era tecnológica”, para benefício ou, mais do que isso, para a “salvação” delas.
290
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
Cabe reparar no tom irônico das aspas em “salvação”, que significa que, mais do que salvar, os dirigentes querem conduzir o home e a técnica para o seu próprio benefício. (PINTO, 2005, 251)
Há um caso muito atual que exemplifica bem o raciocínio: em meados do ano de 2000, a empresa Constellation 3D lançou em Nova York o Fluorescent Multi-layer Disc (FMD), um disco de 120mm como o conhecido Compact Disc-CD. O FMD tem de 12 a 30 camadas de dados, ou data layers, com capacidade para comportar até 140 GB. O CD, lançado em 1984, suporta no máximo 800MB. O DVD, de 1995, comporta em uma camada até 4,7GB. O Blue-ray e o HD-DVD, lançados comercialmente em 2005, podem chegar a no máximo 25GB. A razão para a indústria não lançar mão do FMD antes de assumir o Blue-ray e o HD-DVD não é declarada, mas sabe-se que o DVD não substituiu o DVD imediatamente quando este foi lançado porque a indústria ainda precisava amortizar os seus custos de desenvolvimento da tecnologia anterior. Mas, por mais que se tente justificar este ou aquele produto, os dirigentes e suas empresas deixam claras as suas intenções e conduções do avanço tecnológico.
Bibliografia ARNHEIM, Rudolf. Arte e percepção visual: uma psicologia da visão criadora. São Paulo: Pioneira, 1992. AUMONT, Jacques. A imagem. Campinas, Papirus, 1993. BACHELARD, Gaston. O ar e os sonhos: ensaio sobre a imaginação do movimento. São Paulo: Martins Fontes, 1990. EISENSTEIN, Sergei. Reflexões de um cineasta. Rio de Janeiro: Zahar, 1969. GIACOMANTONIO, Marcello. Os meios audiovisuais. Lisboa: Edições 70, 1986. GOSCIOLA, Vicente. Roteiro para as novas mídias: do game à TV interativa. São Paulo: Senac, 2003. GREENFIELD, Patricia Marks. O desenvolvimento do raciocínio na era da eletrônica: os efeitos da TV, computadores e videogames. São Paulo: Summus, 1988. JENKIS, Henry. Convergence culture, where old new media collide. New York: New York University, 2006 MONACO, James. How to read a film. Oxford: Oxford University, 1981. NEYRAT, Cyril. “Cinéma em numérique”. Cahiers du Cinéma, n. 628, novembro 2007. NUNES, Benedito. ‘Cultura tradicional e cultura tecnológica’. Ensaio, São Paulo, n. 14, 1985. PINTO, Álvaro Vieira. O conceito de tecnologia. Rio de Janeiro: Contraponto, 2005, 2v (1328 p.).
* Vicente Gosciola – Universidade Anhembi Morumbi. Programa de Mestrado em Comunicação.
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
291
A CRÍTICA DE PAULO EMILIO NA REVISTA CLIMA JOSÉ INACIO DE MELO SOUZA*
T
omar Paulo Emilio Salles Gomes como tema não deixa de ser auspicioso por duas razões: a primeira delas é a comemoração, que ocorrerá neste ano de 2007, do trigésimo ano de sua morte (9 de setembro); em segundo lugar, esta data redonda será devidamente lembrada com o lançamento de uma nova edição dos seus textos pela Cosac e Naify, editora de São Paulo, a cargo do atual Secretário da Cultura do município de São Paulo, Carlos Augusto Machado Calil. O primeiro livro a aparecer é a quarta reedição da novela Três mulheres de três ppps, o seu único texto literário publicado em vida, seguindo-se o lançamento de um manuscrito muito comentado e conhecido por poucos amigos íntimos do autor, a primeira versão de uma segunda novela que recebeu o nome de batismo de Cemitério, dado pelo organizador. Para começar, vale a pena lembrar alguns traços da vida de Paulo Emilio para que possamos situar o nosso personagem. Paulo Emilio nasceu em São Paulo em 17/12/1916. Fez a sua escolaridade em duas tradicionais instituições de ensino paulistanas: o Jardim de Infância do Instituto Caetano de Campos e, depois, o Liceu Nacional Rio Branco, que existe até hoje, diplomando-se em 1933. Começou um cursinho preparatório para Medicina, já que seu pai era médico, mas foi atraído pela política. Ingressou na Juventude Comunista, levado pelo seu colega
de Rio Branco, Décio Pinto de Oliveira, e, em 1935, participou do movimento da Aliança Nacional Libertadora. Com o golpe comunista de novembro de 1935, foi preso, ficando em dois presídios políticos: o primeiro tinha o pitoresco nome de Paraíso, por se situar no bairro com o mesmo nome, e o segundo, não menos curioso, foi o Maria Zélia, situado numa fábrica desativada com este nome. Entre as duas cadeias ficou até fevereiro de 1937, quando por meio de um túnel fugiu com outros 17 presos do Paraíso. Com o centenário de Caio Prado Júnior, que também ficou nesse presídio improvisado, está se estabelecendo uma polêmica sobre quem teria feito o túnel da fuga, já que a primeira mulher de Caio teria ajudado no planejamento da construção do túnel e o próprio Caio teria colaborado na escavação, não tendo fugido somente porque estava doente. Esta versão é bastante discutível, mas a sua importância se situa no plano simbólico: dar uma proeminência aos comunistas na organização de uma atividade política da qual estavam, até agora, em segundo plano. Em 1937, a perseguição política à esquerda tinha acalmado, e Paulo conseguiu um passaporte para imigrar para a França. Em Paris, ele realizou vários cursos, Literatura e Jornalismo, principalmente; trabalhou em programas de língua portuguesa da rádio France International; atuou em grupos teatrais; participou de congressos os mais variados; escreveu para revistas de esquerda e de direita, enfim, continuou a agitação política e cultural que tinha desenvolvido entre 1934 e 1937 em São Paulo. O que vale destacar do percurso europeu de Paulo Emilio foi a descoberta do cinema. Em São Paulo, ele era um fã como outro qualquer. Em Paris, ele teve contato com Plínio Sussekind Rocha, um professor de Física do Rio de Janeiro que fazia um curso de pós-graduação. Ora, Plínio, além de ser considerado o único antifascista entre toda a comunidade estudantil brasileira de Paris, tinha sido participante do Chaplin-Club, o primeiro cineclube a ser fundado no Brasil, cujas atividades se desenvolveram entre 1928 e 1930. O pilar de atuação do Chaplin-Club era a defesa do cinema mudo contra a invasão do cinema sonoro. Eles realizavam exibições de filmes, foram entusiastas de Limite, de Mário Peixoto, e publicavam uma revista, O Fan. Em Paris, Plínio fez com que Paulo Emilio conhecesse os clássicos do cinema de montagem (O Encouraçado Potenkim, de Sergei Eisenstein, por exemplo), além de Charles Chaplin, que era o ídolo máximo dos membros do Chaplin-Club, daí o nome óbvio, iniciando-o no valor da imagem muda. Na busca por exemplares do cinema mudo, ele passou a freqüentar o Cercle du Cinéma, que era um cineclube dirigido por Henri Langlois, mais tarde, diretor da Cinemateca Francesa. Portanto, a transformação de um fã em cinéfilo é o fator de destaque desta primeira viagem de Paulo à França, fato este que passa pela experiência carioca de 1928-30. Paulo não guardou para si esta novidade, passando imediatamente a divulgá-la entre os seus amigos que o visitavam em Paris ou com quem se correspondia. Em São Paulo, Décio de Almeida Prado, que era seu amigo de adolescência e tinha cursado a Faculdade de Filosofia da USP, convenceu a sua turma, que não era uma turma qualquer se lembrarmos que dela faziam parte uspianos de primeira linha como Antonio Cândido, Lourival Gomes Machado e Gilda de Morais Rocha, na criação de um cineclube nos moldes do Cercle du Cinéma, do qual Paulo Emilio seria o representante europeu para a obtenção de filmes importantes. Porém a II Guerra Mundial estourou e Paulo Emilio embarcou de volta para São Paulo. Com o retorno, Paulo pode finalmente se matricular na FFLCH, bacharelando-se em Filosofia em 1944, numa turma em que havia somente três professores de Filosofia.
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
293
Afora o trabalho político de Paulo Emilio junto aos alunos do Grêmio da FFLCH/ USP e na Campanha da Borracha na Amazônia, interessa-nos acompanhar suas atividades na crítica cinematográfica. A atividade como crítico se deu na revista Clima, fundada por este grupo de alunos da FFLCH acima referidos. A revista apareceu em maio de 1941 e, com algumas interrupções, circulou até 1944, num total de 16 números. As seções foram divididas dentro das áreas de interesse de cada um, ficando Antonio Candido com a de Literatura, Décio de Almeida Prado com a de Teatro e Paulo com a de Cinema, perfil que se manteria nos anos seguintes. Quando foi criado o Suplemento Cultural do jornal O Estado de S. Paulo na década seguinte (1956), esta distribuição se manteve praticamente igual. Nesse início da década de 1940, todos os jornais importantes já tinham o seu crítico de cinema. Grosso modo, a prática do comentário cinematográfico estava na imprensa, principalmente carioca, desde as primeiras sessões do Omniógrafo, em julho de 1897. Quando os norteamericanos dominaram o nosso mercado após a I Guerra Mundial, trouxeram novas técnicas de difusão dos filmes. Podemos ver na revista Para Todos, publicada a partir de 1918, um primeiro exemplo de sistematização dessa posse do mercado pelo filme estrangeiro. A atividade não era um reduto dos jornalistas especializados, pelo contrário, pois nomes importantes como o jurista Canuto Mendes de Almeida e o poeta Guilherme de Almeida ou de cineastas como Pedro Lima, Adhemar Gonzaga e Octavio Gabus Mendes praticaram a crítica. Portanto, devemos nos perguntar qual o diferencial trazido por Paulo para a revista Clima. A primeira delas foi ressaltada por Antonio Candido ao dizer que, em Clima, Paulo inaugurou o ensaísmo em Cinema. Se todos os jornais tinham o seu crítico, devemos nos lembrar também que a atividade estava limitada pelo padrão imposto pela crítica das revistas especializadas (primeiro Para Todos, depois A Scena Muda e Cinearte), restringindo-se a um par de colunas contendo cerca de 100 palavras com notícias de Hollywood, padrão criado na esteira da invasão norte-americana, que inundou as redações de press-releases com gossips sobre o star system, acrescidas de fotografias no estilo da revista Photoplay. Ora, a primeira crítica de Paulo Emilio sobre o filme de John Ford A Longa viagem de volta (The Long voyage home) tinha cerca de 13 páginas, 420 linhas e mais de 1.200 palavras. O segundo diferencial trazido por Paulo foi explicitar o seu aprendizado sobre o cinema mudo tomado em Paris com Plínio Sussekind, ligando a crítica de Clima com a que era feita em O Fan. Para clarear este fato vamos fazer uma pequena apresentação do Chaplin-Club e de sua publicação (o livro de Ismail Xavier, Sétima arte: um culto moderno, possui um capítulo inteiramente dedicado a ele). O Chaplin-Club foi fundado em 13/6/1928 por quatro jovens intelectuais: Octavio de Faria, Plínio Sussekind Rocha, Almir Castro e Cláudio Melo. Dos quatro, os dois primeiros teriam uma longa carreira no cinema brasileiro. O primeiro como crítico ativo até a década de 1970 e o segundo como o guardião, defensor de primeira hora do filme de Mário Peixoto, Limite, e difusor do seu vanguardismo. Se a única cópia de Limite sobreviveu à destruição, isto se deve a Plínio Sussekind Rocha. Eles prezavam o cinema europeu, as vanguardas produzidas pelo cinema alemão como o Expressionismo, e o cinema de montagem soviético. Como foi dito, lutarão contra a imposição do cinema sonoro por Hollywood. O veículo de difusão das discussões do grupo, a revista O Fan, publicou nove números entre agosto de 1928 e dezembro de 1930. 294
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
O comentário crítico dos filmes em exibição não é a seção mais importante da revista, e sim as matérias teóricas sobre o significado da imagem cinematográfica. Porém, para assinalarmos um dos pontos de continuidade entre O Fan e Clima lembremos que esta idéia do ensaísmo indicada por Antonio Candido estava presente na revista já em 1928-30. Ao contrário de Cinearte ou dos jornais, O Fan dedicava várias laudas e colunas para os filmes importantes. Por exemplo, A Caixa de pandora de Pabst foi analisada por dois críticos da revista, Octavio de Faria e Annibal Nogueira Júnior, sendo que cada um dedicou uma média de 7 páginas ao filme, num total de quase 500 linhas e uma média de 3.000 palavras no total. Ou seja, o ensaísmo de Paulo Emilio foi moldado por esta liberdade de expressão estabelecida em O Fan, cuja única coleção existente em São Paulo, creio eu, é a que se encontra justamente na Biblioteca de Paulo Emilio arquivada na Cinemateca Brasileira. Isto mostra como ele se interessou pelos ensinamentos de Plínio Sussekind Rocha em Paris, continuando em São Paulo pela aquisição e leitura da coleção de O Fan, dez anos depois da sua interrupção. Estabelecida esta ligação com o Chaplin-Club, passemos à segunda contribuição da crítica de Paulo Emilio que é a expressão do seu aprendizado por meio dos textos que publicou. Paulo Emilio escreveu críticas nos números de 1 a 7 de Clima, ou seja, de maio a dezembro de 1941, e nos números 9-10-11 (abril-agosto de 1942). Ele escreveu sobre cinco filmes norte-americanos, dois franceses, fez dois balanços, um sobre a produção exibida em São Paulo e outro sobre a polêmica do mudo versus falado; coordenou um número dedicado ao filme de Walt Disney, Fantasia. Sobre o cinema brasileiro, escreveu um único comentário. Discutiu Aves sem ninho, dirigido por Raul Roulien, em 1939, com o patrocínio de D. Darcy Vargas, crítica inserida dentro do balanço semestral de 1941. O comentário sobre o solitário filme brasileiro tinha um alvo bem determinado: fazer agitação política contra a ditadura varguista. Ou seja, o seu interesse pelo cinema brasileiro era bem reduzido. Na sua crítica vemos alguns aspectos do aprendizado teórico no sentido definido pelo O Fan com o destaque para a figura do diretor, que mais tarde desembocaria, com a crítica francesa, na política dos autores; outros dois pontos são os aspectos dirigidos à História do Cinema e a pedagogia do olhar. Como já me referi, todos na época eram fãs, ou seja, dava-se pouca importância ao diretor do filme, à marca da autoria. Hollywood já tinha estatuído que o cinema americano era um cinema de produtor, havendo pouca margem de manobra para o diretor. Como O Fan destacava o diretor, Paulo Emilio também seguirá a mesma trilha. A segunda ligação encontrava-se na explicitação de uma história do cinema americano ou europeu, de forma a deixar claro para os leitores os pontos principais de uma evolução que tinha desembocado na crise do cinema falado, questão crucial para o Chaplin-Club. A pedagogia do olhar a que estou me referindo dizia respeito à visualização do filme um número de vezes que fosse conveniente para sua apreensão como fenômeno cultural (marca da cinefilia, ou seja, ver o filme como pertencente ao movimento cultural, desprezando-se o objeto de diversão inconseqüente). Ou seja, um filme importante numa época sem VHS ou DVD, em que só se assistia a película na sala do cinema, devia ser visto mais de uma vez, de preferência cinco ou dez vezes. Paulo Emilio escreveu que precisou assistir ao Cidadão Kane umas quatro vezes, para que a força do ator Orson Welles diminuísse e se ressaltasse a figura do personagem do filme, o que permitiu uma primeira
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
295
abordagem crítica da fita. Isso estabeleceu um padrão, sendo seguido por outros críticos que declararam ter visto O Encouraçado Potenkim ou Os Cavaleiros de ferro, ambos de Eisenstein, 13 ou 15 vezes. No que Paulo Emilio vai se diferenciar da geração do Chaplin-Club? Para responder a esta questão é preciso recordar que Vinicius de Moraes, que era crítico cinematográfico do jornal A Manhã, no Rio de Janeiro, tinha trazido à tona a discussão do mudo e do falado, retomando a polêmica que desembocara no fechamento de O Fan. Vinicius se dedicará ao tema a partir de 9/8/1941, provocando um debate público principalmente depois da chegada de Orson Welles ao Rio de Janeiro para as filmagens daquilo que ficou conhecido com o título de It’s all true. Paulo Emilio se propôs a escrever uma defesa do cinema mudo para publicação no jornal carioca, mas não o fez. E não o fez justamente porque tinha ficado muito impressionado com Cidadão Kane, a sua melhor crítica para Clima, que era um filme sonoro. Esta contradição, que ele explicitou muito mais tarde, a de fazer a defesa do cinema mudo quando a discussão girava em torno das novidades trazidas por Cidadão Kane era uma visão contrária ao do Chaplin-Club, que recuara, fechando-se com a vitória do filme sonoro. Para Paulo Emilio a discussão do filme silencioso era uma necessidade, mas a aceitação de sua verdade como única estava em debate diante da evolução do cinema. Para terminar, em linhas gerais estas são as características da contribuição de Paulo Emilio para a crítica cinematográfica do começo da década de 1940. Uma crítica que retorna às questões de uma tradição anterior, fazendo uma releitura que, diante das contradições apresentadas pelas evoluções do cinema, da imprensa e do movimento cultural, a joga por um novo caminho. Ou seja, podemos perceber uma ligação entre a teoria cinematográfica esboçada na década anterior e a nova geração de críticos que começa a atuar nesta época, cujos nomes, no sul do Brasil, são Paulo Emilio, Vinicius de Moraes, Almeida Salles, Ruy Coelho e Ruben Biáfora (no Recife, Luciana Araújo descobriu seguidores de O Fan com uma nova geração, composta por Aluízio Bezerra Coutinho, Danilo Torreão e Nehemias Gueiros, ativa até 1930). Além da teoria cinematográfica nós temos um leque de posturas que vão do enfrentamento do filme como fenômeno artístico, passando por locais para a fruição deste artefato (cineclubes e museus de arte), que se alimenta da cinefilia, cuja expansão vai se dar ao longo da década. Esse elenco de atividades culturais acabou forçando a entrada do cinema como matéria de ensino nas universidades. Após este percurso, não é difícil perceber que a base inicial está no trabalho de Paulo Emilio em Clima.
* José Inacio de Melo Souza é Doutor pela ECA/USP.
296
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
A DIALÉTICA ENTRE
O NÃO SER E O SER OUTRO
NA CRÍTICA DE CINEMA DE ROGÉRIO SGANZERLA1 SAMUEL PAIVA*
O
utros títulos possíveis para este texto poderiam ser “A alteridade nacional na crítica de cinema de Sganzerla” ou então “Nem tudo é Brasil na crítica de cinema de Sganzerla”. Na verdade, a escolha do título que resultou por fim para esta exposição tem o interesse maior, de antemão, de conectar o trabalho de Rogério Sganzerla com o pensamento de Paulo Emilio Salles Gomes, sobretudo quando este afirma, no texto Cinema: trajetória no subdesenvolvimento que:1 Não somos europeus nem americanos do norte, mas destituídos de cultura original, nada nos é estrangeiro, pois tudo o é. A penosa construção de nós mesmos se desenvolve na dialética rarefeita entre o não ser e o ser outro.2
Apesar de o trabalho de Sganzerla como diretor ser bastante conhecido, sobretudo o clássico O bandido da luz vermelha (1968), sua produção como crítico ainda é pouco explorada. A minha proposta neste momento é justamente discutir um pouco esta dimensão do 1 Palestra apresentada no I Seminário Estudos Contemporâneos do Audiovisual, em 21 de março de 2007. 2 Paulo Emilio Salles Gomes, Cinema: trajetória no subdesenvolvimento. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1980, p. 77. Texto publicado inicialmente em Argumento, revista de cinema brasileiro, São Paulo, nº 1, outubro de 1973.
seu trabalho como crítico, tomando como referência a minha tese de doutoramento, que se intitula A figura de Orson Welles no cinema de Rogério Sganzerla.3 Na tese, procurei discutir o pensamento desse autor, revelado em suas críticas, nas quais ele empreende o que poderíamos dimensionar como um projeto teórico, definindo sua compreensão do cinema a partir de conceitos próprios. Na pesquisa em questão, confrontei esses conceitos, utilizando-os para a análise dos filmes do próprio Sganzerla, sobretudo a tetralogia inspirada em Orson Welles e o seu projeto inacabado, It´s all true (1942). A tetralogia compreende Nem tudo é verdade (1986), Linguagem de Orson Welles (1991), Tudo é Brasil (1997) e O signo do caos (2003). Meu interesse era desvendar os sentidos implicados na figura de Orson Welles, figura que está presente de uma maneira fundamental em todos esses filmes e mesmo em outros, ainda que com modulações diversas. Já nos primeiros momentos da pesquisa, quando eu tentava cercar o objeto de estudo em questão, começaram a surgir as primeiras pistas interessantes para o trabalho, justamente quando iniciei a leitura das críticas. Havia pela frente um universo amplo, afinal, o percurso de Sganzerla como crítico compreende várias publicações em momentos diversos: O Estado de S.Paulo (1964-1967), Jornal da Tarde (1966-1967), Folha da Tarde (1967) e Folha de S.Paulo (1978-2003). Decidi então começar pelo começo, lendo os textos que ele escreveu para o Suplemento Literário do jornal O Estado de S.Paulo. Ora, esse Suplemento Literário era um espaço por onde circulava toda uma geração de intelectuais fundamentais para a crítica moderna no Brasil, em diversos campos da produção cultural: literatura, teatro, cinema, etc. José Inacio de Melo Souza, na biografia que escreveu de Paulo Emilio Salles Gomes, diz que o Suplemento foi pensado e planejado originalmente por Antonio Candido.4 Como entretanto Antonio Candido não tinha interesse em assumir a coordenação do projeto, indicou Decio de Almeida Prado para tal função. No mesmo jornal, entre 1950 e 1961, Almeida Salles também exerceu a crítica quase diária, voltando a escrever especificamente para o Suplemento Literário em 1965 e 1966, quando voltou de Paris, onde estivera como adido cultural desde 1962. Por sua vez, Paulo Emilio Salles Gomes passou a colaborar para o Suplemento escrevendo semanalmente, de 1956 a 1960, e posteriormente com artigos intermitentes até 1965. Sganzerla entra nesta história quando chegando em São Paulo, no início da década de 1960, ele começa a freqüentar as sessões promovidas pela Cinemateca Brasileira, iniciando-se na atividade cineclubista graças a Almeida Salles, sendo logo conduzido a um espaço onde os cinéfilos freqüentadores da Cinemateca costumavam publicar artigos, justamente o Suplemento Literário do jornal O Estado de S. Paulo. Como afirma Rubens Machado Jr.: Decio de Almeida Prado, que dirigia então o Suplemento Literário do jornal O Estado de S.Paulo, ampara o jovem talento, que viria a desempenhar um papel discreto, mas sistemático, de intérprete e defensor do Cinema Novo, um tanto solitário na imprensa paulista.5 3
Tese defendida na Escola de Comunicações e Artes (ECA) da Universidade de São Paulo (USP), em maio de 2005, sob orientação do Prof. Dr. Rubens Machado Jr. 4 Para quem quiser conhecer esta história, é recomendável a leitura da biografia escrita por José Inacio de Melo Souza: Paulo Emilio no Paraíso (Rio de Janeiro/São Paulo: Editora Record, 2002). 5 Rubens Machado Jr., “Sganzerla, Rogério”, in RAMOS, Fernão, MIRANDA, Luiz Felipe (orgs.). Enciclo-
298
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
Contudo, antes de considerar a adesão e a posterior ruptura de Sganzerla com o Cinema Novo, o que sem dúvida é um ponto importante para a compreensão de sua atuação como crítico e também como realizador, eu me perguntei o seguinte: o que teria Sganzerla aprendido com os seus mestres do Suplemento Literário? Mais uma vez, a biografia de Paulo Emilio Salles Gomes escrita por José Inácio de Melo Souza foi uma fonte preciosa, especialmente quando discute o impacto da presença de Orson Welles em 1942 para as polêmicas que, à época, envolviam os defensores do cinema mudo contra o cinema sonoro e vice-versa. Um divisor de águas dessa polêmica foi justamente Cidadão Kane (1941), de Orson Welles, filme que conseguiu demover a posição de um empedernido defensor do cinema silencioso, como Vinicius de Moraes, que a partir de Cidadão Kane passou admitir o “som como função do movimento”.6 O impacto que Cidadão Kane causou em Paulo Emilio não foi menos significativo. Prova disso são os artigos que ele escreve para o Suplemento Literário sobre Orson Welles e sua obra-prima, mesmo que muito tempo depois da polêmica referida. Com o seu estilo por vezes econômico, Paulo Emilio observa muitos aspectos entre Welles e Cidadão Kane. Destaca, por exemplo, o prodígio revelado desde a infância – “Orson Welles nunca se tornou realmente um adulto” –; atenta para suas características fundamentais – “a voz, a presença, o talento como diretor, o americanismo” –, virtudes associadas à experiência do rádio, do teatro, do espetáculo; discute o embate de Welles com a indústria; analisa o enigma como fio condutor da história de Kane; chama a atenção para a relação desse personagem com o próprio Welles (mais do que com William Hearst).7 Mas um dos aspectos mais importantes relacionados às observações de Paulo Emilio sobre Orson Welles, quando está em pauta a presença deste como figura na obra de Sganzerla, relaciona-se com a seguinte citação, parte final de um artigo sobre Charles Foster Kane escrito para o Suplemento Literário: “Obra profundamente americana, esse primeiro filme de Orson Welles é um convite para meditarmos sobre o sucesso e a frustração”.8 De fato, a dialética do sucesso e da frustração, apontada por Paulo Emilio a propósito de Welles, logo se tornou para mim uma chave preciosa em termos de uma possível percepção da figura de Welles no cinema de Rogério Sganzerla. A essa altura, claro, já era um dado concreto de tal possibilidade a dialética “um gênio ou uma besta” que se encontra em O bandido da luz vermelha. Daí por diante era seguir com a investigação, confrontando um e outro, Sganzerla e Paulo Emilio. Segui com a leitura das críticas de Sganzerla, dos textos que ele escreveu para o Suplemento Literário. E à medida que eu lia esses textos, ecoava Cinema: trajetória no subdesenvolvimento, ensaio no qual são apresentadas duas noções fundamentais, as noções de “ocupante” e “ocupado”, conceitos que já deram margem a muita discussão e até mesmo a algumas polêmicas. Em grande parte, essas polêmicas resultaram de uma pédia do cinema brasileiro. São Paulo: Editora Senac, 2000, p. 510. 6 Ver José Inácio de Melo Souza, op. cit., p. 109. 7 Ver Paulo Emilio Salles Gomes, “Orson Welles, o americano”, in Crítica de cinema no Suplemento Literário, vol. 1. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981, pp. 272-273. Esse artigo foi publicado pela primeira vez, no Suplemento Literário, em 15 de fevereiro de 1958. 8 Ver Paulo Emilio Salles Gomes, “Charles Foster Kane”, in Crítica de cinema no Suplemento Literário, vol. 1. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981, p. 279. Artigo publicado pela primeira vez, no Suplemento Literário, em 22 de fevereiro de 1958.
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
299
leitura das categorias “ocupante” e “ocupado” que não levavam em conta uma certa, digamos, ambigüidade dos termos. Jean-Claude Bernardet, por exemplo, relembra aquela que constituiu, ao que parece, a primeira discussão pública sobre Cinema: trajetória no subdesenvolvimento.9 Ocorreu em um Encontro de Cinema Brasileiro promovido pelo Centro de Artes Cinematográficas da PUC-RJ (entre 17 e 19 de outubro de 1973). Em um dado momento, segundo Bernardet, Sérgio Santeiro fez uma colocação que indubitavelmente relacionava os cineastas com os ocupados e, apesar de todas as ambigüidades do texto em relação a tal possibilidade, ninguém se opôs a essa idéia. Algum tempo depois, mais precisamente em 27 de outubro 1977, houve um outro debate sobre Cinema: trajetória no subdesenvolvimento, no Museu Lasar Segall, em São Paulo, que contou com a presença de Antonio Candido, Maria Rita Galvão, Ismail Xavier, Jean-Claude Bernardet e Maurício Segall. Mais uma vez, a ambiguidade em torno dos conceitos de “ocupante” e “ocupado” vieram à tona. E para alguns dos participantes da mesa-redonda, como Antônio Cândido e Maria Rita Galvão, o ponto-chave desta ambigüidade estava, como afirmaram, justamente no trecho do ensaio de Paulo Emilio em que ele afirma que “não somos europeus nem americanos do norte, mas destituídos de cultura original, nada nos é estrangeiro, pois tudo o é” e que “a penosa construção de nós mesmos se desenvolve na dialética rarefeita entre o não ser e o ser outro”.10 E assim chegamos ao cerne da questão que eu procuro trazer para esta discussão: a dialética entre o não ser e o ser outro na crítica de cinema de Rogério Sganzerla. Eu tinha então uma hipótese para averiguar as diversas representações de Orson Welles na obra de Sganzerla. Welles poderia ser e não ser estrangeiro, assim como Sganzerla, em sua identificação com Welles, poderia ser e não ser brasileiro. Suas identidades, ou melhor, suas identificações poderiam assumir dimensões transculturais, ultrapassando os limites do “nacional por subtração”, ou seja, extrapolando a tendência que procura compreender o nacional como algo puro, intocado, sem contato ou relação com o elemento que vem do exterior, aspecto recorrente na cultura brasileira, como observa Roberto Schwarz.11 E, de fato, a hipótese da transculturação envolvendo Welles-Sganzerla foi se confirmando. Nesse sentido, outra fonte importante para a pesquisa foi o estudo de Catherine Benamou sobre o “cinema transcultural de Orson Welles”.12 Na verdade, a observação da produção de Sganzerla como crítico aponta para uma tensão permanente da questão nacional-estrangeiro. Sua estréia no Suplemento Literário ocorre com dois belos artigos sobre Os cafajestes (Ruy Guerra, 1962).13 Depois, vêm muito outros textos que tratam sobretudo de realizadores vinculados direta ou indiretamente 9 A propósito, ver a transcrição das colocações presentes na mesa-redonda sobre Cinema: trajetória no subdesenvolvimento em Filme cultura, ano XIII, jul.-ago.-set., 1980, número 35/36, pp. 2-19. 10 Sobre a ambigüidade dos termos “ocupante” e “ocupado”, ver Samuel Paiva, “Cinema ocupante ou ocupado: noções de Paulo Emilio, in FABRIS, Mariarosaria; CATANI, Afrânio Mendes; GARCIA, Wilton, et. al. (orgs.). Estudos de cinema Socine: ano V. São Paulo: Panorama, 2003, pp. 375-382. 11 Ver Roberto Schwarz, “Nacional por subtração”. In: ______. Que horas são?: ensaios. São Paulo: Companhia das Letras, 1987, pp. 29-48. 12 Trata-se da tese de doutorado de Catherine Benamou, Orson Welles’s transcultural cinema: an historical/ textual reconstruction of the suspended film, It’s All True, 1941-1993. Department of Cinema Studies, New York University, 1997. Posteriormente, a tese foi publicada. Ver Catherine Benamou, It’s all true – Orson Welles Pan-american odyssey. California: University of California Press, 2007. 13 Rogério Sganzerla, “Revisão de Os Cafajestes I”, publicado no Suplemento Literário de O Estado de S. Paulo em 04/01/1964 e “Revisão de Os Cafajestes II”, publicado em 11/01/1964.
300
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
ao Cinema Novo, tais como Humberto Mauro, Glauber, Saraceni, David Neves, Cacá Diegues. Entre os estrangeiros, destacam-se eminentemente Godard e Orson Welles. É relevante notar, com a leitura desses textos, como os filmes e os cineastas, brasileiros ou estrangeiros, servem como ponto de partida para Sganzerla construir a sua teoria do cinema, fundada em conceitos tais como: a câmera e a visão cínicas, a morte como saída, o herói fechado, o tempo solto, o cinema-ensaio, o cinema do corpo, o expressionismo caipira, entre outros. Em relação a Orson Welles, a maneira como ele é considerado nessas críticas publicadas no Suplemento Literário expressa uma imprecisão na delimitação de sua figura. Na verdade, Welles se constitui como uma figura de contrastes, paradoxal e por vezes até contraditória. Em um momento, por exemplo, como criador de Cidadão Kane, Welles é o precursor da construção narrativa moderna. É o criador do “herói fechado” (sobre quem não é possível se afirmar nada efetivamente conclusivo), que representa o enigma da existência.14 Mas, em outro momento, Welles é considerado pejorativamente mais um expressionista, um realizador que foge à pura visibilidade, sem estar entre os realizadores de cinema-cinema, fazendo parte do grupo de diretores do cinema-romance, que ainda estabelece julgamentos morais, evitando a visão cínica. Por vezes, Welles é citado (nos textos de Sganzerla sobre Viver a vida, de Godard, por exemplo) até mesmo como um cineasta antiquado, porque faz julgamentos morais.15 Estas oscilações a respeito da importância de Orson Welles para o cinema moderno, verificadas no Suplemento Literário do jornal O Estado de S.Paulo, na verdade, são os primeiros movimentos de algo que, tanto nas críticas de Sganzerla escritas em outros periódicos como também nos seus filmes, vai alcançar diversas variações. Os textos da Folha da Tarde e principalmente os do Jornal da Tarde, por exemplo, dialogam com os produtos da indústria cultural voltada para públicos amplos, da cultura de massa. Sganzerla embarca nesse espírito, sem perder sua visão crítica, mas assumindo o tom oportuno à comunicação almejada. O humor aparece já no título de matérias como “Alma penada não morre do coração”16 ou então “Siga nosso conselho e passe longe do cinema”.17 É enorme a quantidade de filmes que ele assistiu dentro dessa linha de produção industrial em que se proliferam diversos gêneros, tais como western, policial, melodrama, horror etc. O cotejo entre suas críticas publicadas na Folha da Tarde e no Jornal da Tarde e os seus filmes explica em alguma medida a elaboração paródica empreendida a partir de gêneros diversos, especialmente a Chanchada (notadamente em Nem tudo é verdade) e o filme noir (em O signo do caos). Já na Folha de S.Paulo é possível o reconhecimento de uma fase da crítica de Sganzerla que eu costumo denominar como a das mitologias. Sobre os eventos por ele reportados impõe-se categórica a sua visão nesse momento, a sua fala absolutamente subjetiva, como conteúdo e forma, nesse final dos anos 1970, início dos anos 1980. Ele escolhe personalidades – como Jimi Hendrix, Noel Rosa, Alberto Cavalcanti, João Gilberto e Orson 14 Ver a propósito os artigos “Cidadão Kane”, publicado no Suplemento Literário de O Estado de S. Paulo em 07/08/1965, e “O Legado de Kane”, no mesmo Suplemento, em 28/08/1965. 15 A propósito, ver os artigos “Viver a Vida I”, publicado no Suplemento Literário de O Estado de S. Paulo em 05/12/1964 e “Viver a Vida II”, publicado em 12/12/1964. 16 Rogério Sganzerla, “Alma Penada Não Morre do Coração”. Jornal da Tarde, 01/03/1966. 17 Rogério Sganzerla, “Siga o Nosso Conselho e Passe Longe do Cinema”. Jornal da Tarde, 17/05/1966.
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
301
Welles, entre outros –, todos percebidos como gênios incompreendidos graças à estreiteza do universo que os rodeia, composto de indivíduos e instituições anódinas. Esses gênios incompreendidos encontram-se em vários lugares do mundo, em tempos distintos, mas guardam entre si muitas semelhanças, independentemente de suas nacionalidades, idades, culturas. Eles incorporam e refletem a visão de Sganzerla e passam a constituir seu sistema de significação, em um cinema que persegue o “sem limite”.18 De volta aos filmes, nestes a representação de Orson Welles tampouco tem limite. Pode assumir inúmeras elaborações e conotações. Como prova, observem-se os diferentes tratamentos de suas figuras em Nem tudo é verdade, Linguagem de Orson Welles, Tudo é Brasil e O signo do caos. Em Nem tudo é verdade, como no jogo de espelhos de A dama de Shangai (Orson Welles, 1947), a figura de Welles resulta de uma multiplicação da sua imagem: há a encenação de Arrigo Barnabé contraposta à voz do próprio cineasta e às vozes de seus personagens, principalmente às provenientes de Cidadão Kane e A marca da maldade (Orson Welles, 1958). Em Linguagem de Orson Welles, o cineasta americano é constituído pela voz dos Outros. O Outro que se destaca é principalmente Grande Otelo, que por vezes encarna em si o próprio Welles, assumindo sua voz e a referência a Shakespeare. Em Tudo é Brasil, mais uma vez não há a construção de uma identidade fechada do protagonista, que perseguimos na colagem de inúmeros trechos de programas de rádio, recortes gráficos e trechos de filme. Em O signo do caos, Welles é representado como uma metonímia, do tipo o autor pela obra, no caso, It´s all true, o filme cuja projeção define uma dimensão da memória do próprio cinema. Em todos esses filmes, será impossível a definição de uma identidade precisa para essa figura sem limites, Orson Welles, como, aliás, também não têm limites os personagens do próprio Bandido da Luz Vermelha e do Cidadão Kane. Na verdade, como já é possível perceber desde os textos do Suplemento Literário, a figura de Orson Welles, sendo uma figura que se conjuga com o sem-limite, associa-se coerentemente ao enigma fundamental que persegue toda a obra de Sganzerla, formulada claramente nos momentos iniciais do Bandido: “Quem sou eu?” – a pergunta que não se responde senão com a colocação de possibilidades díspares, contraditórias: “um gênio ou uma besta …” Tal estratégia de busca do sem-limite está certamente relacionada à dialética do sucesso-fracasso que Paulo Emilio notara a propósito de Cidadão Kane. Relaciona-se a uma figura que atinge um estado impreciso – circulando por instâncias diversas entre o desenvolvido e o subdesenvolvido, o estrangeiro e o nacional, o branco e o preto, o norte e o sul, o ocupante e o ocupado, fugindo entretanto às limitantes oposições binárias, que procuram resolver os processos de dominação simplesmente invertendo a posição de dominadores e dominados. Nas críticas como nos filmes de Sganzerla, estamos de fato diante de uma estratégia poética criada por um realizador que experimenta, em termos temáticos e formais, a ultrapassagem dos limites que pode nos confirmar a possibilidade de um “multiculturalismo policêntrico”.19 18 A questão do sem-limite no cinema de Sganzerla está relacionada ao seu livro Por um cinema sem limite (Rio de Janeiro: Azougue Editorial, 2001), no qual ele apresenta uma coletânea de suas críticas publicadas em jornais. 19 Sobre a idéia de “multiculturalismo policêntrico”, ver Ella Shohat e Robert Stam, Crítica da imagem eurocêntrica: multiculturalismo e representação. Trad. Marcos Soares. São Paulo: Cosac Naify, 2006.
302
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
Bibliografia AUERBACH, Erich. Figura. Trad. Duda Machado. São Paulo: Ática, 1997. BENAMOU, Catherine. Orson Welles’s transcultural cinema: an historical/textual reconstruction Of the suspended film, It’s All True, 1941-1993. Department of Cinema Studies, New York University, 1997. BENAMOU, Catherine. It’a all true – Orson Welles Pan-american odyssey. California: University of California Press, 2007. Filme cultura, ano XIII, jul.-ago.-set., 1980, número 35/36. GOMES, Paulo Emilio Salles. Cinema: trajetória no subdesenvolvimento. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1980. GOMES, Paulo Emilio Salles Gomes. “Orson Welles, o americano”. In: Crítica de cinema no Suplemento Literário, 2 vols. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981. MACHADO JR., Rubens. “Sganzerla, Rogério”. In: RAMOS, Fernão, MIRANDA, Luiz Felipe (orgs.). Enciclopédia do cinema brasileiro. São Paulo: Editora Senac, 2000. PAIVA, Samuel. “Cinema ocupante ou ocupado: noções de Paulo Emilio, in FABRIS, Mariarosaria; CATANI, Afrâncio Mendes; GARCIA, Wilton, et. al. (orgs.). Estudos de cinema Socine: ano V. São Paulo: Panorama, 2003, pp. 375-382. PAIVA, Samuel José Holanda de. A figura de Orson Welles no cinema de Rogério Sganzerla. Departamento de Cinema, Televisão e Rádio, Escola de Comunicações, Universidade de São Paulo, 2005. SHOHAT, Ella; STAM, Robert. Crítica da imagem eurocêntrica: multiculturalismo e representação. Trad. Marcos Soares. São Paulo: Cosac Naify, 2006. SCHWARZ, Roberto. “Nacional por subtração”. In: ______. Que horas são?: ensaios. São Paulo: Companhia das Letras, 1987. SGANZERLA, Rogério.“Revisão de Os Cafajestes I”. Suplemento Literário, O Estado de S. Paulo 04/01/1964. SGANZERLA, Rogério. “Revisão de Os Cafajestes II”. Suplemento Literário, O Estado de S. Paulo, 11/01/1964. SGANZERLA, Rogério. “Viver a Vida I”. Suplemento Literário, O Estado de S. Paulo, 05/12/1964. SGANZERLA, Rogério. “Viver a Vida II”. Suplemento Literário, O Estado de S. Paulo, 12/12/1964. SGANZERLA, Rogério. “Cidadão Kane”. Suplemento Literário, O Estado de S. Paulo, 07/08/1965. SGANZERLA, Rogério. “O legado de Kane”. Suplemento Literário, O Estado de S. Paulo, 28/08/1965. SGANZERLA, Rogério. “Alma penada não morre do coração”. Jornal da Tarde, 01/03/1966. SGANZERLA, Rogério. “Siga o nosso conselho e passe longe do cinema”. Jornal da Tarde, 17/05/1966. SGANZERLA, Rogério. Por um cinema sem limite. Rio de Janeiro: Azougue Editorial, 2001.
* Samuel Paiva é professor do Mestrado em Imagem e Som, UFSCar.
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
303
A escrita fílmica e a pós-imagem no diálogo do cinema com a pintura1 EDUARDO PEÑUELA CAÑIZAL*
M
uito tem se escrito sobre as relações do cinema com a pintura. Mas, considerando a riqueza do diálogo entre essas duas artes, opto, nesta ocasião, por adotar a perspectiva que assume Angela Dalle Vacche em seu livro Cinema and Painting (1997). A professora da Yale University formula a tese de que, independentemente dos valores estéticos adquiridos enquanto construtos de uma indústria refinada, os filmes são textos que reescrevem, de maneira muito inovadora, a história da arte. Não posso, levando em conta a finalidade deste trabalho, adentrar-me na abrangência dessa questão que releva, em termos culturais, uma das funções metalingüísticas mais importantes do cinema. Isso, porém, não impede que me detenha num dos seus múltiplos matizes, pois, seguindo as idéias da autora, há um em especial que me atrai. Refiro-me às sugestões relacionadas com a intertextualidade que me desperta o conceito que ela constrói quando afirma, metaforicamente, que a pintura constitui para o cinema um “objeto proibido do desejo”.1
1
Trabalho apresentado ao Grupo de Trabalho “Fotografia, Cinema e Vídeo”, do XVI Encontro da Compôs, na UTP, Curitiba, PR, em junho de 2007. Mas, reescrito para esta publicação, neste artigo se englobam idéias apresentadas em conferência dada na UFSCar e na exposição feita no GT da Compós.
Sempre me instigaram as várias tentativas feitas por Godard para definir o cinema a partir de determinadas características específicas da pintura. Uma das mais intrincadas se manifesta nas experiências expressivas realizadas pelo cineasta em Passion (1981). Como se sabe – e já existe bibliografia de peso sobre o assunto –, muitas dessas experiências são de índole poética, isto é, fruto de rupturas que, na elaboração do texto fílmico, afetam os princípios fundamentais do cinema clássico e, em particular, os da montagem. A esse respeito, um artigo em que Jacques Fontanille (2002) analisa passagem do filme mencionado é bastante esclarecedor. Para o pesquisador francês, a seqüência relativa à discussão das operárias sobre a possível demissão de uma das companheiras apresenta vários desvios expressivos que abalam os paradigmas da mixagem, do relato, o papel do ator e, conseqüentemente, a montagem, domínios da escrita fílmica2 propícios ao acolhimento das diversas provocações tramadas pelo cineasta. Ao concentrar suas observações em certas anomalias da trilha sonora, Fontanille consta que, na seqüência em questão, a relação entre o sonido e as imagens é extremamente ambígua em razão das manipulações a que são submetidas as combinatórias das vozes e dos ruídos com a representação visual dos rostos e das circunstâncias em que as personagens estão situadas. O espectador fica perdido num labirinto de arranjos insólitos e não sabe como escapar às armadilhas que lhe dificultam a saída. Quando olha, por exemplo, o movimento dos lábios da personagem, o espectador descobre que, amiúde, esse movimento não coincide com o que corresponderia ao da pronúncia das palavras que por ela são ditas ou, então, sem explicação evidente, se depara com a boca de uma personagem feminina de onde emana uma voz masculina.3 Enfim, pode-se dizer que os numerosos paradoxos rompem a aparente linearidade da narrativa e se transformam em recursos poéticos que atentam contra as normas consagradas na articulação responsável pela verossimilhança de um texto audiovisual comprometido na representação “realista” dos referentes que circulam diante da câmera. Em todo caso, gostaria, tendo em vista a conveniência para os interesses apontados, de explorar a passagem do estudo de Fontanille que se reporta à hipótese de que ao conjunto das manipulações atinentes à relação entre a imagem e o som subjaze uma questão digna de ser explorada. Parafraseando os termos do autor, essas manipulações teriam a finalidade de constituir um ator coletivo, um ator para o qual convergiriam todas as vozes individuais, compondo, de maneira mais ou menos harmoniosa, uma orquestração em profundidade e divorciada da linearidade. Em outras palavras, uma orquestração em que as vozes individuais se congregariam de modo global e todas elas se integrariam somente
2 Em termos conceituais, a “escrita” ou “escritura fílmica” tem, na trajetória dos estudos de cinema, uma longa tradição. Aqui será utilizada na concepção formulada por vários semioticistas, isto é, como trabalho que o cineasta faz com os códigos e plasma num texto cinematográfico. 3 Fontanille se vale desse detalhe para construir uma denominação metafórica – “o andrógino ridículo” – com a qual pretende caracterizar o teor humorístico que se manifesta, segundo ele, em toda a seqüência e, ainda, identificar uma figura retórica que lhe servirá para fundamentar sua análise. Creio, mesmo admitindo que os espectadores riem quando, vendo os movimentos dos lábios de uma mulher, escutam, surgindo da boca feminina, a voz de um homem, que seria melhor utilizar a denominação “o andrógino grotesco”, pois, a meu ver, a carnavalização, no sentido bakhtiniano, se espalha por toda a cena e pode funcionar como um recurso capaz de conduzir o espectador a uma compreensão melhor da abrangência das conclusões a que chega o estudioso francês, máxime se levarmos em conta o valor de crítica por ele atribuído a essa “figura humorística”.
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
305
com o conjunto dos corpos individuais, formando, assim, um arranjo semelhante ao de um “tableau vivant”. Embora Fontanille não trate diretamente do dialogismo, o vínculo entre a orquestração das vozes e o “tableau vivant” abre outras possibilidades de leitura, principalmente se considerarmos que os processos de iconicidade4 abrigam diversas nuanças significativas. Ou seja, no âmbito da dinâmica dialógica, tais processos permitem ao leitor efetuar práticas interpretativas referenciadas, simultaneamente, pelas modalidades da intertextualidade material e estrutural.5 Vale dizer, por conseguinte, que a decodificação de algumas das provocações feitas pelo cineasta depende, no caso, do entremeio semânticoexpressivo instaurado no filme através do procedimento de associar seus fragmentos. Ou dito de outra maneira, na concatenação das seqüências, o entremeio se faz perceptível quando o espectador se depara com um tipo de montagem que não é determinado pelas propriedades específicas dos planos, mas pelas características das configurações estruturadas em cada seqüência. Assim, se na seqüência das operárias se constrói a orquestração mencionada, na seqüência seguinte encontramos a configuração de um “tableau vivant” elaborado a partir da encenação de pinturas de Goya. Ambas as seqüências, ao se encadearem, instituem uma continuidade sobredeterminada pelos traços de verossimilhança existentes entre a estrutura da orquestração e a da encenação dos quadros do pintor espanhol. Tal recurso me parece ter utilidade não só para analisar as particularidades da escrita fílmica, mas também para identificar aspectos relevantes do diálogo entre cinema e pintura e, sobretudo, para analisar o papel que desempenha a intertextualidade nesse diálogo e no que Dalle Vacche entende por reescrita da história da arte, pois, se me apoio no pensamento de Bakhtin, nenhum signo ou entidade sígnica é alheio a outros signos ou entidades sígnicas pertencentes a momentos diferentes do percurso do homo sapiens nas complexas trajetórias que se entrecruzam para produzir o que chamamos cultura. Com base nisso, creio que a peripatéia pictórica – os gestos paralisados no espaço de um quadro – sofre uma radical transformação ao ser alterada pelos simulacros de movimento gerados pela representação cinematográfica, como facilmente se constata quando contemplamos o “tableau vivant” que Godard realiza ao encenar, por exemplo, quadros de Goya. Claro que tal encenação, vista no enunciado fílmico propriamente dito, não só produz alterações da peripatéia dos quadros, mas também nos pontos de vista que esses quadros fixaram. Assim, em Os Fuzilamentos do Três de Maio, Goya paralisou suas personagens no momento em que alguns dos condenados à morte olham frontalmente os soldados franceses que, para o observador do quadro, seguindo a lógica da perspecti4 A iconicidade surge a partir de uma percepção em que se constata a existência de uma relação de verossimilhança, e não necessariamente de similaridade, entre duas coisas observadas ou, sendo mais preciso, entre a coisa percebida e o signo que a representa. Fontanille também se refere a esse tópico e o aborda segundo a perspectiva traçada por Umberto Eco (1998) em sua tentativa de identificar os signos hipoicônicos. 5 Segundo Krísteva (1974, p: 59-60), introdutora do termo, a intertextualidade designa a transposição de signos de um sistema para outro e sua prática exige o desencadeamento de articulações que multiplicam os sujeitos de um texto. Além disso, a intertextualidade, na concepção de Dentih (2000), institui um processo paródico que se manifesta através das alusões de um texto a outro texto. Uma obra pode aludir aos elementos formais de outra – intertextualidade material – ou, então, a elementos da estrutura – intertextualidade estrutural –.
306
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
va, aparecem de costas. Em contrapartida, na encenação de Godard, o espectador é colocado em vários pontos de vista e, nesse jogo, fruto do simulacro montado no “tableau vivant” e da ilusão de movimento criada pela passagem dos fotogramas da película, se vê na contingência de encarnar vários sujeitos e, ainda, encarar os efeitos da imagem de uma câmera subjetiva, construída a partir do ponto de vista das personagens pictóricas condenadas à morte, que o transforma, enquanto receptor da mensagem, em alvo dos fuzis dos soldados franceses. Não existe, por conseguinte, nesse segmento do filme tão somente um tipo de escrita cinematográfica destinada a ortografar o drama que se projeta nos gestos da peripatéia pictórica feita por Goya, mas também a construção de uma configuração metafórica em que o cinema, em seu diálogo com a pintura, “fuzila” a passividade dos espectadores.6 Considerando, pois, esse aspecto provocador, a cena de Passion que acabo de comentar deixa em evidência, de um lado, matizes intrincados do diálogo entre o cinema e a pintura e, de outro, um tipo de escrita fílmica resultante do confronto da intertextualidade material com a estrutural. Superada a fase em que a relação de seus filmes é essencialmente paródica, como faz entrever Dubois, (2004, pp: 251-258) Godard abandona a simples citação de quadros ou trechos de textos verbais e se adentra numa aventura escritural muito mais complexa, já que, utilizando o recurso da intertextualidade, consegue ultrapassar as alusões diretas presentes na reprodução dos quadros que encena e fazendo com que a câmera, passeando no meio das personagens icônicas7 de seus “tableaux vivants”, urda coreografias imaginárias mediante as quais se pretende reescrever o sentido que se oculta na estrutura de uma obra de arte. Pensando nas diferentes etapas da operação que justifica a junção das duas seqüências – a das operárias e a da encenação dos quadros –, não tenho dúvidas quanto ao princípio de que a junção é mediada por um processo de intertextualidade estrutural decorrente das particularidades de verossimilhança presentes nos conteúdos do que se entende por orquestração, o que não significa, porém, que as alusões atreladas à intertextualidade material estejam eliminadas. De qualquer maneira, o entremeio resultante dessa junção camufla sentidos cuja identificação, no caso, me parece relevante. Um deles – o que mais interessa para meus propósitos – está vinculado a um processo de escrita fílmica diretamente relacionado com a destruição. Assim, na seqüência das operárias, Godard atenta contra as normas dos procedimentos de mixagem comprometidos com a construção de um texto audiovisual que espelhe, com mais ou menos fidelidade, algumas das propriedades percebidas da porção sonora da “realidade” representada e, no tocante às imagens, não só desmorona o aprumo das peripatéias mais significativas das pinturas tomadas como referência, mas faz com que os movimentos e os gestos congelados no espaço pictórico se animem na orquestração de rumos e direções imprevistos.
6 Fontanille se refere, no artigo citado, à estesia que se manifesta através da representação cinematográfica das encenações de quadros. Para ele, as conquistas da estese mostram uma liberação da posição do observador, de um observador que, no transcorrer do filme, entra no espaço dos “tableaux vivants” a ponto de incorporar-se nos mesmos. 7 Digo que são icônicas porque os atores que nesses “tableaux vivants” interpretam as personagens pintadas e prolongam com seus movimentos os virtuais itinerários das imagens pictóricas congeladas são maquiados com o intuito preservar as relações de verossimilhança entre os quadros originais e as encenações deles maquinadas. Ou seja, que, em suas encenações da pintura, Godard parece mimar o realismo.
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
307
Ora, essas rupturas – poderia citar outras – fazem parte de um repertório de atentados poéticos de que se vale o filme de Godard para cumprir a sentença de transformar a pintura no “objeto proibido do desejo” almejado pelo cinema. Por isso, tenho para mim a sensação de que na junção das duas seqüências que venho comentando, no que denomino entremeio, se aninham emanações de sentido que, para se articular em significação, oscilam entre vincular-se a uma figura-forma ou a uma figura-matriz, na acepção que Lyotard confere a estes termos.8 Digo isso porque as emanações de sentido a que me reporto se situam umas vezes no espaço de intersecção que desenha a estrutura da metáfora tal como concebida pelo Groupe μ (1970) e outras tantas aderem ao espaço externo ao da inclusão. Assim, se tomo como paradigma da metáfora da construção metalingüística de Fontanille – “andrógino ridículo” –, posso articular seus sentidos a partir dos conteúdos que remetem a um sítio semântico em que os traços da masculinidade e da feminilidade coincidem ou, então, posso decodificar o tropo levando em conta os conteúdos em que a masculinidade e a feminilidade não coincidem. A primeira opção me insere nos domínios da figura-forma e a segunda nos da figura-matriz, já que, no que diz respeito à metáfora, sua configuração arraiga na tendência de fazer com que o núcleo de intersecção seja cada vez mais abrangente, isto é, na tendência de que o núcleo de exclusão se ajuste ao conjunto das exclusões. Penso que, dessa perspectiva, a ruptura da seqüência das operárias, dentro dos limites que ela estabelece no texto fílmico de Passion, instaura uma figura-matriz pelo fato de que seus componentes sonoros e imagéticos, levando em conta os efeitos promovidos pelas diferentes rupturas, constroem uma espécie de sintagma em que os elementos contrários, congruentes e incongruentes, concomitantes ou não concomitantes, se integram dentro de um conjunto cujos limites nos são desconhecidos ou, dito de outra maneira, apontam para as fronteiras do originário. Com respeito à outra seqüência,9 as encenações das pinturas de Goya, o rompimento das peripatéias produz, ao meu ver, um resultado diferente: as fronteiras demarcadas pelo congelamento dos gestos emolduram limites ou bordas que se ocultam e que estão insinuadas nos quadros como desembocadura desse rio de sentidos vindos de longe, dos territórios originários de uma nascente fantasmagórica. Mas, de repente, por obra e graça dos movimentos orquestrados da câmera, essas fronteiras se aproximam do espectador, se fazem visíveis e se acomodam bem no espaço dos enquadramentos. Ou seja, desenham na tela os contornos centrípetos característicos de uma figura-forma, os contornos que permitem que o observador, como assinala Fontanille, se incorpore às cenas. A esta altura, posso dizer que os procedimentos assinalados, os da intertextualidade ou os do figural, servem para caracterizar alguns dos traços mais significativos da escrita fílmica de Godard em Passion. Essa coreografia de alternâncias, de passagem da intertextualidade material à estrutural, da figura-matriz à figura-forma, possui, no entanto, um dinamismo cuja força motriz impele minhas intuições para motivos que me façam 8 Segundo este pensador francês, a figura-forma é da ordem do visível e se manifesta, por exemplo, através da gestalt de uma configuração, da arquitetura de um quadro ou do enquadramento de uma foto. Em contrapartida, a figura-matriz é da ordem do invisível, objeto de um recalque originário. Ela é figura porque perturba a ordem discursiva e fantasmagoricamente se alimenta das transformações que essa ordem permite. A figura-forma e a figura-matriz pertencem ao figural, entendido como um sistema em que se alojam todos os tipos de ruptura. (Lyotard 1971, pp: 271) 9 Parece-me oportuno observar que no DVD utilizado neste trabalho, essa seqüência, considerada como um capítulo, possui o sugestivo título de Quadros ou as leis do cinema.
308
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
compreender o aparecimento do desejo nesses traços da escrita do cineasta e, por conseguinte, me permitam realizar a tentativa de explicar, à minha maneira, o que entendo da metáfora construída por Dalle Vacche na afirmação de que a pintura é “o objeto proibido do desejo do cinema”. A modo que, encarada através do prisma da intertextualidade, isto é, da transposição dos signos que ocorre cada vez que manipulamos códigos diferentes, a escrita, tal como se apresenta no filme de Godard, assume as propriedades decorrentes da tarefa de reescrever os componentes de um sistema de signos utilizando os de outro. As rupturas realizadas nos procedimentos clássicos de mixagem e nas peripatéias pictóricas mostram claramente isso, o que permite inferir ser o texto fílmico um arranjo de signos heterogêneos – pertencentes a vários códigos – ordenados segundo um princípio de destruição, de transtorno que traz como conseqüência o surgimento de imagens renascidas, ou seja, de imagens que emergem dos escombros de outras imagens e, por serem o fruto de uma reestruturação de construtos visuais ou audiovisuais preexistentes, julgo apropriado denominar estas configurações pós-imagens, pois elas não constituem exatamente novas imagens, mas arranjos renovadores conseguidos pela escrita, enquanto prática poética, através dos quais se manifestam sentidos ocultos de imagens preliminares tomadas como base e ponto de partida dessa experiência. Posso dizer, seguindo esse raciocínio, que as imagens-ponto-de-partida corresponderiam, no caso da escrita verbal, às folhas de papel sobre as quais se estampam grafemas e que a ordem instituída por esses grafemas corresponderia, por sua vez, ao que aqui denomino pós-imagens. Amparando-me nessa analogia, acredito não ser absurdo lidar com o pressuposto de que assim como os grafemas arrancam os segredos de uma superfície em branco, de igual maneira as combinatórias cromáticas, plásticas e figurativas da pintura ou as imagens projetadas desvendam segredos da brancura de uma tela.10 E, dessa perspectiva, não me parece absurdo pensar que a pós-imagem deseja a tela e o cinema deseja a pintura, dando-se, porém, que a tela tem versos e reversos sobre cujos meandros as forças do desejo, infatigáveis, transitam, tampouco será descabido admitir que o desejo nunca encontra o seu objeto definitivo e, conseqüentemente, pula de um lado para outro deixando em cada salto a silhueta de objetos substitutos que denunciam a presença de uma carência permanente, pois, considerando as descobertas de Freud, a impossibilidade de conseguir seu objeto garante, embora pareça um paradoxo, a sua existência. Vale dizer, enfim, que as rupturas aqui assinaladas feitas por Godard em Passion não servem unicamente para identificar alguns traços específicos da sua escrita fílmica, mas servem também para, na tarefa de interpretar essa escrita, perceber nelas os efeitos do trabalho do desejo. Diz Lyotard (1974, p: 239) que a obra do desejo resulta da aplicação de uma força ao texto e da violação da ordem da fala.11 Tal processo fica evidente na passagem em que Lyotard, (1974, pp: 247-248) ao comentar o cartaz do filme de Frédéric Rossif Révolution d’Octobre assinala que as letras deformadas do título produzem a sensação de que o vento – entendido, a meu ver, como metáfora das forças do desejo – faz com que 10 Daí me vem a crença de que, por exemplo, as obras consagradas da pintura universal se transformem, pelo fato de serem constantemente vistas e reproduzidas com fidelidade, numa imensa tela fantasmagórica sobre a qual os criadores de textos audiovisuais deixam as marcas da sua escrita para alargar os domínios da comunicação e da cultura. 11 O termo “fala” deve ser aqui entendido no âmbito da oposição que estabelece de Saussure em sua concepção da língua como sistema e da fala como arranjo no espaço sintagmático de um texto das unidades escolhidas do sistema.
AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008
309
a superfície em que elas estão escritas ondule e produza no espectador a sensação de que desse movimento configure novas mensagens, em especial a mensagem “Rêvons d´Or” (“Sonho dourado”). Essa nova mensagem, fruto das rupturas que o desejo efetua na ordem da mensagem-ponto-de-partida, representa a ressurreição de sentidos que se ocultam no cartaz original e conforma significações ideológicas que os contradizem. Tal procedimento corresponde, por conseguinte, ao modelo de escrita fílmica de que venho falando, pois, na escrita de Godard, os textos pictóricos utilizados sofrem, em suas encenações, mudanças dessa natureza, o mesmo ocorrendo na mixagem das vozes dos atores e dos ruídos ambientais, sempre reordenados com a finalidade de desfazer verossimilhanças primárias. Em suma, tenho para mim que a escrita de Godard, possui particularidades muito insólitas e, mesmo sendo diferente da escrita praticada por outros cineastas12 engajados no diálogo do cinema com a pintura, dá sentido aos pressupostos utilizados por Angela Dalle Vacche e suas constantes transposições conotam sub-repticiamente manipulações circunscritas aos preceitos da intertextualidade e, estando o desejo presente nas pós-imagens, sonoras ou visuais, resultantes das múltiplas artimanhas postas em jogo na construção de seu filme, creio que, em termos poéticos, além dos aqui arroladas, é legítimo lidar com a idéia de que Godard se vincula, tendo ou não consciência disso, a um tipo de poética em que os desvios não decorrem exclusivamente do uso das figuras retóricas definidas sistematicamente nos manuais, mas se vincula também ao que me parece constituir uma poética da intempérie, isto é, uma poética inspirada nas rupturas provocadas por elementos da natureza, perceptível no cartaz do filme de Rossif ou, para dar um exemplo mais cotidiano, nas pós-imagens a que ficam atrelados os outdoors de uma grande cidade quando o vento, a chuva e a poluição alteram, sem prender-se a nenhuma norma racional, suas formas e conteúdos.
Referências bibliográficas DENTITH, Simon. Parody. Londres: Routledge, 2000. DUBOIS, Philippe. Cinema, vídeo, Godard. São Paulo, Cosacnaif, 2004. ECO, Umberto. Réflexions à propos du débat sur l´iconisme. In: Visio-Révue de l´Association internationale de Sémiotique Visuelle, n. 1, volumem 3, pp. 9-32, 1998. FONTANILLE, Jacques. La poésie des réunions syndicales (L´androgyne cocasse), à propos d´une séquence de Passion. In: Visio-Révue de l´Association internacional de Sémiotique Visuelle. n. 1-2, volumem 7, pp. 53-58, 2002. LYOTARD, J-F. Disours, figure. Paris: Éditions Linçskisieck, 1974. KRISTEVA, Julia. La Révolution du Langage Poétique. Paris: Seuil, 1974. KRISTEVA, Julia. Bajtín, la palabra, el diálogo y la novela. In: NAVARRO, Desiderio (org.) Intertextualité-Francia en el origen de un término y desarrollo de un concepto. La Habana: Casa de las América, pp. 1-24, 1996. VACCHE, Angela Dalle. Cinema and Painting. Austin: University of Texas Press, 1996. 12 Basta lembrar passagens do filme de Saura sobre Goya, de obras de Grennaway ou o recente Rembrandt de Charles Matton para perceber as diferenças. * Eduardo Peñuela Cañizal - UNIP/USP. E-mail: <epcaniza@usp.br>.
310
REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19
PUBLICAÇÃO INSTRUÇÕES AOS AUTORES OLHAR é uma publicação do Centro de Educação e Ciências Humanas (CECH) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Tem por objetivo sistematizar, no formato revista, a difusão de conhecimentos, pesquisas, debates e idéias nas áreas das Ciências Humanas e das Artes, gerando assim um canal de intercâmbio acadêmico e cultural. O texto submetido à OLHAR deve ser inédito, sendo vedada sua apresentação simultânea em outra publicação. Após seu envio, o material será analisado por membros do Conselho Editorial nacional e internacional do periódico e sua aceitação dependerá do julgamento realizado pelos pareceristas. Podem ser enviados para apreciação da OLHAR artigos científicos, capítulos e resumos de dissertações e teses, entrevistas, resenhas literárias e cinematográficas, além de produções artísticas tais como fotos, ilustrações, charges, poemas, contos etc. Os textos encaminhados ao Conselho Editorial da revista OLHAR para serem apreciados deverão estar de acordo com as atuais normas bibliográficas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e terem sido submetidos a uma rigorosa revisão textual, sob pena de não serem avaliados. Casos extraordinários serão resolvidos pelo Conselho Executivo do periódico.
ENVIO DE ORIGINAIS Os artigos deverão vir acompanhados de resumo sucinto e 3 palavras-chave, além de abstract e keywords. Os trabalhos devem ser encaminhados à Secretaria do Conselho Editorial da Revista OLHAR, em 2 (duas) vias impressas, acompanhadas de CD, pelo correio, ou, por meio eletrônico, para: REVISTA OLHAR A/C Conselho Editorial Centro de Educação e Ciências Humanas (CECH) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) Rodovia Washigton Luís, km 235 CEP: 13565-905 São Carlos SP Tel.: (16) 3351-8495 e 3351-8351 Fax: (16) 3351-8353 E-mail: jmonzani@uol.com.br
RESPONSABILIDADE Os dados e conceitos emitidos nos trabalhos, bem como a exatidão das referências bibliográficas, são de responsabilidade do(s) autor(es).
Endereço eletrônico: http://www.ufscar.br/~revistaolhar