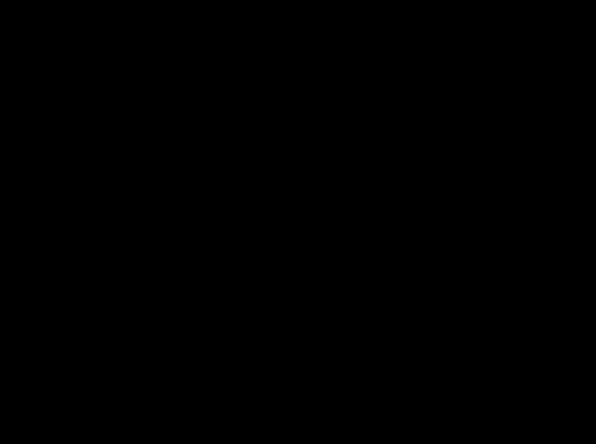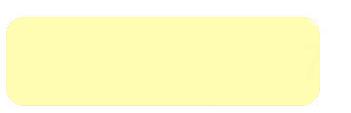
4 minute read
Cidade feminista
Partindo do princípio de que o espaço construído é um reflexo das relações sociais e econômicas (GONZAGA, 2011), já passou da hora do planejamento urbano romper com a neutralidade, ou pior, com o sistema estrutural arcaico e patriarcal. Atualmente, a historiografia busca resgatar o protagonismo daquelas que inúmeras vezes foram desconsideradas, invisibilizadas, ou até apagadas da construção social, e não deveria ser diferente na construção espacial.
É incontestável toda a hostilidade, e impessoalidade refletida na atual malha urbana, tais características são frutos de um urbanismo modernista, Jacobs (2017), em sua renomada obra Morte e Vida de Grandes Cidades, desde sua primeira publicação, em 1961, já alertava os urbanistas das consequências da cidade moderna.
Advertisement
Se no movimento moderno, forma seguia função, e a mulher era constantemente assimilada a espaços privados e a funções domésticas, o produto desse pensamento só poderia ser uma cidade moldada nos padrões daqueles que de fato usavam a urbe e os espaços públicos, os homens. Para constatar essa informação dos padrões que norteavam os projetos modernos, basta observar a Ville Radieuse (1924), plano urbano, e O modulor (1948) sistema de proporções pautado nas medidas de um homem cis-hetero-normativo e branco, ambos elaborados pelo famoso arquiteto modernista, Le Corbusier.
Segundo Jacobs (2017), Corbusier planejava não apenas um ambiente físico, planejava também uma utopia social que proporcionaria liberdade individual. Será que essa liberdade individual alcançaria as mulheres? Provavelmente não, apenas os carros, pois não foi feita nenhuma “A modulor”, sistema de proporções baseado na pluralidade e proporções das mulheres, enquanto foram feitas inúmeras autoestradas inspiradas na Ville Radieuse.
Tratando de mobilidade, essa mesma cidade moderna que deixou sequelas para a cidade contemporânea, apenas se preocupou em oferecer qualidade de espaço para carros, o modelo rodoviarista não se importou com o coletivo, muito menos com as complicações futuras que isso resultaria, portanto, atualmente, é notória a dificuldade de acesso ao transporte público. Quando se faz um recorte de gênero é perceptível que as mulheres são as que mais sofrem com essa deficiência de infraestrutura, de acordo com a pesquisa Viver em São Paulo: Mobilidade Urbana, realizada pela Rede Nossa São Paulo em parceria com o Ibope Inteligência (2020), no ano 2019 elas representaram 64% dos usuários de transporte público que obtêm renda familiar de até 2 salários mínimos, na cidade de São Paulo.
A rua, que deveria ser um espaço democrático e livre de consternações, para as mulheres muitas vezes é um espaço coerção, de acordo com a pesquisa realizada pela organização internacional ActionAid (2016), 70%
das mulheres sentem medo de serem assediadas na rua, e a pesquisa Visível e Invisível: a vitimização de mulheres no Brasil (2019), elaborada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostra que esse medo é coerente uma vez que 23,2% das mulheres brancas já sofreram algum tipo de violência na rua, e mais absurdamente, 39,7% das mulheres pretas afirmaram já terem sofrido o mesmo tipo de agressão.
É preciso lembrar que ainda “Cabe principalmente à mulher levar e buscar as crianças na escola, acompanhar outros integrantes da família ao médico e realizar as compras do lar.” (SMDU, 2020, p.2), ou seja, por conta de papéis socialmente impostos a mulher, como as atribuições da esfera doméstica e reprodutiva, ela acaba se deslocando mais na cidade do que o homem.
Um ponto a ser colocado, é que como Perrot (2006) afirma, as mulheres por muito tempo foram privadas de frequentar os espaços públicos, portanto, é lógico que espaços públicos
mobilidade
86% das mulheres brasileiras já sofream assédio em espaços públicos (ActionAid, 2016)
70% dessas muheres tem mais medo de serem assediadas na rua (ActionAid, 2016)
69% possui medo ao sair ou chegar em casa depois que escurece (ActionAid, 2016)
Figura 1: Espaços públicos. Fonte: Elaborado pela autora.
64% das mulhers são usuárias de transporte público com renda familiar deaté 2 salários min. na cidade de São Paulo (Rede Nossa São Paulo, 2020)
Figura 2: Mobilidade. Fonte: elaborado pela autora.
eles não aspire segurança a elas, uma vez que foram planejados pela perspectiva de quem de fato os usufruía. Tal fato, reflete até na maneira como as mulheres se sentem neles, a pesquisa feita pela organização ActionAid (2016), mostra que 86% das mulheres brasileiras já sofreram assédio em espaços públicos e 69% possui medo de sair ou chegar em casa depois que escurece.
Os dados até aqui explanados mostram a falta de confiabilidade da mulher em circular no espaço urbano, logo, se evidencia a necessidade de se ter um planejamento que resulte no bem estar dela, e que principalmente, ela não se sinta refém da própria cidade, é seu direito se apropriar e figurar sem impropriedades.
O direito à cidade manifesta-se como forma superior dos direitos: direito à liberdade, à individualização na socialização, ao habitá-la e a morar. O direito à obra (à atividade participante) e o direito à apropriação (bem distinto do direito à propriedade) estão implícitos se no direito à cidade. (LEFEBVRE, 2001, p.134)
Pensar a cidade sob uma ótica feminista, é desafiar o planejamento urbano neutro e encarar de frente as questões inerentes a cada gênero. É aceitar que existe uma pirâmide estrutural social, e que as mudanças precisam ser feitas a partir da escuta da sua base, soluções pensadas “debaixo para cima” reverberam mais alto, e tem um alcance muito maior, para mulheres e para homens, e é essa a intenção do intitulado urbanismo feminista, projetar para o coletivo, projetar para todos, pois é só dessa forma, que se conquista a tão almejada igualdade.