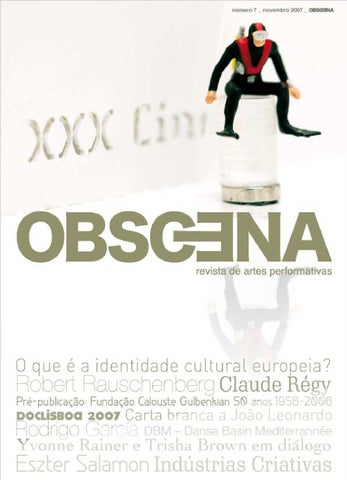EDITORIAL
I
II
III
IV
V
VI
VI I
Nacionalidade: europeu? Podemos apanhar um avião em Lisboa e sair em Paris, em Berlim, em Londres, em Milão, em Viena ou em Bruxelas, que qualquer aeroporto, e qualquer lógica interna da cidade, nos será familiar. Podemos apanhar um avião para Montreal, Seul, Istambul, Nova Iorque, África do Sul ou Brasil e o passaporte de cidadão europeu abrir-nos-á as portas alfandegárias sem prejuízo de perda de tempo. O mundo contemporâneo que acordou depois do 11 de Setembro de 2001 dividiu-nos entre cidadãos especiais e outros potenciais vilões. Quem quer que tenha viajado para um país de fora do espaço aéreo europeu certamente se deu conta de que ajudou muito ter não só esse passaporte mas, se os genes o tiverem favorecido, ser branco. Mesmo que as nossas intenções sejam as piores, mesmo que tenhamos arquitectado o mais trágico dos acidentes, não há como ter nascido na Velha e íntegra Europa para nos convencermos que somos melhores que os outros. Mas, no fundo, não passamos de burgueses genéricos que engordam a expensas do menosprezo que lançamos ao outro, aquele que nos constrói as auto-estradas, a casa que dizemos ser cara mas que ambicionamos ocupar, e de preferência a pronto, as exposições mundiais, os estádios de
futebol e até nos distribui a publicidade que recusamos não sem antes verificar se não há ali, de facto, qualquer coisa que nos interesse. Que centro do mundo é que achamos ocupar, nós, ocidentais pós-colonialistas, incapazes de nos libertarmos de um peso religioso contra-producente e fabricado para esconder as nossas fragilidades? Que centro do mundo é esse que, como diz Steiner, vai da cafetaria de Pessoa, em Lisboa, aos cafés de Odessa? É tão centro, concentrado, centrífugo, redondo, cego, que é incapaz de perceber que não há centro nem periferia, há uma só realidade com diferentes pontos de contacto. Que centro do mundo é este que se escusa a olhar para a Birmânia, Darfur, Somália e permite nacionalismos retrógrados na Polónia, retórica com a Turquia, barcos de refugiados do norte de África, abraços com as ditaduras disfarçadas de liberdade na América do Sul e Presidentes dos Estados Unidos que mentem ao mundo inteiro? A Europa das Luzes prometeu-se íntegra e justa, laica e tendo o indivíduo no centro do mundo. Para onde foi? Apanhou o primeiro avião e saiu num país qualquer com um corredor falsamente democrático para aqueles que nasceram aqui, naquilo a que chamamos Europa. TBC
OBSCENA #07 - NOVEMBRO 2007
Design Joana Sacchetti, Paulo Veiga, Pedro Semedo Logotipo MERC
André Dourado, Angelika Stefanova, Ann Enström, Andreja Kopac, Arnd Wesseman, Arne Hendricks, Árpád Schilling, Bandeira, Bojana Cvejic, Bruno Vasconcelos, Cecila Santa Paz, Ciprian Muresan, Daniel Tércio, David Sanson, Dimitris A. Sevastakis, Emmanuel Veloso, Eugénia Vasques, Gustavo Sugahara, Jaime Conde-Salazar, Jérôme Provençal, João Leonardo, João Paulo Sousa, Hotel Pro Forma, Luísa Roubaud, Maité Rivére, Mari-mai Corbel, Miguel Magalhães, Mónica Guerreiro, Pascal Bély, Paula Varanda, Pedro Costa, Pedro Manuel, Tiago Manaia, Tommy Noonan e Wouter Hillaert Begum Ercydias, Francisco Valente, Jenny Beyer, Jean-Marc Adolphe, Pedro Penim e Estudo Base
Site Triplinfinito | www.triplinfinito.pt Publicidade | publicidade@revistaobscena.com Assinaturas e informações | obscena@revistaobscena.com As informações devem ser enviadas até dia 8 de cada mês A OBSCENA é uma revista de periodicidade mensal com distribuição electrónica gratuita através de assinatura. A OBSCENA aceita propostas de colaboração dos leitores. Os materiais publicados são da responsabilidade dos respectivos autores, estando sujeita a autorização expressa a sua reprodução total ou parcial. www.revistaobscena.com A OBSCENA é membro da TEAM Network (Transdisciplinary European Art Magazines) | www.team-network.eu
PÁG.08
EDITORIAL
I
PÁG.10
RODRIGO GARCIA David Sanson PÁG.14
PARIS É UMA MULHER Mäite Rivère PÁG.16
O ESPAÇO QUE EXISTE PÁG.03
Mäite Rivère
NACIONALIDADE: EUROPEU? Tiago Bartolomeu Costa
PÁG.18
EU, TU E NÓS Bojana Cvejic
PÁG.20
AS MULHERES ILUMINADORAS
Pascal Bély PÁG.21
UM HOMEM SÓ
PÁG.38
IV
APOSTA
III
PÁG.08
ARRITMIA
II
OPINIÃO
PÁG.03
I
EDITORIAL
Mäite Rivère
COXIA Bandeira
PÁG.22
CLAUDE RÉGY
David Sanson PÁG.26
PÁG.38
PÁG.06
LIGAÇÕES LIQUIDADAS
DBM
Danse Bassin Méditerr Paula Varanda
OS EFEITOS SONOROS DE UM MOTIM PODEM PROVOCAR UM MOTIM VERDADEIRO Mónica Guerreiro
PÁG.28
O SEXTO SENTIDO DE
RACHID OURAMDANE
Mäite Rivère PÁG.29
PÁG.36
SUPERFÍCIE DE FRUSTRAÇÃO
PONTO CRÍTICO Eugénia Vasques
Jérôme Provençal PÁG.30
RAUSCHENBERG
RECICLADOR DO MUNDO
PÁG.94
Tiago Bartolomeu Costa
CAMAROTE PAR André Dourado
STA APO
PÁG40
PÁG.07
Mari-mai Corbel
ENTREVISTA
MARK DEPUTTER Tiago Bartolomeu Costa
R
MODELOS DE GOVERNANÇA DE CIDADES CRIATIVAS: UMA ABORDAGEM COMPARATIVA
PÁG.134
ESPECTÁCULOS PÁG.98
I FEEL A GREAT DESIRE TO MEET THE MASSES ONCE AGAIN - WALID RAAD Tiago Bartolomeu Costa
Bruno Vasconcelos Gustavo Sugahara Miguel Magalhães Pedro Costa
PÁG.100
A MÁSCARA, A FACE E OS SEUS CONTORNOS BONECA - ENCENAÇÃO DE NUNO CARDOSO João Paulo Sousa PÁG.102
MINIMALISMO VERBAL
TENTATIVES DE SE DÉCRIRE, de Boris Lehman ERA PRECISO FAZER AS COISAS, de Margarida Cardoso METAMORFOSES, de Bruno Cabral OUTRAS FASES, de Jorge António ZOO, de Dan Berger KARIMA, de Clarisse Hahn MY BODY, de Margreth Olin COMPILATION, 12 INSTANTS D'AMOUR NON PARTAGÉ, de Frank Beauvais LE PUDER ET L'IMPUDER, de Hervé Guibert
VII
PÁG.134
ENSAIO
VI
PÁG.104
DOCLISBOA 2007
PÁG.96
FILMES / DVD PÁG104
LIBRAÇÃO - AS BOAS RAPARIGAS ENCENAÇÃO DE CRISTINA CARVALHAL João Paulo Sousa
DIAS DO JUÍZO
PÁG.44
V
PRÉ-PUBLICAÇÃO 50 anos FCG: 1956-2006
PERSPECTIVA
PÁG.78
DINAMARCA, ROMÉNIA, SUÉCIA, ESPANHA, BÉLGICA, HUNGRIA, ALEMANHA, GRÉCIA, BULGÁRIA, ESLOVÉNIA, HOLANDA
O MUNDO EM QUE VIVEMOS
PÁG.122
João Leonardo
PÁG.56
PÁG.44
HUNTER
PÁG.98
PÁG.122
LIVROS
ranée
CARTA BRANCA
Pedro Manuel
A SOMBRA DE UM FANTASMA RAUL BRANDÃO, DO TEXTO À CENA, DE RITA MARTINS PÁG.124
ENTRE TODAS AS COISAS: CERTAIN FRAGMENTS: CONTEMPORARY PERFORMANCE AND FORCED ENTERTAINMENT DE TIM ETCHELLS Tommy Nooman PÁG.128
OS FACTOS DA MEMÓRIA FEELINGS ARE FACTS: A LIFE - YVONNE RAINER Daniel Tércio
PÁG.130
YVONNE RAINER / TRISHA BROWN: DIÁLOGO
OPINIテグ
II
COXIA
I
III
IV
V
VI
VI I
OPINIÃO
II
MOTIM
I
III
IV
V
VI
VI I
OS EFEITOS SONOROS DE UM MOTIM PODEM PROVOCAR UM MOTIM VERDADEIRO Por
Mónica Guerreiro
Apercebo-me de que algumas das peças coreográficas mais estimulantes dos últimos anos – aquelas de que a memória guardou frases inteiras e sensações também inteiras e revigorantes – são interpretadas exclusivamente por elencos masculinos. Aprofundo essa reflexão em busca de um motivo e indago se, em alguns casos, a imponência das criações não se deve muito concretamente à actuação desses bailarinos, à qualidade do seu movimento e às relações que estabelecem entre si. Refiro-me a Corpo de Baile, de Miguel Pereira, a Set Up, de Rui Horta e ao recente Masculine, de Paulo Ribeiro. Três coreógrafos (grosso modo) da mesma geração, que profissionalmente vivem situações muito diferentes e que residem e criam em Lisboa, Montemor-o-Novo e Viseu, respectivamente. Quase nada, parece – nem intenções estéticas ou programáticas, nem metodologias de elaboração –, une estas obras a não ser, proponho, a presença de idiossincráticos elencos masculinos. Andreas Dyrdal, Antonio Tagliarini, Cláudio Silva, Pedro Nuñez, Mário Afonso, Miguel Pereira e Nuno Lucas – em Corpo de Baile – Nicola Carofiglio, Bruno Heynderickx e Anton Skrzypiciel – em Set Up – e Romeu Runa, Romulus Neagu, Peter Michael Dietz e Miguel Borges – em Masculine – dão corpo às ficções dos três autores em peças que foram (todas, pelo menos por alguns) classificadas como manifestos de género. Não me parece uma categorização legítima, embora não seja essa a discussão que me importa explorar. Mas tal convicção levanta uma questão que talvez se devesse colocar e debater: o que aconteceu, na dança contemporânea de produção portuguesa, à representação do género? Acontece que se aproxima a apresentação em Lisboa (após ter estreado no último Festival de Leiria) da nova peça de Olga Roriz, Paraíso, e é precisamente o seu nome o referenciado quando se ambiciona cartografar uma certa figuração do feminino na coreografia nacional, dadas as intervenções nesse território que marcaram os primeiros anos da sua carreira. Lágrima, Três Canções de Nina Hagen, Casta Diva, Isolda, As Troianas, até Pedro e Inês figuram e celebram um certo feminino
– mítico ou histórico – outorgando às bailarinas que os dançaram (no Ballet Gulbenkian ou na Companhia Nacional de Bailado) um protagonismo insuspeitado. Mas essa análise – ou essa associação, que alguns diriam forçada – surge num tempo em que as representações sociais eram reduzidas a papéis relativamente estanques e em que a queerness que consideramos inerente ao corpo balético e à sua utilização cénica e coreográfica (exposta e permeável a todos os equívocos) não estava ainda na ordem do dia. Talvez por isso pareça, então, quase anacrónica a decisão da Companhia Nacional de Bailado de tratar, com dois elencos separados (bailarinos alternavam com bailarinas) a reposição – em Março de 2007, vinte anos passados – de Treze Gestos de Um Corpo, coreografia imaginada para o mesmo número de bailarinos (todos homens) e que permitiu experimentar, à época, as leituras andróginas dos corpos modelados e magros, vestindo treze bailarinas com os fatos calçae-casaco que Nuno Carinhas havia desenhado para os bailarinos. Todavia, tenha esta sido ou não uma opção infeliz, não há maneira de contornar a evidência: em vinte anos, não apareceu um coreógrafo nacional a trabalhar com fortes grupos de bailarinas. Com intérpretes de personalidades fortes, com desempenhos marcantes e uma cumplicidade colectiva visível – como observo nas três coreografias que comecei por designar. É também imperioso que se mencione que, daqueles três elencos, nenhum é constituído exclusivamente por bailarinos de naturalidade portuguesa. Mas Andreas Dyrdal, Antonio Tagliarini, Anton Skrzypiciel ou Romulus Neagu são já intérpretes (e alguns destes coreógrafos) cujo trabalho está ligado a Portugal há muitos anos e que encontram aqui oportunidade para o seu desenvolvimento artístico e profissional. Será que as mesmas possibilidades existem para tal número de bailarinas imigrantes? Pode ser que a segunda peça coreográfica a conceber, daqui por seis meses, por Paulo Ribeiro – Feminine, só com bailarinas (as audições são agora em Novembro) – nos forneça algumas hipóteses de resposta.
I
II
36º FESTIVAL D’AUTOMNE
ARRITMIA
III IV V VI VI I
S RI PA À NE D’ AU TO M L VA ST I FE o
36
Mais do que um festival, o Festival d’Automne à Paris é uma temporada única de espectáculos que ocupam a capital francesa durante três meses. Esta edição, a 36ª, que começou a 12 de Setembro e se prolonga até 22 de Dezembro, reúne alguns dos mais importantes nomes da cena internacional, com especial destaque para o Médio Oriente. Depois de na edição de Outubro termos falado de Lina Saneh, Leila, Mathilde Monnier e Morton Feldman, damos continuidade ao olhar sobre alguns dos espectáculos que se apresentarão durante o mês de Novembro, recuperando ainda alguns que terminaram as suas carreiras no mês passado, num dossier que inclui críticas, entrevistas, perfis e preparado em colaboração com a revista Mouvement. >>
III
ARRITMIA
II
36º FESTIVAL D’AUTOMNE
I
IV
V
VI
VI I
Entrevista David Sanson fotografias Christian Berthelot
10
RODRIGO GARCIA “QUERO DESCANSAR MAS NÃO CONSIGO”
11
O título desta peça, Arrojad mis cenizas sobre Eurodisney, parece ser o eco de Comprei uma pá no IKEA para cavar a minha campa ou A história de Ronald, o palhaço do McDonalds [ambas apresentadas em Portugal no âmbito do Citemor em 2002]. Todavia, em certos aspectos, ela parece diferente – mais bem comportada, mais poética... O facto que entretanto tenha escrito e criado Borges + Goya, um espectáculo “à parte” no seu percurso teve alguma influência? A sua pergunta é muito complexa. É preciso ter em conta pelo menos três coisas: o discurso do artista, o tipo de público que vai ao teatro e o mercado, ou seja os festivais e os teatros públicos que têm um papel de intermediários entre os artistas e as sociedades. Este circuito é irrefutável, como na prostituição: as prostitutas, os proxenetas e os clientes são aqui o equivalente aos artistas, dos festivais e do público. A dificuldade reside nisso: como desenvolver um pensamento sem a pressão do mercado? Como percorrer este circuito de forma coerente, ao teu ritmo, sem que o mercado te imponha seja o que for? Fala-se de dopping nos desportistas... Mas não se fala de dopping nos artistas: o dinheiro e o reconhecimento. Os desportistas urinam um pouco mais tarde as substâncias dopantes; para os artistas é
a mesma coisa, gastam o dinheiro e o reconhecimento esfuma-se quando menos se espera. Tudo isto é bastante efémero e não é razoável que nos agarremos a isso. Na minha obra, as mudanças surgem após certas descobertas. Ela mudou um pouco, parece-me, com Approche de l’idée de méfiance [2007]; tinha começado com a minha performance Accidens [2004, apresentada no Citemor em 2005]. E hoje em dia tudo se torna mais concreto com a peça Arrojad mis cenizas sobre Eurodisney. Ela torna-se mais íntima, mais austera, vai contra o mercado que, esse, continua a reclamar da violência, da militância anti-globalização e do barulho. E, insisto: o meu pensamento não pode ser reduzido a isso. Então como se caracteriza? As minhas peças são imediatas. E são portadoras de um discurso poético menor. São peças urgentes. São montadas muito depressa. Tem que ser assim. Convido o público a confrontar-se comigo no teatro, durante uma ou duas horas. Sirvo-me de ideias inacabadas, de mensagens contraditórias, de imagens que escondem sempre alguma coisa... Não apresento peças acabadas porque, então, falar-se-ia de um teatro didáctico e eu detesto a educação. O conhecimento e a experiência não devem >>
III
ARRITMIA
II
36º FESTIVAL D’AUTOMNE
I
IV
>> ser dirigidos ou planificados. Pelo contrário: sem surpresa não há aprendizagem. O homem aprende porque se deixa maravilhar. É por isso que a universidade é o oposto do conhecimento. Sem vertigem, sem medo, não há predisposição para a aprendizagem. A aprendizagem programada desumaniza e enfraquece-nos. As minhas peças falam sempre do êxtase associado ao conhecimento. É por isso que eu tento partilhar com o público momentos poéticos, dos quais se diz ser uma provocação e isso desgosta-me. Numa entrevista, declarou que tinha “escolhido o teatro para dar resposta a todos esses ataques” que “criar” é como “fazer boxe”: que resposta dá a quem o classifica de provocador?
12
Todas as noites tenho diante de mim entre seiscentos a mil potenciais inimigos, em função do tamanho da sala. E eu, na régie, também sou o meu próprio inimigo, quando a peça começa. Porque a peça põe em causa uma realidade que é também a minha, enquanto cidadão europeu: uma forma de viver amarga, protegida ao extremo, à qual se vem juntar a absoluta desordem ética. É um acto cego... Cada representação, cada noite, é um acto cego e estúpido, porque pretende ser selvagem e não o é... É, no fim de contas, um acto cordial, no seio de um grande festival ou de um grande teatro. Mas eu costumo dizer: o pior é não fazer nada. O pior é ficar de boca calada. Não compreendo como é que se pode continuar a fazer ópera nos teatros de ópera, para um público de ópera. A mesma coisa para o teatro clássico: juro que não compreendo aquilo que aos meus olhos são actos delituosos. O mesmo se passa quando no teatro nos servimos da grande literatura. Se a grande literatura é uma magnífica costeleta de vitela, o teatro é uma máquina destinada a picar carne, a esmagá-la por inteiro. O mal que o teatro fez à literatura é irreparável. As palavras, é melhor serem lidas. No isolamento. O leitor, face à grande literatura, tem necessidade de recolhimento. E o teatro é uma festa, exactamente o contrário. E não me venham falar da Grécia, porque o teatro já não tem esse sentido. É por essa razão que eu escrevo mal. Má literatura. Porque é o que convém ao teatro. Uma vez mais, é indispensável que nós, artistas, pensadores, activistas políticos, consideremos esta época como a pior, a mais cruel e a mais vulgar: porque assim, faremos alguma coisa de positivo, para construirmos o que deitámos abaixo. Uma questão que coloquei ao cineasta Michael Haneke a propósito de Funny Games: o público ao qual se dirigem as suas peças – um público de teatro “culto” não estará já convencido daquilo que denuncia, da “men-
V
VI
VI I
sagem” que deseja passar? Que efeito pretende com Arrojad mis cenizas sobre Eurodisney? O que é natural é considerarmo-nos vencidos, é acreditar que o público é impermeável, que ele vê um filme como A Fonte da Virgem de Bergman ou Accatone de Pasolini e que depois vai jantar e dormir tranquilamente. Se eu pensasse assim parava imediatamente de trabalhar. Quero ir descansar, mas não consigo. Eu creio que se sou o que sou não é apenas por causa dos meus genes, do meu desejo e da minha alimentação... é também graças a certas experiências estéticas concretas. Se alguns raros momentos ligados à arte – e sempre ligados à falta de liberdade no quotidiano – marcam a minha personalidade, então tenho o direito de ser um crente. Tradução do francês: Margarida Silva/Instituto Franco-Português
Arrojad mis cenizas sobre Eurodisney apresenta-se de 8 a 18 de Novembro no Thèâtre du Rond-Point, Paris.
Leia na OBSCENA #5 o diálogo entre Rodrigo Garcia e o encenador francês Bernard Sobel e ainda o relato do processo de criação da peça Cruda, Vuelta y vuelta. Al punto. Chamuscada, estreada este ano.
A “CEDÊNCIA” DO GUERREIRO Arrojad mis cenizas sobre Eurodisney não é o título ori-
ginal da peça que Rodrigo García apresenta este mês em Paris. Por questões legais, relacionadas com direito de propriedade e uso abusivo de nomes, a Eurodisney exigiu que o encenador argentino retirasse do título da peça a referência ao parque de diversões que a multinacional norte-americana instalou em Marne-la-Vallée, a trinta quilómetros de Paris. Curiosamente a Eurodisney nem sequer se chama assim mas Disney Resort Paris. No entanto este argumento não colheu junto dos advogados do império de Mickey e amigos. E Rodrigo García, apesar de não apreciar a mudança mas evitando assim que a peça fosse proibida de se apresentar – e já depois de ter tentado convencer os advogados a autorizarem a utilização do símbolo do euro juntamente com a palavra Disney –, tratou de espalhar as cinzas sobre o símbolo máximo da Eurodisney, o rato Mickey. Segundo o sítio Artezblai, nesta peça – estreada no Thèâtre National de Bretagne em Novembro de 2006 – o autor “convida-nos a visitar um território futurista, devastado e desolado que reflecte um mundo apocalíptico. A obra parte de uma realidade comum, neste caso um lago cujo encanto desapareceu devido à sua exploração comercial, parecendo evocar paisagens de ficção científica, que o autor usa para falar do estado actual das coisas”. Tal como antes tinha feito com A História de Ronald, o palhaço do MacDonalds, e ainda segundo o Artezblai, “Rodrigo García assinala sem ambiguidade a cegueira e o individualismo em massa, a exploração a
que os totalitarismos submetem a sociedade”. Com esta peça o autor fala “mais do que de raiva, da amargura, como se a capacidade de melhoramento do ser humano fosse uma ideia definitivamente no passado”. Algumas das imagens da peça são, aliás, sintomáticas do teatro da crueza que Garcia reclama como única solução para o questionar do porquê de termos perdido a “capacidade poética” de pensarmos o mundo. Uma peruca de mulher estragada em cada apresentação como metáfora para a humilhação, “ratos a afogarem-se, actores nus em acções onde se cobrem de barro e mel e tentam copular em posições impossíveis” são recorrentes nesta peça que não deixa de jogar com o fascínio que a violência causa aos homens. Exemplo disso é a chegada de uma família de carro a esse lago assumindo que aquilo que um casal está a fazer – penetrarem-se mutuamente com a cabeça –, significa “a chegada à realidade”. Jean-Pierre Thibaudat, no jornal online Rue89, descreve o trabalho de García como um exercício de “exuberância e humor sobre os excessos da sociedade de consumo, a instrumentalização da linguagem e outras utopias”. Para além de “festivos, eles jubilam de excesso e retiram qualquer inocência ao nosso olhar sobre o mundo”. Uma visão que, diz o jornalista, esteve longe de agradar aos executivos da Eurodisney, “carentes de humor”. O texto Arrojad mis cenizas sobre Eurodisney está editado na Editions Les Solitaires Intempestifs, em conjunto com Approche de l’idée de méfiance em edição bilingue, espanhol e francês, 96p, €12.
13
III
ARRITMIA
II
36º FESTIVAL D’AUTOMNE
I
IV
V
VI
VI I
PARIS É UMA MULHER 14
FESTIVAL D’AUTOMNE CONVIDOU QUATRO COREÓGRAFAS PARA MOSTRAREM SE HÁ UMA DANÇA NO FEMININO texto Mäite Rivére Celebre-se, finalmente, a forte presença de coreógrafas no Festival d’Automne à Paris já que encontramos o trabalho de quatro criadoras para uma programação que conta com um total de onze espectáculos de dança, o que proporciona uma representação quase paritária. Só em Novembro apresentam-se três: Meg Stuart, com Blessed [peça criticada no número #5 da OBSCENA], até dia 2 no Thèâtre de la Bastille; Emmanuelle Huynh, com Le Grand Dehors, de 14 a 17, e Eszter Salomon, com And Then, de 7 a 10, ambas no Centre Pompidou. A este nomes junta-se o de Mathilde Monnier, cuja peça Tempo 76 [criticada no último número desta revista], esteve em cena de 9 a 13 de Outubro no Thèâtre de la Ville, e ainda o de Robyn Orlin, que partilha o palco da Maison des Arts de Creteil com Christian Rizzo em coreografias pensadas para a companhia sul-africana Via Katlehong, entre 6 e 8 de Dezembro. Mas não será, apenas e afinal,
legítimo e representativo de um sector onde, no caso francês, e contrariamente ao que se passa nos Centros Dramáticos e as Cenas Nacionais [os equivalentes, por aproximação e defeito, aos teatros municipais portugueses], os Centros Coreográficos Nacionais (CCN) são também eles praticamente paritários [7 em 19 são dirigidos por mulheres, sendo o de Caen co-dirigido por Héla Fatoumi e Eric Lamoreaux]? Todas as coreógrafas – Stuart, Monnier, Huyh e Salomon – encontram-se na “bela idade”, ou seja entre os trinta e os quarenta e são, com mais ou menos equivalência, nomes reconhecidos. Duas delas estão à frente de importantes CCNs – Mathilde Monnier em Montpellier e Emmanuelle Huynh em Angers – e não são, de todo, novas figuras neste meio da dança. Monnier é, provavelmente, aquela que faz figura de convidada mais ilustre no Festival tanto pela idade como pela notorie-
15
dade. E é por ela que se criam sempre as maiores expectativas. Para além de estar à frente do Centro Coreográfico é regularmente produzida pelo Théâtre de la Ville, a mais importante casa parisiense para a dança contemporânea. Ficamo-nos por aqui no que respeita aos pontos de contacto e semelhanças já que seria arriscado nivelar estes trabalhos segundo um único plano. O facto de pertencerem a uma “nova geração feminina”, que segue os passos de Régine Chopinot ou Maguy Marin, para citar apenas algumas das mulheres que também di-rigem CCNs, não é suficiente dizer-se que se traça uma espécie de panorama da criação contemporânea internacional. Para mais porque, como podemos constatar, não se trata de primeiras apresentações no Festival, sempre fiel aos artistas que programa. Mon-
nier é convidada desde 1992 (2005: La place du singe, Frère et sœur; 2004: Publique; 2002: Déroutes; 1999: Les lieux de là; 1992: Chinoiserie), Emmanuelle Huynh desde 1998 (2003: A Vida Enorme / épisode 1;1998: Tout contre; 1999: Distribution en cour; 1998: Tout contre) e Meg Stuart depois de 2000 (2002: Disfigure Study; 2000: Highway 101). Apenas para a húngara Eszter Salamon
se trata de uma estreia. Feitas as contas temos três peças de grupo, um solo/ duo, um jogo, uma parte da história, um questionamento sobre a noção frágil da identidade, um pouco de niilismo... Mesmo que todas se multiplicam em colaborações artísticas e interroguem o lugar do corpo e do espaço hoje, é ao espectador que cabe descobrir se há uma especificidade feminina ou um ecletismo reivindicativo nesta 36ª edição do Festival d’Automne à Paris.
Da esquerda para a direita: BLESSED, de Meg Stuart (foto: Chris de Burght), And Then, de Eszter Salamon (foto: Arne Hector), Le Grand Dehors, de Emmanuelle Huynh (foto: Marc Domage), Tempo 76, de Mathilde Monnier (foto: Marc Coudrais)
III
ARRITMIA
II
36º FESTIVAL D’AUTOMNE
I
IV
V
O ESPAÇO QUE EXISTE 16
VI
VI I
texto Mäite Rivére fotografia Marc Domage
Le Grand Dehors de Emmanuelle Huynh
Em Le Grand Dehors Emmanuelle Huynh centra-se na figura da roda, ou seja, do círculo em movimento que, para ela, contém em si mesma toda a história da dança, podendo ser lida como uma metáfora das relações humanas. Desde as primeiras sessões de ensaio os bailarinos improvisaram longamente essas rodas. Aquilo que ela chama “de fora” (dehors) é tanto aquilo que a mão segura nessas rodas, aquilo que de mais próximo existe, e o mundo na sua vastidão, as suas figuras longínquas e desconhecidas. Se é frequente encontrar Mathilde Monnier em colaborações a dois (as mais recentes com o músico Philippe Katerine, em 2008 Vallée, apresentada em Lisboa em Janeiro e criticada na OBSCENA #2, ou com a dramaturga Christine Angot em La place du signe), o mesmo acontece com Emmanuelle Huynh. Convencida de que o campo da coreografia se estende para lá da dança e de que coreografar é uma atitude, Emmanuelle Huynh diversifica os seus projectos tendo como fito o questionamento contínuo do processo de trabalho, da colaboração artística. Ela organiza sessões de trabalho reagrupando artistas de diferentes áreas. No caso de Le Grand Dehors são as palavras de François Bon que
ocupam um lugar central já que este orientou ateliers de escrita onde a questão do “exterior” foi articulada com a dança. Trata-se de uma peça de grupo, mesmo se o espectáculo foi originalmente um solo, interpretado por Huynh, e estreado a 3 de Junho de 2006 no âmbito do festival Agora, organizado pelo Pompidou. Ela desdobra a sua peça por outros corpos e é através deles que cria aquilo que apelida de danças perdidas, porque inventadas, improvisadas, a partir de movimentos preparatórios que evocam outras peças suas, mesmo que nunca tenham chegado a pertencer à identidade final das coreografias. O que Huynh propõe a cada bailarino é um zoom sobre essas danças e, então, dançarem o que vêem e projectam. Essas danças perdidas transformam-se, assim, em superfícies de projecção. Le Grand Dehors apresenta-se de 14 a 17 de Novembro no Centre Pompidou, Paris.
������ ������������
������������������������������������
�����������������������
��������������������������������� �����������������������
������������������������������������ �����������������������������������
���������� ����������������������������������� ������������������������������� �������������� ������������������������ ��������������������������������������������������������
���������������� ��������������������������������
�������������������
�����������
�����������
���������������������������������������������
������������������������������������������� �����������������������������������������
����������������������������� ����������������������������������������
�����������������������������������
17
III
ARRITMIA
II
36º FESTIVAL D’AUTOMNE
I
IV
V
VI
VI I
EU, TU E NÓS texto Bojana Cvejic fotografia Arne Hector Imagine que recolhe na rua um álbum de fotografias. Abre-o e vê pessoas que não conhece: fotografias de férias, poses e expressões familiares, rostos de estranhos que lhe sorriem como se fosse um parente ou um amigo próximo que estava destinado a ver essas fotografias… Será estranho espreitar a vida dos outros quando o acaso se encarrega de o tornar evidente?
18
Após Magyar Tancok [2004], um espectáculo que apresentava uma biografia profissional através do papel que a história nacional desempenha na formação de um bailarino, Eszter Salamon descobriu um facto espantoso: centenas de mulheres partilhavam o seu nome. Começou então uma investigação em torno do nome Eszter Salamon e contactou um número considerável de homónimas que viviam na Hungria, Israel, Estados Unidos da América, Inglaterra, França e Alemanha. A curiosidade pela questão “o que há num nome” e aquilo que significa entrar em contacto com um número de pessoas que partilham algo tão pequeno e arbitrário como o mesmo nome, levou a esse encontro e às entrevistas. Salamon propôs-se a um projecto no qual a condição de ter o mesmo nome e ser outra pessoa sugeria a exploração de uma personagem ficcional. O ponto de partida para Salamon e para mim foram as questões: Quando é que os outros são realmente outros, insignificantes, cuja vida não nos diz respeito? Se retiramos as suas expressões do contexto da sua vida, tornar-se-ão vazios, ficcionais, fantasmas, opacos e pálidos, idiossincráticos ou conchas vazias para albergarem uma qualquer vida? Como é que nós experimentamos diferenças quando estas não são apresentadas ou celebradas como marcas identitárias, mas aparecem como coincidências inessenciais, não importando qualquer tipo de semelhanças? Como é que os colocamos a falar como qualquer pessoa e não uma em particular que tem a missão e a necessidade de apresentar a sua identidade? Depois de filmar com Minze Tummescheit as entrevistas com oito mulheres chamadas Eszter Salamon (uma consultora de arte em Newcastle, 55 anos; uma jurista de Szeged, 57; uma jovem mulher que canta em bandas próximas do seu local de trabalho temporário na IBM de Szeged, 25; uma ex-professora e consultora para a juventude do Ministério da Cultura, e agora produtora de desenhos animados free-lancer em Budapeste, 37;
uma figurinista e compositora de bandas sonoras para filmes em Budapeste, 34; uma professora de italiano e cinema na Universidade em Budapeste, 37; uma estudante do secundário em Zalaegerszeg, no sudoeste da Hungria, 16, e Hannah Birnfeld, de Hamburgo, 80 anos e amiga de uma Eszter Salamon que morreu num campo de concentração). Decidimos que cada Salamon iria representar-se a si própria durante o espectáculo. O que mais nos motivou foi a construção de uma realidade ficcional tendo como base o material documental que havia sido reunido nas entrevistas, de modo a desenvolver um dispositivo que envolvesse o filme na performance, e o palco no ecrã (e vice-versa). Mas o que entendemos aqui como filme, teatro? Processos que intersectam estes modelos e géneros de representação: 1) As homónimas (7) são convidadas a recriar partes das suas entrevistas em estúdio. O modo como foram filmadas é teatral – um espaço que abstracta o seu discurso do contexto diário dando-lhe uma variedade de vazio ou profundidade. O seu discurso é superficial, isto é, re-encenado e reproduzido a partir das conversas espontâneas, e depois coreografado pelo movimento da câmara e pela forma como aquela relação é escutada, quem está a falar, quem está visível dentro e fora do ecrã, e se entendemos o que está a ser dito ou estamos a seguir a tradução através da legendagem, etc. 2) O filme é uma parte constitutiva da performance encenada num espaço com uma boca de cena convencional. O ecrã e o palco produzem um só espaço, onde
o espaço de uma das formas envolve ou se estende para o espaço da outra forma, graças a um número de parâmetros partilhados, construção teatral de um estúdio de cinema e de um palco, continuidade na luz, várias ligações entre os intérpretes que interligam o ecrã e o palco, a coreografia da câmara e o som. 3) No espaço de representação quatro personagem aparecem: a própria Eszter Salamon, a Eszter Salamon cantora de Szeged, Aude Lachaise, uma homónima visual (uma sósia) de Eszter Salamon e Bojana Cvejic que representa a Eszter Salamon de Newcastle enquanto jovem rapariga (e elas também circulam entre o palco e o ecrã). As intérpretes partilham o material das pessoas originais chamadas Eszter Salamon (ou elas próprias), e são tão personagens quanto as homónimas que também são representadas como personagens no filme. O que está aqui em jogo não é uma inter-relação entre falso e verdadeiro, ou o verdadeiro a duplicar o real, mas uma ficcionalização que tanto se aplica às homónimas como às personagens. 4) O filme é captado directamente implicando já o palco, e portanto, numa montagem que inclui a acção que se desenvolve em cena. Portanto, o ecrã e o palco compõem uma única imagem quando vistos pelo público. Por outras palavras, o palco não é um espaço parasitário que comenta, traduz ou ficciona o material documental original. Tanto o palco como o ecrã partilham as suas funções originais sem respeitarem a prioridade de um e de outro, de modo a que o espectador veja um filme no palco e o teatro num
filme ou o mesmo evento aqui-e-agora. Cada aspecto da performance tanto em filme como no palco é coreografada: olhar, movimento físico, movimento de câmara e planos ou imagens, espaço no filme, fora da imagem, fora do palco e no palco, colocação de voz, som, objectos (alguma mobília e adereços) e, o mais importante, uma distribuição de personagens cuja aparência e inter-relações respeita o espaço e a voz. A técnica de representação pode ser comparada à ópera já que o filme e o palco estão tão próximos e preciosamente coordenados que a duração está fixada como se o texto pudesse ser cantado com uma orquestra a acompanhá-lo. Aquilo que quero dizer com “ópera” é, na verdade, uma desconexão entre a banda-sonora e a acção, o que poderia potencialmente ser interpretado como uma camada autónoma, uma composição musical. A banda sonora hiper-realista que amplifica o som dos gestos e movimentos é, portanto, uma coreografia em si mesma, explorando movimentos que potenciam as hipóteses de quem fala e de onde são (o visível, o audível, o ausente e o presente), e sons que são feitos para sugerir imagens. Isto é baseado num princípio de que há sempre mais som do que imagem, e este é composto por misturas e trocas de sons concretos (por exemplo sons que vêem de contextos perdidos) e música, música tocada em filmes e elementos musico-teatrais (uma vez que algumas das homónimas são performers e intérpretes musicais). Este texto é uma adaptação das notas de trabalho de Bojana Cvejic, dramaturgista e intérprete da peça, e faz parte do dossier de imprensa de And Then.
19
III
ARRITMIA
II
36º FESTIVAL D’AUTOMNE
I
IV
AS MULHERES ILUMINADORAS And Then, de Eszter Salamon
20
texto Pascal Bély fotografia Arne Hector
Há obras que sentimos como maiores porque nos iluminam a consciência, despertam as nossas memórias e constroem a nossa visão do futuro. Eszter Salamon, autora, encenadora e coreógrafa, apresenta-nos And then, performance sublime onde dança, teatro, canções, música, sons e vídeo formam um documentário vivo no qual as nossas ressonâncias fazem parte da história. São oito mulheres de várias gerações, todas chamadas Eszter Salamon, sobreviventes da Shoah, do comunismo e do liberalismo actual. Estão aqui, no palco ou através de ecrãs de vídeo, para nos contarem bocados das suas histórias. A rede que une as suas palavras e as suas vidas produz, assim, uma obra magistral. Logo a princípio, vemo-nos mergulhados numa escuridão profunda. As suas silhuetas aparecem como imagens subliminares, onde as personagens poderiam ser as do teatro de Joël Pommerat. Essa escuridão, quase hipnótica, cria um clima propício à nossa escuta. O cenário, prolongado por um ecrã de vídeo, dá-nos uma profundidade psicológica, um campo histórico, uma aproximação social às histórias singulares destas mulheres. Passaram todas pela experiência de alienação a um homem, ao poder político, à hierarquia profissional, e foi pela sua tenacidade, o seu humor e a sua capacidade de se distanciarem que conseguiram eman-
V
VI
VI I
cipar-se. A força desta obra reside na encenação, onde Eszter Salamon junta e une histórias sem ligação aparente para fazer aparecer, tal como uma miragem, um factor inter-geracional, e em seguida, uma união solidária, uma irmandade combativa. É com delícia e emoção que nos deixamos guiar e penetrar por todos os barulhos dos seus corpos, magistralmente reconstruídos, como os iguais tremores do interior da alma, dos tumultos da história, de umas asas de borboleta que lutam pela liberdade. Os gestos magníficos do diaa-dia projectado no ecrã (regar plantas, dar voltas na cadeira, dançar em cima do sofá) são coreografias de um quotidiano limitado e potencialmente libertador. É o canto e a dança em cena que dão às suas imagens um prolongamento pelo espectáculo físico, levado a cabo por uma nova geração. É assim que, no seu caminho, o liberalismo violento se defronta com a força criativa destas mulheres que não estão prontas a se deixarem prender. And Then é um memorial vivo dedicado às mulheres, feito para a humanidade. É uma obra que recoloca sentido onde a esfera mediática rebaixa, onde a política deseja fazer esquecer (como um Nicolas Sarkozy sempre pronto para denunciar o arrependimento), onde a economia (e a sua publicidade) mercantiliza tudo, mesmo os seus símbolos. And Then é uma obra-prima porque faz de nós, simples espectadores do irmãos e irmãs das 834 Eszter Salamon listadas no nosso planeta. Permaneçamos juntos… And Then mostra-se no Centre Pompidou, Paris, de 7 a 10 de Novembro.
Tradução do francês: Francisco Valente
UM HOMEM SÓ
Le Sacre du printemps de Xavier Le Roy texto Mäite Rivére fotografia Vincent Cavaroc Num palco vazio, plenamente iluminado, Xavier Le Roy entra em cena vestido simplesmente com uns jeans e um pólo vermelho. Rapidamente se coloca de costas no momento em que a música começa. O som chega do fundo do palco. Ele mima os gestos de Simon Rattle, o maestro que observou longamente e que dirige a Orquestra Filarmónica de Berlim na versão de Sagração da Primavera, de Stravinsky, que entretanto começámos a escutar. Depois volta-se e olha-nos. O som propaga-se, literalmente, a partir das cadeiras do público que, segundo a planta de uma orquestra, ocupam o lugar dos metais, da percussão ou das cordas. A gestualidade que Xavier Le Roy desenvolve constrói-se de movimentos técnicos próximos, ou mesmo similares, aos de Simon Rattle, aos quais adiciona movimentos mais pessoais. Para tal teve que aprender os movimentos efectuados pelo maestro e depois executá-los, dançá-los. Podemos assim distinguir os movimentos que servem a condução da música e aqueles produzidos pela música. O seu comprometimento parece fazer nascer a música no palco que ele próprio suspende com um simples
A peça apresentou-se a 19 e 20 de Outubro no Centre Pompidou, em Paris, e será mostrada em Lisboa, no Alkantara Festival, em Maio de 2008.
gesto da mão. Ele olha atentamente os espectadores e há no seu comportamento qualquer coisa de desenho animado que finge ser um maestro. Os seus gestos possuem uma verdadeira dimensão lúdica. Mas, para além da intensidade com que ele executa os seus movimentos e da sua natural simpatia, permanecemos circunspectos. Será que é porque o dispositivo sonoro não parece realmente funcionar? Gostaríamos de poder sentir vibrar os lugares que ocupamos para nos sentirmos realmente no papel do violoncelista ou do trompetista. No entanto, Xavier Le Roy parece sujeitar-se a uma partitura que segue o seu curso, que se desenvolve (mas porque se coloca ele, a certa altura, à parte?). Os seus braços agitam-se sem que se veja uma evolução marcante no modo como ele representa o maestro. Poderíamos dizer que a ideia era bela: criar pontes entre a música e a dança, interrogar a escuta. Mas teria sido necessário fazê-lo num espaço semi-circular: um verdadeiro fosso de orquestra com fortes vibrações musicais. Mas é mais do que certo que não voltaremos a ver um maestro da mesma forma, da próxima vez que formos assistir a um concerto.
21
ARRITMIA
III
36º FESTIVAL D’AUTOMNE
II
IV
V
VI
VI I
E fo ntr to ev gr is af ta ia D Pa avi sc d
al San Vi so ct n or
CL AU D RÉ E GY
I
22
“É preciso aprender a não saber” Como foi a descoberta deste jovem autor norueguês, Arne Lygre, e deste texto em particula Homme sans but (critica na página 26), e o que o levou a montar esta peça? Há já muitos anos que leio literatura contemporânea, mas aqui aconteceu-me aquilo que só se passou comigo quatro ou cinco vezes na vida: tive a impressão de estar diante de um tom novo, de qualquer coisa de diferente. E não apenas era diferente como sobretudo me pareceu ser um diapasão extremamente afinado da evolução da sociedade e do que se passa no mundo, nas nossas cidades e nas nossas vidas. Foi ao mesmo tempo a novidade e a acuidade do propósito que me tocaram e me deram vontade de encenar este texto. Como definiria a “novidade” desse tom? O que achei muito interessante é que a peça remete para as coisas muito graves do mundo, mas que ao mesmo tempo nada tem de didáctico: ela encontra forma de nos levar para zonas muito profundas permanecendo numa espécie de estado de leveza, onde nada é penoso nem apoiado e onde muitas coisas permanecem caladas. Também me seduziu bastante a forma como Lygre cria poesia sem recurso à literatura: com frases muito simples e em geral breves, onde as coisas importantes não
são ditas. A peça, como a vida, desenvolve-se de uma forma muito rica, muito complexa, ela propõe muitas possibilidades, de entre as quais é impossível escolher uma afirmando ser essa a boa. É uma ampliação e uma exploração do espaço da dúvida – uma exploração que põe tudo em causa, que nos retira e retira ao mundo qualquer estabilidade. Isso pareceu-me novo na maneira de escrever, mesmo se já me interrogo há muito sobre a realidade do real. Comecei a criar um movimento que virou costas ao didactismo – a esse “império Brecht” que era omnipresente – com Peter Handke, depois de 1968. E se há uma escrita da qual eu aproximaria a de Lygre, pelo choque da novidade, é justamente à da primeira peça de Handke que eu montei em Paris, La Chevauchée sur le Lac de Constance. Ali também não podíamos analisar de que natureza de realidade se tratava. Era em princípio dos actores, mas estariam eles a representar? A rodar um filme? Teriam eles nesse momento aventuras entre eles ou seriam antes recordações de histórias reais? Ou de histórias fictícias? Encontrávamo-nos num cenário onde a artificialidade era tornada real... Esta espécie de dúvida, de interrogação sobre a natureza do real existe mesmo. E em Lygre, essa dúvida é transmitida não apenas pela língua, mas sobretudo por uma liberdade extraordinária: ele deixa-se guiar pelo instinto e inventa uma coisa sem saber porquê, nem aonde o vai levar e que em seguida toma outra direcção e outra
ainda – em todas as direcções sem coerência, sem uma real construção. É portanto, para os actores, uma proposta de uma série de improvisações: com nada, tem de se criar e fazer supor coisas sugeridas, mas que de facto nunca são propostas nem mesmo enunciadas. Cabe em seguida à encenação conferir a tudo isso uma unidade? No que respeita a encenação ainda não sei como será [risos]. Também é isso que é interessante quando estamos perante uma escrita nova: é preciso ver como a vamos tratar. Temos uma impressão, vamos procurar num determinado sentido, mas o certo é que vamos ser instruídos pelo que vamos descobrir com os actores, ao ouvir o texto, ao ver o que se passa no espaço, a forma como conseguimos suscitar essas coisas que não são ditas e que ganham vida de uma forma muito concreta. O trabalho com os actores é de qualquer forma, desde há muito tempo, o meu único ponto de partida para o trabalho sobre um texto. Sempre denunciei os abusos da encenação, do espectacular, o recurso a todas as coisas que podem ser muito eficazes, muito impressionantes – e que aliás são algumas vezes muito belas e muito interessantes. Optei por uma espécie de despojamento, de vazio...
23
Qual foi a reacção dos actores aquando da leitura da peça? A esse propósito tenho referências muito curiosas e contrastadas. Nem todos os produtores de espectáculos foram tão entusiastas quanto a gente do Festival d’Automne. Alguns viram ali, antes de mais, uma peça terrível: ela é evidentemente terrível porque fala do nosso mundo, mas fala dele com um tal júbilo e um tal divertimento na forma que eu não creio que a tonalidade seja apenas terrível. Por outro lado, todos os autores a quem eu a dei a ler ficaram de imediato entusiasmados. Alguns anularam mesmo outros projectos para poderem participar. Poderia a escrita de Arne Lygre aproximar-se da, igualmente simples, do seu compatriota Jon Fosse, de quem encenou nomeadamente Vai vir alguém [apresentada pelos Artistas Unidos em 2000, com encenação de Solveig Nordlund]? Sim e não. Existem de facto duas línguas norueguesas: aquela a que se chama “neo-norueguês” e que corresponde à língua literária, que Jon Fosse emprega; e a língua vulgar, na qual escreve Arne Lygre. Os seus textos parecem portanto menos “escritos”. Em Fosse, há esse >>
III
ARRITMIA
II
36º FESTIVAL D’AUTOMNE
I
IV
>> sistema das repetições, uma espécie de organização sinfónica do texto que é muito trabalhado. Com Lygre as coisas parecem absolutamente claras e verdadeiras; simplesmente, apercebemo-nos que de facto, elas não são nada claras, que são tão falsas quanto verdadeiras e que não se pode distinguir a verdade da mentira. Trata-se, em Homme sans but, de um homem que construiu uma cidade à beira de um fiorde... Isso não é importante [risos], não se pode dizer: “É a história de...”. Acontece que Lygre – ele confessou-me isso quando eu lhe disse que tinha vontade de terminar a peça no fim do Acto II, que eu achava perfeito e bastante revelador da forma como ele trabalha – começou por escrever o segundo acto. Só depois é que escreveu o primeiro e em seguida o terceiro. Essa história de cidade em construção não aparece no segundo acto, é uma ideia que lhe veio repentinamente, não sei muito bem donde... Ela pode fazer-nos pensar em mitologias muito antigas, como a criação de Roma por dois irmãos, ou a Babilónia, já que há na peça uma mulher que se poderia assemelhar à grande prostituída.
24
As personagens são no entanto nomeadas, designadas? São-no pelas funções: chamam-se “irmão”, “irmã”, “mulher”, “ex-mulher”... Apenas o “papel principal” tem um nome, Peter. E depois há uma personagem muito curiosa que muda de nome, de função, várias vezes: no início é o proprietário desse terreno magnífico à beira do fiorde, que ele não quer vender; mas que vende imediatamente depois; tendo-lhe sido a seguir proposto que entrasse no negócio e que se tornasse mesmo accionista; e no último acto parece-nos que ele se tornou porteiro – arruinaram-no vendendo-lhe os negócios e utilizam-no como um criado... Ou então, ele tem um poder algo diabólico, oculto, não se sabe... É esta liberdade de invenção que me toca. A criação da cidade é uma ideia louca: temos uma terra virgem à beira de um fiorde, uma paisagem magnífica; Peter decide, assim, de repente, construir ali uma cidade, lojas, fábricas, criar apartamentos não muito caros – assim os prédios de má construção, os supermercados, as grandes superfícies, os subúrbios industriais, acontece tudo, e a morte começa: depressa nos vemos vinte anos mais tarde, na altura em que o vigésimo aniversário da cidade é celebrado com um grande júbilo, mas imediatamente após a personagem entra no hospital que mandou construir nessa cidade-modelo e morre... Lygre joga com o tempo com uma liberdade enorme.
V
VI
VI I
Quem são então essas personagens? Não se sabe. É preciso aprender a não saber – a não querer saber tudo, a tudo compreender, explicar. Eu creio que para este trabalho, se não se quiser ter um falhanço, é preciso deixar-se levar; seguir a partitura, o que está escrito, ouvir e olhar o que se passa com os actores no espaço. Concebi um dispositivo que, uma vez mais, repousa de facto no vazio, numa proximidade de actores e público. Um engrandecimento dos actores em relação aos espectadores, à parte isso, não há nada. São portanto os actores e o texto que vão criar. E a luz, claro. É um elemento que eu considero essencial, porque ao longo dos anos, dei-me cada vez mais conta que a luz permite mudar a natureza do real: aquilo que parece semelhante, as mesmas pessoas no mesmo lugar, iluminadas de forma diferente, tornam-se noutras pessoas com uma outra realidade num lugar que também mudou. A luz não faz barulho, não se vê, ao contrário das mudanças mecânicas; ela é fluida, as suas mudanças podem ser absolutamente imperceptíveis e contínuas e quase permanentes. É um elemento completamente móvel que corresponde à necessidade de preservar a mobilidade do espírito do espectador: de não o fixar nem numa maneira de interpretar o texto, nem numa forma de instalar uma decoração, uma série de imagens fixas, construídas, opacas, que impediriam essa mobilidade incrível do imaginário... No texto que escreveu para o programa fala numa luz branca... São ideias que surgem sem saber em que se vão tornar... Branco, porque se pensa no gelo, nos icebergs, na neve. Porque o branco é também uma espécie de absoluto, que contém o negro como o negro contém o branco. Eu falo de um “delírio branco” porque notei que muitos doentes mentais têm uma lucidez extraordinária que lhes permite ver coisas invisíveis: a extrema lucidez de Arne Lygre pode fazer pensar que ele está à beira do delírio. E, com efeito, este texto é construído como um delírio, as coisas não têm verdadeiramente uma realidade, elas são criadas assim, com um estalar de dedos, elas existem e depois passa-se a outra coisa. Não há nada de encarnado, nenhuma réstia de realidade tangível, tudo deve continuar sugerido. Essa lucidez não será contraditória com o “desfocado permanente” de que fala na escrita de Lygre? É contraditório, é verdade. Mas aprendi – e Arne também, sem dúvida (risos) – que nada se pode fazer de forma válida sem entrar em contradição. Separar os
contrários é uma mentira; já não sei qual foi o poeta que disse que os contrários eram incompatíveis, mas isso é fundamentalmente falso. E eu trabalho sobre a ideia inversa: quanto a mim, não podemos abordar nada que se assemelhe a uma abordagem da realidade se não colocarmos em conjunto os contrários – preto e branco, luz e sombra... É necessário confrontar os contrários, poder fazê-los coexistir, coabitar, sem que se destruam mutuamente. Obtém-se, claro, um tecido muito mais rico, muito menos familiar... Que entende então por “lucidez”? Lucidez vem de luz, mais uma vez... A lucidez é o dom de ver claramente o que está sob o nosso olhar. E no nosso mundo fictício e mediático, na era da manipulação dos povos, vê-se que essa lucidez está cada vez mais atingida – como o demonstraram as recentes eleições presidenciais em França. Mesmo se a peça não se apresenta de todo como uma denúncia do capitalismo, é disso, dessa alienação, dessa cegueira progressiva da sociedade pelo poder mediático e pelo poder do dinheiro que trata Homme sans but. Que é necessário traduzir, claro, por “humanidade sem finalidade”. Se as relações entre as personagens permanecem desfocadas, ambíguas, as relações de subordinação são mesmo assim claramente enunciadas? Sim, mas como o são em La Chevauchée sur le Lac de Constance: há relações de dominantes e de dominados, mas muitas vezes, quando se analisam as coisas, apercebemo-nos que os dominados exercem um poder de dominação sobre os dominadores... De qualquer forma, não se pode dizer que há personagens em Homme sans but, ao contrário, não há personagens. Ao mesmo tempo, não são eles próprios, já que são pagos para representar uma ex-mulher, uma filha, uma irmã, etc. Mesmo o irmão – que enquanto herdeiro universal, tem teoricamente um imenso poder –, o facto de ter sido subordinado durante toda a sua vida de personagem, foi esvaziado da sua personalidade, e não pode fazer mais do que destruir o que o outro construiu. É esse caminho que descreve a peça: partir do nada, de um terreno virgem, destrui-lo construindo-o e, de seguida, assistir à destruição total da cidade inventada. Porque é que, afinal, decidiu não acabar a peça no fim do acto II? Porque o acto III é interessante. Lygre chega a levar o jogo mais longe e durante mais tempo, em torno da personagem da irmã de Peter, tornando-se completamente impossível saber se ela é verdadeiramente sua irmã, ou então uma pessoa paga para representar esse
papel. Ao mesmo tempo, curiosamente, isto não tem nada de pirandelliano. Esta fronteira pouco nítida é afinal o teatro. Sabe-se perfeitamente que o actor não é a personagem que representa, sabe-se mesmo que ele recebe um cachet, mas isso não impede que se acredite nas coisas – e acreditar talvez mais do que se acredita no real ‘real’. Um real em relação ao qual tem, aliás, propósitos eloquentes – nomeadamente, quando fala dessas realidades virtuais que não deixam de ser realidades... Sim, foi uma das primeiras ideias que tive quando descobri a peça, mesmo se Lygre me disse não ter pensado nisso. É certo que os avatares de Second Life se parecem muito com o que se vê na peça: gentes que não o são, que não são elas, mas que o são mesmo assim, em todo o caso fazem “como se”. É algo que se baseia no “como se”. Lygre joga com o mote: “E se nos divertíssemos a criar uma família inteira – uma mulher, uma filha, uma irmã, um irmão...” Poderá um círculo de pessoas falsificado e assalariado representar para nós o mesmo papel que um verdadeiro círculo de pessoas – que contém os seus limites, a sua própria usura, e também os seus sinais de interesses (já que o dinheiro nunca está ausente, não há relação alguma que se estabeleça sem que a avaliação de lucro não venha à cabeça – as pessoas são classificadas segundo o seu nível de vida)? Em que é que esta peça lhe parece traduzir o mundo de hoje ? Poder-se-ia dizer que depois da era das Luzes – onde tudo, como o nome indica, é claro – veio a era das utopias e que nós estamos hoje na era da dúvida. Vivemo-la na medida em que a realidade artificial se constrói e se torna invasora – donde, hoje a artificialidade toma o lugar do real. O discurso mediático está falsificado ou simplificado, fazem-se viver as pessoas de uma forma exterior (com tudo aquilo que tem a ver com o look, o modo de vida...), tudo se torna “moda”, e é assim que chegamos a não sermos nós próprios: vivemos personagens impostas por espécies de modelos transmitidos por osmose, mas manipulados pelas pessoas que detêm o dinheiro, já que o objectivo de tudo isto é encontrar novos compradores para objectos sempre novos. Creio que estamos ao mesmo tempo na era da dúvida e do poder de compra: o poder de compra é o poder comprar e o poder comprar tudo – incluindo os seres vivos e os seus sentimentos. Tradução do francês: Margarida Silva/Instituto Franco-Português
Un Homme sans but apresenta-se no Ódeon – Thèâtre de l’Europe
até 10 de Novembro O sítio http://www.theatreodeon.fr/new/fr/la_saison/les_spectacles_2007_08/homme_sans_but/accueil-f-239.htm disponibiliza um amplo dossier sobre a peça
25
III
ARRITMIA
II
36º FESTIVAL D’AUTOMNE
I
IV
V
VI
VI I
LIGAÇÕES LIQUIDADAS
Homme sans but Arne Lygre encenação de Claude Régy
texto Mari-mai Corbel
26
DR
Homme sans but significa homem sem objectivo: a expressão é horrível, categórica mesmo e, portanto, difícil de definir. O que é um homem? Um objectivo? Uma ambição? Só pelo título a última encenação de Claude Régy apresenta uma obscuridade ácida. “Homem”, “objectivo” tornam-se palavras metafísicas. De facto a peça que Arne Lygre escreveu tende a apresentar-se como uma deploração – “pobre homem sem objectivo!”, e se a representação termina em ruínas, é talvez para transmitir a ideia de uma reconstrução. Mas o desconhecido persiste. Claude Régy concentra-se mais em aclarar a escuridão do que em reabsorvê-la. A estética do seu teatro vem de uma meditação sobre as sombras e a luz, as suas encenações são como um longo comentário sobre o eclipse simbólico que se abate no nosso mundo. Os
textos de Maeterlinck, de L’Ecclésiaste (Les paroles du sage em 1995 e Comme un chant de David em 2005), de Sarah Kane (4 .48 Psychosis), de Jon Fosse (Quelqu’un va venir, Melancholia, Variations sur la mort em 2004) e agora de Arne Lygre – autores que, enquanto nórdicos, são sensíveis à fragilidade da luz –, permitiram-lhe, não obstante, falar de uma resistência, de uma luz interior, da sobrevivência do espírito, apesar da obscuridade. Os seus livros1 acompanham de forma poética os seus gestos no teatro e realçam a sua sensibilidade, o mistério e a sua raiva contra todos os naturalismos, realismos, racionalismos, objectivismos, ou mesmo contra as religiões, que são uma e mesma negação do nosso lado obscuro. Mas com Homme sans but, desta vez precedido pela escrita (L’au-delà des larmes saiu em Julho de 2007), Claude Régy surge mais sombrio que nunca. À primeira vista, o encenador, até agora sempre parte de uma contemporaneidade artística vanguardista, parece, de facto, cair no academismo. Primeiro, e como sempre, convoca uma distribuição prodigiosa e logo inatacável: Bulle Ogier e o único Redjep Mitrovitsa, ambos lunares e sombrios, como se desejam; os sólidos JeanQuentin Chatelain e Axel Bogousslavsky; Bénédicte Le Lamer e a resplandecente Marion Coulon, tal como Parcas ou vestais. Depois, o naturalismo presente nas roupas menos intemporais, evocando uma moda nórdica retro. A cenografia (Sallahdyn Khatir) retoma o palco suspenso por cima do vazio de Variations pour la mort (2004), mas não ecoa mais que um lago gelado debaixo da lua. Já não existem astros. Os néons enternecem uma atmosfera sem relevo e reproduzem a luminosidade glauca que vai ganhando lugar cá fora. As sombras das personagens estão projectadas num plano superior mas como que uma voz que emudece, sendo que aqui o comentário que fazem discretamente sobre o desaparecimento das sombras se torna demasiado evidente, quase discursivo. No fundo, a história é quase um tipo de telefilme – um homem de negócios corrupto do mercado imobiliário chama pessoas próximas para dividir a sua fortuna; juntamente com os estereótipos da ávida ex-mulher e da obsessão do dinheiro nos adultos, assim como da rejeição deste nos jovens mais puros, por assim dizer. A música electrónica que forma um fundo sonoro ameaçador deita camadas de som incapazes de se fazerem esquecer, sustentando uma teatralidade artificial. Vendo de novo, as coisas remexem-se e revelam-se. No fundo, o carácter académico e realista do nosso mundo. O espaço encontra-se como que esvaziado pela ficção. A sua intriga é de uma escuridão irreversível. O próprio texto põe os actores a carregarem figuras, mais do que personagens. Na história em si, a figura do homem de negócios paga às outras para se entreterem nos papéis da sua ex-mulher, do seu filho, da mulher de um primeiro leito. Os actores parecem-se desmascarar e
confessar a ambiguidade dos seus estatutos em palco, pois também eles estão a ser pagos para actuarem. Mas é nesse momento que admitem a possibilidade de não serem autênticos a eles próprios ou a uma personagem, de estarem noutro campo, entre esses dois. É, de facto, perturbador; o dinheiro aterra sobre as ligações para depois as liquidar. Até os espectadores sentem estar a ser pagos por estarem aqui, nos seus lugares. O desconforto espalha-se. “Homem sem objectivo é, portanto, muito representativo da modernidade”, escreve Claude Régy. “É uma exploração permanente (e muito fina) do espaço da dúvida”. As identidades fraquejam devido ao outro nos enviar apenas uma imagem de comando. O desejo pelo outro esvai-se. O desejo que é astral, magnético... E na verdade, os astros estão escurecidos, criase uma imagem entre eles e a terra. O desejo fechase, e, na sombra do não-dito, a insatisfação sexual, o desprezo pelo erotismo e a impotência crescem como uma doença mortal, tudo isto escondido ou traído pelo fantasma comum de um prazer todo-poderoso que se destrói. O fantasma de um desmaio de prazer ou o desaparecimento no tempo de um relâmpago, e suspender a dor de viver no mundo. É, portanto, neste sentido que o desconforto surge explicitamente na última cena, onde a ficção entra num registo fantasmagórico. A cena é sadeana, logo incestuosa, à beira de um leito de morte. Dá lugar a um luto (como todos os lutos que estão suspensos desde a Segunda Guerra Mundial). Coroa uma transmissão vazia de sentido (e de dinheiro), uma maldição que não pode exorcizar o desejo do filho de se deserdar. Cá fora, na rua, reconheço o império sinistro e bem presente descrito por Arne Lygre, enquanto sinto a minha própria sombra assustada, não me lembrando de outra peça que fale tanto de dinheiro. É o mundo que continua a sua caminhada desastrosa, e o teatro representando-o fielmente. (1) Poemas magníficos que não se enquadram em nenhum género – notas de encenação, comentário crítico, aforismo, poética do fragmentado, citações, testemunhos – editados pelos Solitaires Intempestifs, todos os títulos falam por si: L’ordre des morts, Espaces perdus, L’état d’incertitude. E o último (Julho de 2006), L’au-delà des larmes. Tradução do francês: Francisco Valente
Homme sans but está em cena até 10 de Novembro no Théâtre de l’Odéon, Paris
27
III
ARRITMIA
II
36º FESTIVAL D’AUTOMNE
I
IV
V
VI
VI I
O sexto sentido de
RACHID OURAMDANE
texto Mäite Rivére fotografias Patrick Imbert
28 28
O coreógrafo Rachid Ouramdane (Nîmes, França, 1960) constrói as suas peças como séries de retratos, prosseguindo uma pesquisa de identidades contemporâneas, questionamento que ele perspectiva a partir de um ponto de vista afectivo e subjectivo, o seu evidentemente. A imagem e as novas tecnologias, o corpo e a identidade estão presentes no seu trabalho desde 1996. Este questionamento foi particularmente assertivo na peça Les morts de pudiques (2004), um solo que interpretava segundo uma temática bem precisa: morrer jovem. A dramaturgia foi feita segundo um modelo que o caracteriza, a partir de um motor de pesquisa na Internet. Aqui seguiu múltiplas pistas (blogs de adolescentes com tendência suicidas, sites para aprendizes de kamikazes) com o intuito de as fazer relacionar com uma realidade imediata, contemporânea. A utilização do vídeo nas suas peças contribui também para essa ideia: colar a essa realidade, mas mais do que isso permitindo-lhe complexificar os pontos de vista em cena. Quando ele coreografa alguém pensa na utilização desse terceiro olho ou “sexto sentido” que, como ele diz, revela outras facetas da pessoa e faz com que o espectador entre no seu espaço tanto mental como corporal. Em Un garçon debut (2006), um solo feito para Pascal Rambert, actual director do Thèâtre de Genevilliers que produziu Surface de reparation [ver crítica ao lado], o vídeo dá a ver uma criança-duplo de Rambert, confrontando juventude
e maturidade; esse desdobramento de idade tem como fonte o próprio processo de criação do coreografado, dramaturgo de profissão – o que faz com que Ouramdane o aprisione no seu próprio esquema de criação. Quando criou Cover (2005), a partir das suas viagens ao Brasil, foi beber à diversidade de paisagens e de pessoas encontradas para chegar a uma reflexão sobre “a figura do mestiço contemporâneo não como portador de uma forma de diferença e exotismo mas na sua capacidade de criar um lugar onde parece só haver diferença”. Em Cover os corpos pintados e os movimentos por vezes espasmódicos dos bailarinos evocavam as raízes africanas e os transes religiosos, enquanto que a música era composta por referências a clássicos ocidentais, contribuindo para a construção de uma certa ideia de soldagem, revelando assim a proximidade com a mestiçagem cultural. De cada vez trata-se de se abrir ao outro, de um verdadeiro encontro. E a dança é um saber que Rachid Ouramdane sabe usar como ferramenta para questionar o outro, o colocar em causa, revelar a sua complexidade. Falta-lhe agora ir até à ex-Indochina para seguir os passos do seu pai, soldado na guerra da década de sessenta, num espectáculo onde combinará a pequena e a grande história, e onde dos encontros que lhe serão proporcionados surgirão, certamente, novas formas.
de Rachid Ouramdane
Surface de réparation,
SUPERFÍCIE DE FRUSTRAÇÃO
texto Jérôme Provençal
Longe do Brasil que lhe havia fornecido a matéria-prima do soberbo Cover (2005), Rachid Ouramdane instalou-se em Gennevilliers para criar Surface de réparation com o apoio de jovens desportistas. Desigual, a peça não atinge plenamente os seus objectivos. O convite de Pascal Rambert, recentemente nomeado para a direcção do teatro de Gennevilliers anteriormente dirigido pelo encenador Bernard Sobel, levou o coreógrafo a criar aquilo que poderíamos apelidar de um espectáculo de proximidade por ter como intérpretes um número significativo de jovens desportistas da cidade, escolhidos após um trabalho de pesquisa e preparação que durou vários meses. “Procurando ir ao encontro de jovens desportistas do subúrbio parisiense, continuo a observar como se constituem as nossas identidades contemporâneas. Ao longo deste projecto interessei-me particularmente nos símbolos identificativos que o desporto propõe e tentar perceber de que modos desenham estes as nossas identidades locais e nacionais”, escreveu o coreógrafo. Em concordância com os objectivos de Rambert, que ambiciona potenciar ao máximo a circulação entre o “seu” teatro e a cidade, Surface de réparation inscreve-se igualmente na continuidade lógica do trabalho de Ouramdane, coreógrafo mais sensível à questão da identidade do que à “beleza do gesto” – noção usada (com mais ou menos sucesso) pelos desportistas de todos os níveis. Atrevido no papel, este ensaio coreográfico não chega verdadeiramente a ser transformado em espectáculo, onde uma cena sóbria, composta de tapetes de sala ovais e duas colunas encimadas por ecrãs, evoca um ambiente de jogo irreal. Se é verdade que, ainda que oscilante numa atmosfera onírica, o espectáculo não está ausente de qualidades – a começar pelo charme entusiasmado da música e a refinada precisão do desenho de luz – e de indiscutíveis estados de graça – por exemplo esse estranho duelo/duo entre o boxeur e o esgrimista -, sofre, contudo, de uma certa falta de densidade, devido principalmente a uma construção demasiado linear e a uma utilização atabalhoada do vídeo. A necessidade do uso do vídeo nos espectáculos de dança contemporânea tornou-se, nos últimos anos, bastante duvidosa... No caso de Surface de Réparation apostamos que os cépticos acantonarão as suas posições por mais prejudiciais que sejam as imagens, divididas entre dois campos, a estilização e o documentário, elas não convencem nem de um lado nem do outro, tendendo a banalizar um objecto coreográfico a priori tão atípico. No campo da representação domina um sentimento de frustração, levando-nos a penar que Rachid Ouramdane se deixou ficar pela superfície (surface) do seu assunto passando ao de leve – e por vezes com elegância – pelo coração. Surface de réparation apresentou-se no Théâtre de Gennevilliers
de 3 a 27 de Outubro.
29
30
III
ARRITMIA
II
RAUSCHENBERG
I
IV
V
VI
VI I
ROBERT
RAUSCHENBERG texto Tiago Bartolomeu Costa
RECICLADOR DO MUNDO >>
31
III
ARRITMIA
II
RAUSCHENBERG
I
IV
>> Bastariam as palavras de Robert Rauschenberg (1925, Texas, Estados Unidos da América) para acabar de vez com qualquer tentativa de redefinição do modo como o estabelecimento de relações entre a sua arte e o trabalho de outros em diversos campos artísticos é mais do que fruto das circunstâncias temporais ou filiações estéticas. É pouco, dirá ele em 1975, quando solicitado a falar do seu trabalho de mais de uma década com o coreógrafo Merce Cunningham: “não quero dissecar e amesquinhar, através da sua classificação e descrição, um contínuo movimento de colaboração existente na alma de grupo. Os pormenores são traiçoeiros e políticos e tendem a destruir a totalidade do acontecimento. A experiência rara que foi trabalhar com pessoas tão excepcionais em condições sempre únicas e em locais completamente imprevisíveis (tudo isso suportado graças ao desejo mútuo e compulsivo de fazer e partilhar), não posso devolvê-la sob a forma insuficiente da memória ou de factos bidimensionais. Todos nós trabalhámos totalmente empenhados, partilhámos cada emoção forte e, penso, fizemos verdadeiros milagres, só por amor”. Quando escreveu isto já tinham passado vinte e um anos desde a primeira colaboração com Cunningham, Minutae, para a qual criou os cenários, sem que o coreógrafo lhe pedisse “nada específico”. Maria José Fazenda, na 32 análise que faz à obra do coreógrafo norte-americano revela que Merce apenas pediu “uma coisa que pudéssemos atravessar”, e que a antropóloga descreve como consentânea com o modo como Rauschenberg entendia a criação artística, “evidenciando-se o valor artístico autónomo destas obras [as cenografias], a forma independente como podem ser percepcionadas e, simultaneamente, a sua relação estética com a dança”. É sabido que a aproximação entre o coreógrafo e o artista plástico se deu, precisamente, porque a dança de Cunningham assumiu desde muito cedo uma componente plástica amplamente influenciada pela pintura, em particular Duchamp. Rauschenberg seria, mais tarde, director artístico da companhia de Cunningham. Robert Copeland fala de uma vontade em “libertar a coreografia da dependência face à música” em oposição ao que preconizava a coreógrafa Martha Graham, expressiva e simbólica. “Assim, o repúdio de Graham e da dança moderna por Cunningham é o correlato do repúdio do expressionisto abstracto por Rauschenberg” que, em 1953 havia já apagado o famoso desenho de De Kooning com a peça Erased De Kooning. “O gesto de Rauschenberg decerto pareceu demasidado leviano para ser entendido como uma apaixonada declaração de guerra ao expressionismo abstracto; mas foi, no mínimo, um gesto de recusa de toda aquela ‘angústia existencialista’ e da discussão pública de assuntos mais adequados ao
V
VI
VI I
divã do psicanalista”, escreve Copeland. Quem for visitar a exposição que a Fundação de Serralves inaugurou no passado dia 26 de Outubro, Robert Rauschenberg: Em viagem 1970-1976, irá, certamente e sem grande esforço, reparar precisamente numa abertura ao diálogo entre os materiais, produzindo obras que poderão evocar determinadas referências, mas são sobretudo hipóteses exploratórias de caminhos que levam à criação de uma arte relacionada com a emoção, o natural e o instintivo. Há nos seus trabalhos, e foi isso que transportou para os célebres panópticos criados para Cunningham, os jammers usados por Viola Farber, os figurinos multi-temporais desenhados para Trisha Brown ou a célebre cabra pintada, Monogram: um desejo de permanente diálogo entre as várias disciplinas que estruturavam uma peça. A fim de restabelecer o contacto com as regiões naturais e não corrompidas do eu”, continua Robert Copeland, “é necessário que o indivíduo suspenda a racionalidade”. E, acrescentam os comissários da exposição, João Fernandes e Mirta d’Argenzio, “introduza a vida na obra de arte”. Rauschenberg “reciclador do mundo”, utilizou os materiais que constituíram as suas peças – em Serralves vemos cartão, areia, banheiras e panos, cordas e pneus – a partir das suas próprias características e marcas de uso, potenciando a “virilidade do material” (João Fernandes) e “forçando a ver-se primeiro e a pensar depois” (Mirta d’Argenzio). O trabalho do artista viveu sempre de uma grande margem de risco que o próprio dizia ser condicionada pela descoberta de um imediatismo que nada tinha que ver com a pressa, mas com o reconhecimento do quotidiano. Fontes: Maria José Fazenda, Dança Teatral: Ideias , Experiências, Acções, Edições Celta, Outubro 2007 Catálogo da exposição Merce Cunningham, Fundação de Serralves, 1999
O Auditório de Serralves está a preparar uma programação transdisciplinar paralela à exposição, que decorrerá durante o próximo semestre, e que privilegiará “as relações proporcionadas a partir de partilhas artísticas entre vários autores”. Para além de debates, cinema e concertos, a equipa liderada por Cristina Grande e Pedro Rocha está a concentrar todos os esforços para um fim de semana especial, de 27 a 31 de Março, que incluirá a apresentação de peças de Trisha Brown escolhidas pela própria para a ocasião. Também o Serviço Educativo do Museu está a preparar um ciclo de debates, intitulado Black Mountain – a escola onde Rauschenberg e Cunningham se conheceram – coordenado por João Sousa Cardoso.
FAZER A HISTÓRIA
OPEN SCORE, DE ROBERT RAUSCHENBERG Imagine-se um imenso hangar cheio de um público curioso por ver uma instalação da qual sabem muito pouco ou quase nada. A ideia de que pudessem estar a participar num dos mais seminais momentos da história da performance não lhes deveria passar pela cabeça, se é que sabiam o que era uma performance. As centenas de pessoas, muitas delas apenas motivadas pela ousadia do gesto, foram-se acumulando nas bancadas improvisadas e, depois, deixaram-se guiar pelas ordens dos artistas. Às vezes percebiam porque é que iam de um lado para o outro, às vezes nem sequer viam o que se passava no centro do hangar, outras vezes descobriam que nem sequer os próprios artistas tinham a certeza do que estavam a fazer. A sensação de prazer pela descoberta, inocentada de um conjunto de referências que contextualizariam e definiriam o que ali se passou, é irreproduzível. E, no entanto, Open Score, o documentário que procura dar a ver a história dessa noite mítica, e épica, quase nos faz crer na doce fé daqueles espectadores nova-iorquinos. Primeiro a história: Robert Rauschenber coordenou um conjunto de eventos que envolviam arte e tecnologia durante dez dias em Nova Iorque. De 13 a 23 de Outubro 1966, os cúmplices do costume, Steve Paxton, Lucinda Childs, Yvonne Rainer, Deborah Hay, Robert Whitman, John Cage, Öyvind Fahlström, David Tudor e Alex Hay juntaram-se a técnicos e especialistas, investigadores e cientistas na área das novas tecnologias (numa altura em que a terminologia fazia sentido), para ficarem a saber, ou pelo menos para experimentarem, o que fazer para tornar mais autêntica a relação entre a arte, o indi-
víduo e a inovação. Utilizaram tudo o que estava ao seu alcance, e o que não sabiam inventaram. O resultado foi essa performance, Open Score, também ela integrada num programa onde cada um dos artistas tinha o seu quinhão de jogo experimental. A imagem mais forte é a do público a assistir a um jogo de ténis entre Frank Stella e Mimi Kanarek, assumidamente revolvendo as regras básicas da representação desportiva. Aquele jogo, que era naturalmente uma encenação, não deixava, apesar e por causa disso, de ser um jogo de ténis. Para libertar esse jogo dos truques retóricos da falsidade nas artes performativas, Rauschenberg solicitou aos técnicos e especialistas que ampliassem esse mesmo jogo, fosse através de som ou imagem. E depois, enquanto o olhar do público se dividia entre um e o outro lado do campo, ele e a sua troupe convocariam o seu próprio manual de instruções para pensar a criação artística. O documentário, se nos introduz, com minúcia e rigor, no esquema de montagem da instalação, também nos deixa livres na imaginação do fenómeno ali produzido. Recolhendo testemunhos dos técnicos, que abandonam um jargão férreo para se deixaram levar (e nos guiar) através da experienciação de outras sensações, intercala os documentos posteriores com registos do momento, tornando a experiência de ver este documentário menos passiva e mais especulativa. Conhecendo o papel que a história da performance, e nela o lugar de Rauschenberg, teve para a definição daquilo que hoje entendemos como acção num espaço e num tempo, Open Score é um documento de rara acuidade e intemporalidade (Microcinema Internacional, 34€).
33
III
ARRITMIA
II
RAUSCHENBERG
I
IV
V
VI
VI I
RAUSCHENBERG
E A “CONTINUIDADE NO TEMPO” O filho de Robert Rauschenberg, Christopher, e a co-comissária da exposição, Mirta d’Argenzio, falam da relação entre as obras pictóricas do artista e o seu trabalho com a dança e a performance É possível relacionar o mesmo tipo de liberdade interpretativa promovida por Rauschenberg nestas obras, mas também em muitas outras incluindo as famosas Combine Paintings, com aquela que estava presente no discurso e nos trabalhos de outros artistas da área da dança, da performance ou da música com os quais trabalhou, nomeadamente Trisha Brown, Merce Cunningham, John Cage ou Yvonne Rayner?
34
Christopher Rauschenberg: Creio que a ligação que existe é mais simples que tudo: “vamos fazer”. Nas peças que fez com o Cunningham o que estava por detrás era simplesmente a vontade de fazer coisas. Uma das suas maiores experiências foi quando o cenário de uma das peças de Trisha Brown se perdeu numa viagem a Nápoles e ele teve de fazer uma nova cenografia num dia. Andou pelas ruas de Nápoles à procura de coisas que pudessem fazer um cenário. Mirta d’Argenzio: Isso aconteceu nos anos 80, quando Robert fez a primeira série de trabalhos a partir de desperdícios que encontrava nas ruas, fazendo uma espécie de performance ao juntar todas as peças. As experiências com o Judson Dance Group e Merce Cuningham foram muito importantes para Rauschenberg, nomeadamente a percepção do corpo que ele adquiriu ao observar o trabalho dos bailarinos. Mas também a
importância das viagens, que nós recuperamos para o subtítulo desta exposição [Em Viagem], já que Robert viajou com a companhia de Merce durante os anos 60 e depois, durante os anos 70, fez as suas próprias viagens com os seus colaboradores, fazendo performances em vários sítios. É verdade que alguns dos Combine Paintings, onde se incluem os panópticos que fez para Cunningham, podem, de certa forma, ser vistos em algumas destas peças, onde o cartão toma diversas formas e tanto serve de tela como de potenciador de outras relações entre os materiais. Mas é, no entanto, possível estabelecer uma diferença no modo de criação dos objectos porque não se destinavam a uma peça? CR: Creio que ele teve sempre a sensação de que, observando-os, também poderia fazer um trabalho performático. Experimentava muito a partir de um entusiasmo, deixando-se levar por aquilo que via, não só desses artistas, mas de pessoas que o rodeavam. Por exemplo, quando esteve na Índia, em Ahmadabad, e viu o modo como os artesões faziam os tecidos, agitando-os no ar, imediatamente viu nisso aspectos performáticos, mesmo que eles não achassem. “Quero experimentar pegar nesses tecidos e fazer uma performance”, dizialhes. MA: Obviamente que ser artista é ter uma colaboração com materiais e foi isso que ele fez com Cage, por exemplo. Outro exemplo foi o que fez com impressões nas quais contou com a participação de vários artistas. Cada sessão de trabalho, feita num armazém amplo, era uma performance. Para Rauschenberg a arte é uma “coisa” elástica, não está fechada em performance, vida ou escultura. Aconteceu que, por vezes, ele fazia um Jammer [série de panos de seda com impressões produzida entre 1975 e 1979, de que se mostram alguns exemplos em Serralves] e o Cunningham chegava e dizia-lhe: “posso usar?”. Alguns deles foram usados em Travelogue, uma peça de 1977. Há um sentido de continuidade das obras quando, nessa peça, vemos os bailarinos a usar os Jammers como véus ao longo de todo o palco. Faz tudo parte
de um discurso que interliga as várias fases do seu trabalho. Se o visitante da exposição vir com atenção vai reparar que, para além das peças feitas exclusivamente de cartão, há outras que usam o mesmo material em dimensões mais pequenas. A mesma coisa acontecia com alguns figurinos que fez, o que prova que esta continuidade surge não a partir do objectivo final de cada peça, mas da colaboração entre artistas e materiais, entre espaço e tempo. O trabalho de Rauschenberg, se necessário for classificá-lo rapidamente, trata da continuidade no tempo. CR: Há um outro exemplo mais reconhecível, a cabra pintada [Monogram, peça de 1955 onde uma cabra embalsamada é envolta num pneu e assente numa tela], que foi feita em palco, no Japão, durante uma performance. Há peças como Soundings [de 1968] onde a pintura funcionava como performance porque, quando o espectador falava, as cadeiras atrás daquela “parede” que era a caixa de sombras eram iluminadas. Ele achava que a pintura era uma forma de performance, era uma arte interactiva.
35
PONTO CRÍTCO
II
OPINIÃO
I
III
IV
PONTO CRÍTICO Por
Eugénia Vasques
INCURSÃO POR UM TEATRO NACIONAL Uma de entre as muitas questões que têm passado sob pesado silêncio crítico é o lugar desempenhado pelos Teatros Nacionais no quadro da actual conjuntura cultural portuguesa. Não nos debruçando, nesta crónica, nem sobre legislação nem sobre a consistência entre programações apresentadas ao público e programações anunciadas oficialmente, dedicaremos algumas reflexões aos dois espectáculos que marcaram recentemente dois dos espaços do Teatro Nacional D. Maria II, respondendo ao que deve ser um dos imperativos destes teatros: a internacionalização do teatro português. Na Sala Estúdio, decorreu, entre 19 de Setembro e 14 de Outubro, o espectáculo A Minha Mulher, com texto de José Maria Vieira Mendes e encenação da cineasta Solveig Nordlund. O espectáculo é, em termos de programação de um Teatro Nacional, um objecto obrigatório, pelo facto de se tratar de um compromisso institucional e internacional (Prémio Luso-Brasileiro de Dramaturgia António José da Silva) e por se tratar de um texto de um dramaturgo com possibilidade de ajudar a levar a nossa actual dramaturgia para países não falantes do português. 2. Entre a peça lida e premiada e o espectáculo material perdeu-se alguma coisa, no caso, a proposta de escrita “circular” que nos conduz para um género a que ainda podemos chamar, em virtude dos traços de repetição, uma comédia, de comédia-pastiche ou melhor, de paródia de comédia. Esta característica formal que parece querer testar os limites contemporâneos da matéria cómica “nacional” – aquela matéria tecida de pequenos incidentes de um quotidiano sem maior grandeza do que a que decorre da verborreia do português-gabarola, o pater famílias, e a apatia, a preguiça e o nem-sequer oportunismo dos restantes familiares, nomeadamente os da geração mais nova, emerge com muita força neste trabalho laboratorial que terá partido
V
VI
VI I
da memória de uma peça de câmara de Strindberg, Brincar com o Fogo. A encenação, porém, aprisiona a estrutura dramática numa lógica contígua de cenas separadas por black-outs, apesar de a cenografia de Ulisses Cohn sugerir uma fuga a um realismo que é a marca atribuída a João Lagarto a cujo belo histrionismo se contrapõe a performance branca do restante elenco. 3. Tanto Amor Desperdiçado, de Shakespeare, com encenação do luso-francês Emmanuel Demarcy-Mota, indigitado director do Théâtre de la Ville de Paris, emerge, por seu turno, como uma proposta muito convincente de teatro multilingue que, em “época de Bolonha”, poderá ser para uma das pontes de trânsito europeu para os artistas portugueses. No caso em apreço, DemarcyMota, um encenador cuja opção de linguagem teatral se centra no valor do texto para uma criação que coloca o actor perante a oposição palavra-corpo, afirma um projecto que devemos acarinhar: o de continuar a “programar” não se esquecendo, culturalmente, da pluralidade que constitui a Europa. Nesta sua realização bilingue, a base é uma tradução, “alexandrina”, do texto de Shakespeare por François Regnault e uma tradução para português pautada, por seu lado, por marcas reconhecíveis da poesia clássica portuguesa (com ecos, justamente, de António José da Silva!), assinada pelo poeta Nuno Júdice, pautas textuais estas que colocam, logo à parida, os actores perante dificuldades de enunciação muito desiguais. Há duas escolas em confronto: a “escola francesa”, largamente apoiada nas técnicas de enunciação do teatro em verso e a “não-escola portuguesa” que não inclui esta dimensão na formação dos actores. É disto exemplo Dalila Carmo que teria necessitado de um coaching mais pronunciado pois tem um texto de grande fôlego em francês e não tem o apoio do registo cómico ou irónico que atenua as dificuldades dos restantes actores quando falam numa língua estrangeira (francês ou português). A escolha do elenco português, composto por um conjunto muito heterogéneo de actores (um dos quais, o impressionante Elmano Sancho/Biron (Berowne), aliás, bilingue), foi realizada por meio de audições. O que resulta desta estratégia de confronto entre actores de formações e experiências muito variadas (Dalila Carmo, Horácio Manuel, Heitor Lourenço, Cláudio Silva, Miguel Moreira, Vítor de Andrade e os mais jovens Elmano Sancho, Nuno Gil, Gustavo Vargas, Marco Paiva, Nelson Monforte, Ana das Chagas, Maria João Pinho e Diogo Branco) é um autêntico teatrum mundi ou freek show, energético, feliz, diverso, estranho! Cumpriu-se, aqui, outro desiderato de um Teatro Nacional.
37
III
DBM
IV
DBM
II
APOSTA
I
TA S O AP
V
VI
Danse Basin Méditerranée textos Paula Varanda
38 38
VI I
PODE A ARTE ANULAR FRONTEIRAS POLÍTICAS? Em termos práticos, estão em curso dois tipos de projectos. Um deles promove encontros pontuais em cidades da região onde, por períodos intensos, decorrem iniciativas várias como mostras de trabalho, debates e oficinas. Estas são oportunidades de visibilidade pública e de mobilidade de profissionais, envolvidos no projecto ou espectadores, entre os diferentes países-membros. O próximo encontro realiza-se este mês em Beirute e já está agendado outro para Barcelona em Fevereiro de 2008. O segundo projecto é uma cartografia da dança e desenvolve-se numa plataforma virtual disponível em www.d-b-m.org. Este mapa inclui uma base de dados que junta informação sobre organizações e actividades, bem como uma reflexão sobre o panorama da dança contemporânea em cada país. Ainda só parte dos países estão envolvidos e há diferentes níveis de execução da tarefa, mas esta sistematização já constitui uma fonte de conhecimentos com utilidade evidente. Ela permite aos artistas conhecerem circuitos estrangeiros de apresentação e centros de residência; aos estudantes planearem viagens de estudo; aos programadores recolherem pistas sobre os criadores; e aos bailarinos encontrarem coreógrafos. Em certos casos, o mapa serve aos agentes independentes como prova de existência perante as instituições do seu país para reclamarem maior consideração. Espera-se que estes sejam sinais de revitalização de um projecto com extrema importância para a criação de cumplicidades e defesa de relações internacionais ditadas por objectivos da comunidade artística, porventura diferentes de estratégias traçadas em função de outros interesses e indispensáveis para o crescimento e preservação do indivíduo enquanto depositário de um rico património cultural em evolução.
fotografias Aydin Teker
DBM é uma rede internacional, para dinamizar a dança contemporânea e as artes do espectáculo, que tem como objectivos primordiais estimular a comunicação e o trabalho em rede entre profissionais das artes da região do Mediterrâneo, Europa e o resto do mundo e apoiar actividades realizadas pelos seus membros. Fundada em 1998, congrega associações e pessoas que trabalham em áreas tais como a criação, a programação, a investigação e a formação. Entre 2002 e 2004, uma intensa produção de obras e mobilidade de artistas, apoiada pelo programa Cultura 2000, proporcionou grande visibilidade e adesão ao projecto no seio da comunidade internacional. Em 2005, a sede executiva mudou de Paris para Lisboa e o painel de directores conta actualmente com representantes de Portugal, Tunísia, Líbano, Turquia, Eslovénia, Itália e França. Hoje, as prioridades são a consolidação de recursos estruturantes, que viabilizem o projecto a longo prazo, e fomentem a criação e reabertura de canais de comunicação. Não obstante a natural e saudável dimensão doméstica da actividade artística, sabemos que a população mobilizada a nível nacional na produção e na recepção é bastante reduzida e que os números são tão mais pequenos quanto menor é a projecção dada pelas instituições oficiais a essa prática. A dimensão cosmopolita da dança contemporânea é, por isso, essencial e confirma-se com a banalização de viagens de estudo, elencos mistos de diversas nacionalidade e festivais internacionais. Nesta cena dinâmica e versátil, misturam-se culturas, experiências de vida e visões artísticas muito variadas, contrariando o lado homogeneizador da globalização. A DBM surge então como um meio privilegiado e necessário para facilitar a troca de perspectivas, ideias e informações e promover o desenvolvimento profissional num contexto transfronteiriço incentivador e acolhedor da diversidade e acessível a realidades muito diferentes.
39
fotografia Aydin Teker
III
IV
DBM
II
APOSTA
I
TA S O AP
V
VI
VI I
Mark Deputter
AJUDA-SE A SI PRÓPRIO, QUEM QUISER...
entrevista Tiago Bartolomeu Costa 40 40
Mark Deputter é, desde 2005 o presidente da DBM, cargo que acumula com a direcção artística do Alkantara Festival. Numa entrevista feita por e-mail, fala-nos do papel da DBM no desenvolvimento de redes de cooperação entre os vários países. O lado político, se não está ausente, também não é o motor principal desta rede: “A DBM não nasceu de um sentimento de responsabilidade e dever, mas antes de um sentimento de curiosidade e uma grande vontade de se conhecer”. O trabalho da DBM reveste-se de particular relevância para países cujas condições para a existência de uma cena de dança contemporânea esbarram num difícil contexto socio-político. Como articular isso com a necessidade de se evitar a ajuda e a “caridade”? Os objectivos centrais de DBM são a mobilidade, o trabalho em rede e a comunicação entre artistas e profissionais da dança em todo o mediterrâneo e com o resto do mundo. A DBM não ambiciona “melhorar” as condições para a dança em todos os países do Mediterrâneo, mas sim desenvolver ferramentas muito concretas
para estimular a internacionalização e a colaboração. A ideia subjacente é, obviamente, que o intercâmbio internacional seja uma força positiva, uma oportunidade. Seria irrealista e até contra-producente a DBM querer intrometer-se na realidade local ou nacional de cada país da região. O desenvolvimento da dança só pode ser feito pelos intervenientes locais, mas o contacto com os colegas estrangeiros pode ser uma ferramenta útil para lá chegar. É uma decisão individual (de cada artista, cada operador cultural, cada organização) utilizar esta ferramenta ou não. Não existe aqui nenhum “espírito de missão”. Ajuda-se a si próprio, quem quiser... Para já, a falta de trabalhar em rede a nível internacional e o isolamento artístico fazem-se sentir em todos os países do Mediterrâneo (Portugal nem faz má figura deste ponto de vista). Em segundo lugar, partilhamos uma série de problemas que vale a pena discutir e investigar em conjunto. Finalmente, a DBM pode fazer para a região o tipo de marketing internacional, que os vários institutos nacionais fazem nos países mais ricos (Goethe, CulturesFrance, Pro Helvetia, British Council, Vlaams Theater Instituut, Netherlands Theatre Institute, etc.); já que os nossos governos não o fazem para nós, fazemos nós próprios. O manifesto da DBM é: “DBM is an independent membership organisation that aims to dinamize the development of contemporary dance and the performing arts in the Mediterranean, by facilitating networking and stimulating communication between artists and arts professionals from the region, Europe and the rest of the world and by supporting memberbased activities, productions and events that enhance artistic exchange and collaboration”.
41
É de responsabilidade acrescida a presença de países como Portugal, Espanha, França ou Itália nesse trabalho com o “sul do mediterrâneo”? E porquê? Não há responsabilidade especial. Existe apenas oportunidade. A oportunidade existe para qualquer um em qualquer país do mundo, mas é maior e mais aliciante aqui, porque somos países vizinhos que mal se conhecem, e partilhamos uma cultura milenar. A DBM não nasceu de um sentimento de responsabilidade e dever, mas antes de um sentimento de curiosidade e uma grande vontade de se conhecer. O multiculturalismo tornou-se uma tendência artística cujos resultados nem sempre vão ao encontro daquilo que são os reais discursos dos artistas, mas aquilo que o olhar pós-colonial europeu entende ser “aquilo que se espera que esses países apresentem”. Como evitar a normalização dos discursos? No meu entender, o multiculturalismo não é uma tendência artística. O que existe (ou deveria existir) é um interesse maior pelo trabalho e pelas linguagens artísticas de artistas não-Europeus. As razões são simples: o mundo está a tornar-se menos eurocêntrico a
um ritmo alucinante, por razões que têm em primeiro lugar a ver com o crescente peso económico e político de outros países e regiões do mundo. No tempo dos impérios europeus, não era preciso olhar para a cultura e criação artística do resto do mundo (nem para qualquer outro dos seus direitos), porque a cultura europeia era inquestionavelmente a norma. Claro que houve interesse, mas o olhar era o olhar do poder dominante: era um olhar que tornava o outro numa coisa exótica, apenas boa para criar diversão. Nada para levar muito à sério. Também é claro que este olhar continua a existir, talvez até prevalecer. Mas tem inevitavelmente os dias contados: quer queiramos quer não, o domínio do mercado das artes pelo mundo ocidental está a acabar. Entretanto, há um trabalho por fazer, de descoberta, de encontro, de reconhecimento. Evitar um olhar normativo sobre “aquilo que se espera que esses países apresentem” tem a ver com a maneira em que organizamos e vivemos este encontro. Em primeiro lugar, evitar de olhar para o artista individual como um representante da sua cultura ou do seu país. Por isso, a DBM é uma rede aberta de indivíduos e organizações independentes e sempre recusou a ideia de instaurar um sistema de representantes, ou sub-redes nacionais.
III
IV
DBM
II
APOSTA
I
TA S O AP
V
VI
VI I
PAÍSES DO MEDITERRÂNEO APONTAM AS DIFERENÇAS QUE OS UNEM textos Paula Varanda Foi em Istambul que aconteceu, em Junho, o 4º encontro anual da DBM, juntando 35 participantes e 16 países. O programa incluiu visitar estúdios das companhias locais, assistir a uma plataforma de dança turca no festival Istanbuldans 2007 e, no Centro Cultural Francês, reuniu-se a Assembleia Geral da rede, mostrou-se o documentário Le Réseau, de Luciana Fina, sobre a DBM [criticado na OBSCENA #4] e decorreu a apresentação do projecto Mapa da Dança do Mediterrâneo. O testemunho dos países já envolvidos deu-nos um interessante leque de impressões e realidades: um investimento público em Espanha canalizado para grandes
42 42
infra-estruturas culturais que não acolhem a produção independente e uma imigração marcante dos coreógrafos nacionais para o norte da Europa; um momento de clara expansão e frescura na Turquia com crescimento de associações, oferta de oportunidades e formação de públicos, mas ainda sem efeitos na sensibilização do Estado; uma actividade quase inexistente na Bósnia, centrada em oficinas de formação para a comunidade e programação esporádica de companhias estrangeiras; uma proliferação de companhias e coreógrafos independentes na Grécia em contradição com escassas oportunidades de apresentação e circulação e um
reconhecimento estatal diminuto; ausência de discurso teórico na Sérvia e Montenegro e a suspeita de que a “dança contemporânea” é um acto colonizador da Europa ocidental para a Europa de Leste; um contexto de grande instabilidade no Líbano que leva os artistas a especializar-se em formas criativas de resistência mas que os confina a um circuito público muito fechado e local; um efeito positivo da guerra dos Balcãs para a promoção internacional das companhias eslovenas e a confirmação do papel relevante da dança para reflectir sobre a sua sociedade; uma actividade bem estruturada em diferentes planos na Croácia, com novos espaços, relações interdisciplinares, atenção dos media e forte envolvimento municipal em Zagreb; um peso da ideologia do Estado no Egipto através das grandes companhias institucionais, e uma precariedade do sector artístico independente incentivado por magros fundos estrangeiros; uma inexistência de estatuto jurídico que permita a legalização de associações culturais na Tunísia e a dificuldade em dinamizar os poucos artistas e organizadores existentes; uma afirmação de jovens criadores em Marrocos que, embora tímida, dá sinais de um futuro mais autónomo da referência europeia e menos censurado pelos adeptos da dança tradicional; um impasse em Portugal, onde se reclama a consolidação de recursos estruturantes como espaços de trabalho, profissionalização da carreira, formação adequada e maior investimento financeiro do Estado, numa conjuntura de liberdade e desenvolvimento. Estas comunicações remeteram a questões mais amplas que já antes se evidenciavam em iniciativas da DBM e que provocam, lado a lado com o entusiasmo e dinâmica gerados pelo projecto, algum desconforto e frustração.
Primeiro, sobressai a necessidade de um entendimento lato sobre o que é dança contemporânea. Este entendimento baseia-se em conceitos construídos no norte da Europa ocidental, onde as condições de trabalho, produção e distribuição permitem a afirmação de um género artístico tão específico e minoritário, num contexto profissional com invejável visibilidade pública. Porém a designação tem que ser abrangente para fazer sentido numa região com situações tão distintas ao nível de circunstâncias político-culturais, referências estéticas, linguagens artísticas, condições de produção e ferramentas para a recepção. Nessa abertura surgem equívocos e, sobretudo, muitas dúvidas, por vezes com efeitos conflituosos e paralisantes. Segundo, ressalta uma relação dúbia de atracção e rejeição entre os países que têm meios de trabalho muito precários e sem reconhecimento estatal e os países com melhores infra-estruturas e que conseguem angariar fundos para a rede. Inevitavelmente discutem-se posições de poder e revêem-se feridas deixadas pela colonização. Por último, neste território desejavelmente neutro e apaziguador, é fácil surgirem tensões entre vizinhos ou conterrâneos que são induzidos a dialogar quando tendencialmente trabalhariam de costas voltadas entre si. O panorama da dança na Turquia foi um interessante caso-estudo para ilustrar algumas preocupações enunciadas em plenário e prenuncia a afirmação de um movimento artístico singular, que já mobiliza um público alargado. Acresce que Istambul é uma cidade vibrante, que equaciona social, urbanística e politicamente, contradições com reflexo à escala mundial, e se mostra uma interessante candidata ao clube das grandes metrópoles da Comunidade Europeia.
43
III
IV
HUNTER de Joテ」o Leonardo (Odemira, Portugal, 1974) Sテゥrie de 12 fotografias a partir da versテ」o criada em 2006.
V
JOテグ LEONARDO
II
CARTA BRANCA
I
VI
VI I
45
I II III IV
JOテグ LEONARDO
CARTA BRANCA
V VI VI I
I II III IV
JOテグ LEONARDO
CARTA BRANCA
V VI VI I
I II III IV
JOテグ LEONARDO
CARTA BRANCA
V VI VI I
I II III IV
JOテグ LEONARDO
CARTA BRANCA
V VI VI I
I II III IV
JOテグ LEONARDO
CARTA BRANCA
V VI VI I
III
IV
V
IDENTIDADE EUROPEIA
II
PERSPECTIVA
I
VI
VI I
56
DE QUE É FEITA A IDENTIDADE CULTURAL EUROPEIA? Numa Europa a 27, apostada em se redefinir num Tratado que leva o nome de Lisboa, fomos saber o que é isso da identidade europeia. Georges Steiner diz que a Europa “é feita de cafetarias, de cafés. Estes vão da cafetaria preferida de Pessoa, em Lisboa, aos cafés de Odessa frequentados pelos gangsters de Isaac Babel. Vão dos cafés de Copenhaga, onde Kirkegaard passava nos seus passeios concentrados, aos balcões de Palermo. (…) Desenhe-se o mapa das cafetarias e obter-se-á um dos marcadores essenciais da ideia de Europa”. Fomos perguntar, como numa mesa de café, a coreógrafos, encenadores, programadores, artistas plásticos, curadores, jornalistas, críticos e gestores culturais se sabem identificar o que faz a identidade cultural europeia a partir das suas experiências com a identidade nacional. Respondem, nesta >> primeira parte, onze países.
DINAMARCA
PÁG.68
PÁG.58
BÉLGICA
ESLOVÉNIA
GRÉCIA
ROMÉNIA
PÁG.70
PÁG.59
HOLANDA
SUÉCIA
PÁG.74
PÁG.76
PÁG.60
BULGÁRIA
ESPANHA
HUNGRIA
PÁG.72
PÁG.62
PÁG.64
PÁG.66
57
Eurovision, de Teatro Praga foto de Ângelo Fernandes
ALEMANHA
III
IV
V
IDENTIDADE EUROPEIA
II
PERSPECTIVA
I
VI
VI I
DINAMARCA ÉTICA ESTÉTICA texto Hotel Pro Forma
58
A 4 de Fevereiro de 2006 a embaixada dinamarquesa em Damasco, na Síria, foi incendiada. Exactamente ao mesmo tempo, em Copenhaga, estreávamos uma nova peça, Algebra of place (na foto), uma instalação que explorava a tradição de contadores de histórias do Médio Oriente a partir da música, performance e vídeo. Qual era ou qual é o papel de Hotel Pro Forma no debate que levou ao trágico acidente e às suas consequências? Qual é o nosso papel na situação actual onde existe uma crise de consciência cultural que leva a que, não só na Dinamarca mas na Europa Ocidental, o incêndio da embaixada na Síria seja visto como apenas mais um exemplo entre muitos? Nos últimos quatro a cinco anos temos tentado que o nosso trabalho seja uma reacção a tendências da sociedade contemporânea que dividem o mundo em branco e preto, eles e nós, connosco ou contra nós. Uma propalada guerra da ideologia que tem, infelizmente, sido suportada pela imprensa devido a limitações (sejam elas impostas ou não), prazos ou a sua própria batalha de conquista pelo interesse do espectador. Para nós, que nos recusamos a simplificar e a produzir polaridades, a situação é altamente complexa e, por isso, através do teatro, tentamos apresentar uma versão mais equilibrada. Para olharmos para esta questão acreditamos que necessitamos ser claros em relação ao ponto de vista adoptado, nomeadamente, se a arte pode ser apenas estética ou ética, ou ambas. Não fazemos essa separação porque, parece-nos óbvio, a ética deve possuir uma estética e a estética deve produzir um olhar sobre o mundo circundante e, por isso mesmo, ser ética. Ou, de outra forma, pode a forma produzir conteúdo?
A resposta é, sem sombra de dúvidas, positiva. Algebra of Place, por exemplo, tentava apresentar outra voz para o Médio Oriente, muito para além da que é recorrente aparecer na imprensa: terrorismo, extremismo e Islamismo. Voltámos a fazê-lo este ano em Sandchild, escrita pelo franco-marroquino Tahar Ben Jelloun, onde se conta a história de uma rapariga forçada a ser um rapaz pelo pai através da deslocação para a vida de sete mulheres ocidentais, mostrando assim como é que as nossas identidades se transformam a partir do contexto onde se inserem. Brevemente faremos Relief Possible Relief, cujo foco será a Ucrânia, país que tudo indica estar a sofrer uma crise de identidade provocada pela queda da Cortina de Ferro em 1991 que deixou o país num estado de indecisão: voltar-se para o Ocidente ou manter as tradições do antigo estado Soviético? Cada um destes espectáculos observa a mesma perspectiva – a identidade cultural – de diferentes pontos. As imagens apresentadas são o resultado de uma pesquisa circunstancial, limitada que está ao evidente facto de olharmos sempre com o olho “do estrangeiro”. Não temos a ambição de nos apresentarmos como especialistas do Médio Oriente e na Ucrânia. Mas entendemos dever apresentar uma nova, complexa e equilibrada apresentação do mundo através de novas interpretações de velhos preconceitos, mitos e formas de expressão artística. Mas como é que cada espectáculo contribui para o permanente debate ou, por outro lado e ao mesmo tempo, para uma consciência cultural? Sabemos que, por princípio, os espectáculos são só espectáculos. Mas escolhemos imagens que sejam capazes de criar impressões indeléveis. E mesmo que isto não sirva de resposta para muita gente, recusamo-nos a apresentar conclusões. Isso cabe a quem vê, como interpreta aquilo que vê. São eles que, no final, julgam se o que fazemos – todos – esteticamente está provido de ética. Tradução do inglês: Virginia Mata Hotel Pro Forma é constituído pela artista visual Kirsten Dehlholm, o arquitecto Ralf Richardt Strøbech e o produtor Bradley Allen. Apresentam em Lisboa, no Centro Cultural de Belém, a 25 e 26 de Janeiro 2008, a peça Operation: Orfeo.
ROMÉNIA
SANGUE ROMENO
texto Ciprian Muresan
Concebi este desenho, chamado Romanian Blood, em 2004. Pode até ser sobre identidade, se quisermos. Mostra o que sai das veias de um romeno que se suicida: um fio de sangue com as três cores da bandeira nacional. Apercebi-me da elevada taxa de suicídios cometidos durante o serviço militar compulsório, que se manteve como prática vinda da ditadura até então. Mas um patriota não pode cometer suicídio, deve antes morrer pelo seu país. Na altura o melhor método para ganhar eficazmente votos eleitorais era através de um discurso nacionalista. Diziam: devemos reconquistar a nossa identidade nacional, perdida após a queda do comunismo. Ironicamente o comunismo na Roménia esteve sempre impregnado com propaganda nacionalista e,
portanto, aqueles que se batiam pelo poder tentavam sempre capitalizar com isso. Tencionava desmontar uma das facetas mais cruas que revelam a natureza do discurso nacionalista: aquela que coloca a ideia utópica de nação à frente do indivíduo. Por outro lado eu acredito que a história do nacionalismo acabou. Teve o seu papel e expirou-se. Historicamente já não tem qualquer justificação. A nação romena morreu. Ficaram apenas os indivíduos. Deixem que se congregue como quiserem. Tradução do inglês: Virginia Mata Ciprian Muresan é artista plástica e co-editora, com Mircea Cantor, da revista Version (www.versionmagazine.com)
59
III
SUÉCIA
60
IV
V
IDENTIDADE EUROPEIA
II
PERSPECTIVA
I
VI
VI I
PODE A ARTE SER DEMOCRÁTICA? texto Ann Enström fotografia Melocollective
A cultura é um dos muitos factores intersectoriais que influenciam a identidade, sendo outros a sexualidade, a etnia, a idade ou o género. No que respeita à identidade cultural sueca é preciso distinguir primeiro esta da mentalidade sueca que normalmente identifica os suecos como frios, reservados e sem modos, entre outras coisas. Se falarmos de uma identidade cultural comum é tentador dizer-se que não partilhamos os mesmos gostos que a maioria das pessoas. E acrescenta-se ainda que os suecos tem a extraordinária capacidade de palrarem sobre todo o tipo de tendências culturais, sociais, o que se quiser, que venham de fora do país. Mas há, sobretudo, um conjunto de aspectos que se tornaram tipicamente suecos. Penso particularmente nos que emanaram dos valores democráticos surgidos no pós-Segunda Guerra Mundial onde a criação de um sistema social foi apelidado “A Casa do Povo”, ou em sueco Folkhemmet, cuja ideia principal é a de que o Estado deve ser em grande parte responsável no garante de oportunidades e serviços iguais para todos os cidadãos. Estes valores definiram largamente a cultura sueca e, à boa maneira capitalista do século XXI, a Suécia exporta agora a sua experiência democrática para outras partes do mundo. Contudo, em 1997, quando Olaf Palme, na altura Primeiro-Ministro, foi assassinado, os valores associados à Casa do Povo começaram, aos poucos, a deteriorar-se e a Suécia tem vindo a aproximar-se do modelo capitalista americano. Ainda assim os valores democráticos culturais que firmaram a Suécia moderna permanecem tão fortes quanto antes, o que por vezes resulta numa enorme contradição que fica por resolver. E quando deslocamos esta questão do plano da identidade cultural para o da produção artística, a contradição mantém-se. Há um grupo de teatro, The Liveartcollective Melo, cujo último espectáculo C/O abordava a herança dos valores democráticos associados à Casa do Povo e o modo particular como cada uma das pessoas lidava com isso. Portanto, pode a arte ser democrática? Sim, tanto quanto pode não o ser. Uma questão mais complicada é saber quando é que a arte é democrática. Ou então, está o Liveartcollective Melo a ser democrático? Provavelmente não há nenhuma resposta directa para nenhuma destas questões, mas acho que há uma diferença entre conciliar os ideais democráticos com o trabalho de um colectivo e fazer com que a arte sublinhe uma mensagem democrática. The Liveartcollective Melo pertence ao primeiro grupo. O que, de forma simplificada, denota que as decisões individuais são tomadas em colectivo e que os papéis se alternam durante o processo de produção, dentro e fora de palco. Significa que não há um director e se um mem-
bro do colectivo tiver uma licenciatura em arquitectura, pode não só fazer o cenário mas ser responsável pelo desenho de luz ou de som, passar música e apresentar uma instalação do mais avançado que existir. Seguramente que este género de modelo de trabalho democrático pode ser um belo princípio para criar arte que esteja acima de qualquer fronteira artística, mas também vai ao encontro daquilo que A Casa do Povo quis construir para a Suécia. Por outro lado há uma contradição presente quando jovens artistas pegam no conceito democrático, se organizam segundo um modelo social ideológico e tentam no seu trabalho, ao mesmo tempo, assinalar uma distância em relação ao equilíbrio que os valores democráticos estabeleceram no contexto sueco. Uma contradição que está patente quando um dos actores diz, fascinado, que gostaria de estudar o encontro entre o público classe média da ópera e o público hard rock de um concerto. Melo está, por outras palavras, a trabalhar democraticamente sem usar uma perspectiva classe média. Em vez disso o que Melo está a fazer é usar o meio underground, o que implica que a produção é baseada numa oposição aos resultados a que chegaram as normas democráticas definidas pela Casa do Povo. Nas breves cenas de C/O a dança, a música, a palavra, a luz, o som, e por aí fora, aparecem de forma abstracta e conscientemente provocadora criando desconfortáveis sequências de luz e som. Este projecto assemelha-se mais à situação de beco sem saída a que chegou A Casa do Povo do que qualquer ideário estruturado a partir de princípios democráticos. O que Melo encena são valores democráticos confundidos, o que tem consequências severas no sentido artístico do projecto uma vez que a instalação de uma normalidade num sistema underground, por mais ténue que seja o efeito produzido, é sempre uma normalidade medíocre. A única mulher presente levanta-se da sombra dos três homens e senta-se em frente a um computador portátil começando a desenhar uma longa seta que indica um sol sorridente com uma lata de creme de natas. Quase imediatamente as natas começam a derreter e, claro, Meu Deus!, isto foi exactamente o que aconteceu à nossa Casa do Povo. Um amplo movimento está a afastar as identidades culturais sueca e europeia de nós, ou, digamos de outra maneira, a identidade cultural americana está cada vez mais perto.
Tradução do inglês: Virginia Mata Ann Enström é crítica de teatro no jornal Västerbottens-kurien
61
III
IV
V
IDENTIDADE EUROPEIA
II
PERSPECTIVA
I
VI
VI I
ESPANHA OLHANDO PARA O UMBIGO texto Paz Santa Cecília / Jaime Conde-Salazar
62
É cada vez mais difícil identificar movimentos claros, projectos coerentes ou interesses evidentes na vida pública do Estado espanhol. Para o caso daquilo que chamamos “cultura” isso é muito mais evidente: praticamente todos os fenómenos relevantes nesse âmbito ocorrem como movimentos periféricos executados por pessoas ou grupos de pessoas que decidem comprometer-se com projectos que, sem excepção, devido a todas as limitações que se lhes impõem, raramente conseguem estabelecer uma tendência. Por esta razão, se se quiser ter uma ideia de como é a relação actual com a Europa, há que ir às periferias, a esses lugares onde ainda se pode manter alguma discrição e onde as instituições não tomaram ainda conta de tudo. É que historicamente a cultura oficial tem estado sedeada no mais absoluto desinteresse pelo que ocorre para lá das nossas fronteiras. É certo que nas últimas décadas alguns governos regionais têm procurado ter uma presença exterior, sobretudo na Europa. No entanto isto decorreu sempre de pontos de vista muito locais e dependentes de discursos nacionalistas profundamente conservadores. A constituição de 1978 desenhou um estado descentralizado composto por “Comunidades Autónomas” com parlamentos próprios capazes de decidir em assuntos de saúde, sociais, educação e cultura. Este processo de descentralização, por princípio justo e pertinente, levou, contudo, a uma espécie de obsessão em construírem-se identidades excluentes que entorpecem e se esquivam ao intercâmbio com outras realidades. Nesse sentido a relação institucional com a Europa é muito pequena e está totalmente condicionada por interesses locais das Comunidades Autónomas. Basta assinalar que foram poucas as vezes em que os responsáveis culturais de cada região foram capazes de comunicar com fluidez numa outra língua que não a materna. Possivelmente a relação mais interessante com a Europa está ao nível dos programadores e dos artistas. Nos últimos quinze anos surgiu um grupo de programadores (contudo demasiado pequeno) que se integrou em circuitos internacionais e que realmente tentou construir laços comunicacionais com outros países. Estes laços têm servido para que artistas europeus mostrem os seus trabalhos em Espanha e também que artistas espanhóis possam desenvolver os seus projectos noutros países da Eu-
ropa. Para além disso, estas vias de comunicação (que são, no entanto, muito escassas), têm permitido a tomada de conhecimento de outros modelos de gestão mais comprometidos com a criação e mais desligados dos interesses políticos. Para muitos artistas a Europa significou a única possibilidade de desenvolvimento dos seus trabalhos. Desde meados dos anos noventa que se tem vivido um autêntico êxodo de artistas espanhóis para a Europa. Não existem dados concretos que indiquem o número de artistas a viver no estrangeiro, mas se recorrermos ao Google e quisermos investigar aquilo que se chama “criação contemporânea espanhola” descobrimos que esta existe em Berlim, Genebra, Paris, Bruxelas, Londres, Amesterdão, Lisboa, etc. Paradoxalmente esta necessidade que os artistas têm de emigrar para cidades europeias não foi acompanhada de uma presença espanhola em estruturas internacionais como o IETM (Informal European Theatre Meeting) ou a DBM (Danse Bassin Méditerranée). Uma última via de comunicação com a Europa é a que se tem estabelecido através das embaixadas ou institutos de cultura com sede em Espanha. De novo, encontramos um fenómeno periférico no qual não intervêm as instituições oficiais. Habitualmente, entidades como o British Council, o Goethe Institut ou a France Culture, até agora conhecido como AFAA, apoiam pontualmente teatros e outro tipo de projectos independentes que garantam a presença dos “seus” artistas em Espanha. Por fim, é fácil pensar sem grande margem para equívocos que em Espanha continuamos a olhar para o umbigo e que a Europa representa, fundamentalmente, uma porta de entrada fácil mas sem um contexto no qual participar. Apesar da quantidade indecente de recursos que se utilizaram para construir infra-estruturas espec-taculares (teatros de ópera, capitais da cultura, palácios de congressos, etc.) continuam sem existir em Espanha centros de recursos para artistas, redes estáveis de residências para artistas, planos sérios de formação de profissionais, etc., que permitam manter um diálogo fluido com as distintas realidades culturais europeias. Jaime-Conde Salazar é investigador em dança. Cecilia Paz Santa é produtora independente trabalhando, entre outros, com La Ribot.
63
DR
III
IV
BÉLGICA
V
IDENTIDADE EUROPEIA
II
PERSPECTIVA
I
VI
VI I
OS ANTIGOS BELGAS texto Wouter Hillaert
Existe algo como uma cultura belga? E como é que os belgas se relacionam com isto? A cultura ajuda-os a proteger a sua identidade contra a Europa cujas fronteiras desvanecem pouco a pouco? Ou pelo contrário, forma um portão de acesso que alarga a visão para as possibilidades cada vez maiores oferecidas pela Europa? Parece que estas perguntas já não fazem qualquer sentido. Será que a própria Bélgica ainda existe? Hoje é o dia 1 de Novembro de 2007, e já fazem cento e cinquenta dias que este país está sem governo. Os valões e os flamengos não param de discutir sobre uma maior autonomia ou não para a sua região. A conclusão é geral: à volta do umbigo Bruxelas-Europa, a Bélgica parece desintegrar-se por completo em duas culturas. Será que não resta mais nada?
64
Muito significativa é a exposição de fotografias Belgicum, actualmente no Museu de Fotografia de Antuérpia, que está a decorrer em paralelo com a formação do Governo. O autor é Stefan Vanfleteren, fotógrafo para o jornal flamengo De Morgen. Durante quinze anos, ele atravessou a Bélgica de lés a lés à procura de itens que nunca alcançam os jornais, por não serem nem novidade nem notícia. Tendas de batatas fritas adormecidas, pescadores maltrapilhos, lavradores na sua propriedade abandonada. Em preto e branco surge uma Bélgica incolor, mas ao mesmo tempo com muito relevo. Como aquela foto de 1995 em Antuérpia: no fundo, à esquerda, um velho casal, a rir na sua embriaguez, apoia-se contra o lambrim; à frente, à direita, um homem com dedos tatuados fita em desespero um ponto fora da lente da câmara. Do seu bigode goteja em dois estalactites os restantes do que ele acaba de vomitar sobre as suas calças de ganga. Somente os copos de cerveja ainda estão em pé, todo o resto na imagem está pendurado: dentes, pálpebras, mãos. Uma Bélgica deplorável. E há mais para vir, na Belgicum. Uma mulher com óculos de lentes grossas evitando com o olhar carrancudo, através da janela de uma paragem de autocarro em betão, a vista para uma indústria sombria atrás dela. Uma lágrima a surgir do canto do olho de uma criança ao lado de um cartaz de luto para as vítimas de Dutroux, Julie e Melissa. O Atomium, turvo através de uma janela molhada pela chuva. Muitas fachadas com janelas fechadas a tábuas, com inscrições de pequenos comerciantes de Bruxelas: ‘casquettes’ nas suas persianas, ‘sanitaires Van Den Dooren’ por cima de suas portas. La Dernière Heure (nome de um jornal francófono) sobre uma tábua, fraternizando com outra que diz Het Laatste Nieuws (nome de um jornal neerlandófono), a Bélgica unitária sobrecolada de um cartaz: ‘vide’ (vazio). O que dá à Belgicum o seu sentimento belga, não são só as oposições simbólicas para as quais Vanfleteren parece ter estado propositadamente à procura: cavalos de lavoura face a blocos de apartamentos cinzentos, um Citroën caduco dominado por arbustos no Outono. Muito mais crucial do que este absurdo surrealista é a sump-
tuosidade em que se encontra preso. Vanfleteren não está realmente a documentar, mas antes a esculpir. Os retratos humanos que faz parecem bustos: moldes de tipos arcaicos, figuras de cera num museu – mausoléu. Estes tornam a exposição um vestígio contra o esquecimento, um in memoriam querido para uma nação partida das quais as partes foram coladas umas às outras, mas das quais as fissuras nunca foram tão claras. “Pode chamar-me de nostálgico moderno”, afirmou Vanfleteren numa entrevista. “Acho que há uma grande falta de respeito pelo passado”. E é exactamente este respeito que se vê no Museu da Fotografia: um olhar fascinante para um mundo composto principalmente de coisas antigas e corroídas, que ameaçam ser trituradas pela roda da evolução mas que devem ser rapidamente conservadas para as futuras gerações. Como na retaguarda abjecta da modernidade estão aí penduradas, na maior sala do espaço de exposição, numa linha com algumas gravuras eternamente bucólicas de água corrente e traços de semear pelo campo húmido. A sua reflexão idêntica escultural em preto e branco dá-lhe algo de grego mítico, algo da Antiguidade. Isto não é a Bélgica, mas sim a “Belgicum”. A terra de plantação clássica da nossa consciência. A água eterna com a qual o Manneken Pis mija. Muito significativo na Belgicum de Vanfleteren é que os seus ícones, desde o lavrador curtido até ao café popular ao lado da tenda de batata frita debaixo da igreja da aldeia, tão reconhecíveis tanto para os valões como para os flamengos, dão uma sensação pré-histórica. Pré-europeia também: estão isolados num reconhecimento eternamente local. Esta parte da Bélgica só continua a existir na memória. Muito antes do início da demoradíssima formação do governo de Yves Leterme, esta Bélgica foi coberta sob a tecnologia de conhecimento tecnológica, o multiculturalismo urbanizado, o vidro espelhado das instituições europeias e a secularização geral do país. Mas nenhum desenvolvimento foi tão radical como a federalização contínua desde os anos oitenta. Se hoje o Rei Alberto anda de muletas depois de problemas nas ancas, isto é mais do que simbólico.
Os belgas hoje só são belgas se os Diabos Vermelhos ganhassem gloriosamente um jogo da Taça Mundial. Mas não o fazem. Os belgas agora são flamengos ou francófonos. Junto com a sua cultura, a sua politica cultural também se dividiu. Na Flandres, a “internacionalização” desta política é um dos temas centrais, e cada vez mais grupos fazem apresentações europeias ou mesmo mundiais no reboque de figuras como Jan Fabre, Rosas, Victoria, Wim Vandekeybus, Needcompany, Alain Platel ou Tg Stan. Somente com a Valónia ainda não se tem um Acordo Cultural. Os críticos valões de vez em quando ainda aparecem na Flandres, mas do lado contrário pode-se falar sem hesitação do Muro de Bruxelas. O teatro da Valónia, como por exemplo o de Delcuvellerie, os flamengos só vêem em Avignon. Não vão além dos filmes dos irmãos Dardenne e da música ‘rap’ de Starflam. Mesmo assim, pode-se deduzir do grande número de visitantes da exposição Belgicum que Vanfleteren, com a sua mumificação da Antiga Bélgica apela para algo que ainda arde debaixo da separação pós-industrial. Talvez não seja realmente o sentimento de solidariedade belga dos tempos antigos, mas antes o carácter popular agrário-industrial do século dezanove em que este se baseava. Nota-se esta falta principalmente na Flandres. Embora muitos se pronunciem contra a virada nacionalista e até de extrema direita da região norte, mais rica, da Bélgica no reboque do partido de extrema direita Vlaams Belang, pode-se notar uma atenção reanimada para o seu próprio património, a voga do fenómeno de dança popular nos chamados Boombal, e a popularidade de algumas bandas de música que voltaram a cantar nos seus dialectos, o que confirma esta mesma tendência regressiva. Não é diferente do resto da Europa. Mas no país que pode ser considerado o arquitecto da União Europeia, dá ainda mais nas vistas. Muito típica é a reacção de muitos habitantes de Gent com a vinda do grande realizador holandês Johan Simons para o seu teatro urbano NTGent, seguida de um conjunto composto principalmente de holandeses, amiúde para co-produções europeias (com, entre outros, Christoph Marthaler) dentro de uma dramaturgia muito internacional (como em Fort Europa). Enviaram cartas de insulto. Contra esta incompreensível ‘língua holandesa’ e alemã na sua cena, contra a contaminação
estrangeira do seu ninho provincial. Isto também pode ser observado algures, embora de forma mais amenizada. Não obstante a muito animada dance scene internacional em Bruxelas, o grande público ainda prefere as peças extremamente flamengas, ‘marginais’ de Arne Sierens. Prefere procurar o que já conhece do que o novo confronto multimédia. Onde se encontra exactamente este reconhecimento, foi o que mais me tocou numa das fotografias exposta na Belgicum, em que uma linha de casas de operários, uma ao lado da outra, se repetia até o ponto em que já não se enxerga mais nada na rua. Vêem-se caleiras em série, até onde a vista é abruptamente interrompida por uma enorme ponte cinzenta dos caminhos-deferro. Um pequeno ponto branco, uma criança de saia xadrez, empurra a sua bicicleta com rodas auxiliares no sentido contrário. Não é o contraste entre o trabalho desempregado e o avanço acelerado que me parece tipicamente belga. Não é a fealdade geral do horrível planeamento do espaço. É a semelhança notável com a imagem de rua no filme flamengo-valão Pleure pas Germaine (2000), onde o papel principal é dado a um pai popular sob o monstruoso viaduto de Vilvoorde, parte da circunvalação de Bruxelas. Ele quer virar as costas para a miséria, mas esta está bem enraizada no seu interior. E é exactamente esta a luta de toda a Belgicum, e de praticamente todas as obras de arte actuais que têm sucesso na Bélgica, exactamente devido a este sentimento nacional: filmes como Iedereen Beroemd e toda a obra dos irmãos Dardenne, o trabalho semi- e realmente literário de Dimitri Verhulst, a obra de Eric De Volder no teatro, Het Eiland na tv. Todos têm em comum uma fascinação pelo errado, pelo torto, pelo deplorável ou absurdamente descabido, na margem da sociedade. É a triste troça de si próprio, com frigoríficos vazios, papel de parede florido, cãezinhos no colo a latir, copos de cerveja semi-vazios, sucata no pátio, feiras barulhentas e marchas silenciosas. Exactamente também o universo de Vanfleteren, entre Spilliaert e Permeke, mas cem anos mais tarde, parece a norma. E aquela definição artística da Bélgica a partir da subclasse toca o núcleo do que ainda há de belga entre os belgas: a sua identidade de pequenos lavradores, de underdogs eternamente oprimidos da Europa. Por mais que a sua Bélgica, a sua Flandres ou a sua Valónia tentem demonstrar a sua alta tecnologia, a sua posição internacional e a sua situação multicultural, no fundo continuam a viver debaixo da torre da igreja. A sua cultura é esquizofrénica, nisto continuam unidos. Wouter Hillaert é crítico de teatro e editor-chefe do jornal flamengo Rekto:Verso Tradução do flamengo: Christina Lopes da Silva
65
III
IV
V
IDENTIDADE EUROPEIA
II
PERSPECTIVA
I
VI
VI I
HUNGRIA INTERNACIONAL
texto Árpád Schilling fotografias Woyzek
66
O Teatro é uma espécie de modelo social: uma comunidade, onde o individuo tem de encontrar a sua liberdade pessoal dentro de um paradigma de regras e, em termos fundamentais, deve existir (criar) mantendo a tutoria e as expectativas dos líderes. Os objectivos colectivos, numa situação ideal, coincidem com as metas do individuo, mas temos de estar preparados para o compromisso e para albergar os outros. A performance individual acomoda-se num sistema de expectativas claramente circunscrito, mas é suposto o individuo assumir responsablidades. O direito ao desenvolvimento tem de ser facultado, mas também há que aceitar quando alguém não pretende mais do que aplicar os conhecimentos adquiridos. Ao universo teatral húngaro (a sociedade) faltam dois elementos fundamentais: o sistema de expectativas e encarar o risco da responsabilidade. O regime comunista é responsável pelo seu desaparecimento, mas períodos históricos anteriores já haviam sido substancialmente danosos. A Hungria não chegou muito longe no processo de desenvolvimento da sua burguesia, ou, pondo esta questão de uma forma menos cerimoniosa, a maior parte do país mantém-se subdesenvolvido culturalmente, socialmente e mentalmente. A maioria da população não tem outra ambição que amealhar fortuna pessoal, tem dificuldade em comunicar e disfarça a sua ignorância e falta de erudição com introversão e, por vezes, agressividade. A filosofia actual das instituições teatrais está limitada à conservação das tradições, e à simulação duma cultura contemporânea. As relações com o governo estão baseadas no velho sistema de “Eu coço as tuas e tu coças as minhas” (um arsenal de pequenas e grandes corrupções), que significa que as instituições (existem cerca de trinta teatros com um número considerável de intérpretes e pessoal técnico) são presididas por uma cabala de velhos rapazes nomeados pelo regime anterior, noutras palavras, há pelo menos dezoito anos atrás. O conceito de instituição estatal tem de ser redefinido após décadas de terminologia distorcida pelo comunismo. A instituição não iguala o seu chefe, nem o pessoal
e os actores que lá trabalham, que são empregados e não donos. Pode parecer ridículo, mas estamos ainda num lugar onde estas questões têm de ser clarificadas. Todos as outras preocupações, as estéticas, ideológicas, filosóficas, sociológicas e pedagógicas vêm depois. E apesar destas serem as questões fundamentais no universo de estar teatral, a simples falta de um programa cultural bem delineado implica que reine o caos no palco, nos camarins, no bar, na cabeça de todos os empregados, e não podermos, por isso, compreender essas mesmas questões. Hoje em dia não são os políticos a única classe dominante que devemos criticar, mas a própria sociedade que, apesar de ter ganho para si uma Democracia baseada no mercado livre, não compreende como tudo funciona. Se não queremos que sejam os outros a decidir o tamanho da casa onde vivemos, o tipo de carro que conduzimos, a comida que consumimos, os lugares onde fazemos férias, então temos de preencher esta liberdade com sentido. Se tivessemos um verdadeiro capitalismo, e não um socialismo escondido, a Hungria teria muitos milhões, e não apenas umas quantas centenas de milhar, de pessoas sem emprego, já que a sua mão de obra não é tão barata quanto é obsoleta. A implementação prática do Internacionalismo Comunista não interligou as diferentes nações e os diferentes povos, limitou-se a extinguir violentamente os seus sonhos, o que causou um grande sentimento de inferioridade. E isto é, sabemos todos, um viveiro de violência. A menos que aprendamos a articular os nossos problemas, e a alicerçar os nossos argumentos com factos, seremos sempre levados pelas nossas vontades. Claro que não se pode discutir com bandidos armados e escroques avarentos. Passarão muitos anos até que uma geração conseguia ver o outro não como um inimigo, mas como um parceiro. Talvez porque já não terão necessidade de mais dinheiro ou do poder a ele associado. Irão perceber que tudo o que o dinheiro compra é uma sensação momentânea de prazer. Aí então os políticos começarão a servir-nos, em vez de dominar-nos. O grande desafio da humanidade é criar um conjunto
de regras que se espalhe por todo o globo, e que assegure a liberdade do indivíduo sem usurpar as identidade culturais. Comércio livre (o direito ao sucesso) e solidariedade (o direito à dignidade). A União Europeia é a maior conquista intelectual da humanidade. Sessenta anos após a Segunda Guerra Mundial mantém as tensões históricas à distância através de uma regulação severa, e está a alimentar uma nova geração que prefererirá as negociações baseadas numa compreensão dos pontos de vista do outro, em vez da rápida, mas violenta, solução do conflito. Mas a regulação implica uma certa restrição das liberdades. O principal requisito da democracia é que a maioria decide pela minoria, e está a cargo da capacidade intelectual dessa mesma comunidade poder entender as armadilhas no caminho. Não há outro caminho, apenas o caminho do desenvolvimento intelectual. Os que são curiosos aprenderão, os que aprendem saberão, os que sabem podem entender e os que entendem podem também aceitar. Em breve teremos de falar sobre a nossa identidade global, se nos quisermos posicionar, não apenas na Terra mas também no Universo. (A questão é: o que acontecerá se não encontrarmos mais ninguém?) Talvez o problema mais sério seja, porém, aquele tédio mortal nos olhos dos jovens. Se lhes entregarmos apenas as nossas dúvidas, habituar-se-ão ao tédio, ou fugirão para a Ásia, onde tudo está realmente a acontecer. O que vemos na Europa hoje em dia é o colapso dos movimentos pela liberdade dos anos 60. Os que então disfrutaram do amor livre no parque estão agora à frente de companhias que exploram milhões de pessoas, e fazem guerra contra povos desconhecidos na esperança de maiores lucros. Vem aí uma geração que já não acredita que as manifestações podem fazer alcançar qualquer coisa, e começarão a construir a partir do nada. Esta geração procura o outro com tolerância e consciência. Não por esse ser um pensamento bonito, mas porque é a única via com sentido.
Uma nova Europa seria um lugar onde toda gente falaria a língua do outro.
67
Árpád Schilling é dramaturgo e encenador. Este texto recupera excertos do ensaio Notas de um Escapologista, publicado recentemente na Hungria Tradução do inglês: Virgínia Mata
III
IV
ALEMANHA
68
A Alemanha é o maior estado membro da União Europeia e forma, conjuntamente com a Áustria, a maior área linguística. Esta diferença superlativa deixa a Alemanha muito embaraçada. E quando a Alemanha está embaraçada algo de muito humano acontece. A Alemanha quer estar orgulhosa, não quer estar embaraçada. Com uma campanha publicitária intitulada Du bist Deutschland (Tu és a Alemanha) o governo quis mostrar como compreendia os alemães. E para que a Alemanha se possa dizer finalmente orgulhosa de si mesma, eis as regras: as pessoas com cor de pele ou de língua diferente são convidados e não estrangeiros/estranhos. E portanto a Alemanha diz: O convidado é aquele que parte tarde. Estrangeiro é o que fica. A segunda regra é: a Alemanha não pertence aos alemães mas à Europa. Portanto os alemães tiveram que decidir o que queriam ser: se quiserem ser contra o governo, terão que o ser alto e bom som. Actualmente todos os grandes partidos governam a Alemanha ao mesmo tempo. Mas o seu maior divertimento é provocarem as pessoas durante o período legislativo com centenas de regras estúpidas, regulamentos acordados entre eles e em nome da Europa comunitária: não fumar, poupar energia, propinas. Há sempre alguém a levantar-se e a dizer: porque os irlandeses não podem fumar e os suecos seriam muito mais saudáveis e os ingleses não teriam que estudar mais, esta é a razão pela qual decidimos tal como nos países estrangeiros um conjunto de regras semelhantes – e o dedo ameaçador aponta para o passado – que impedirá a Alemanha de voltar a seguir “o caminho especial” (Deutscher Sonderweg). Poderíamos também dizer: os alemães estão muito contentes que alguém se preocupe com questões relacionadas com o seu modo de vida. Quem poderia argumentar que fumar num bar típico ou protótipo alemão (kneipe) seria parte da cultura, ou que estudar os poetas e os filósofos alemães seria uma faculdade das populações que, mesmo querendo poupar energia a gasta, precisamente porque é propriedade de todos, dos jovens, e deve fazer parte de todas as medidas a tomar… Mas basta ir à Rússia, à Índia, à China, onde existe de facto uma economia em crescimento para verificar que não há um teatro subsidiado em cada lixeira, não há salsichas ecológicas, nem o smog que faz desaparecer qualquer vontade de fumar. O medo (angst) é uma palavra alemã que quase todas as línguas incluíram no seu vocabulário. A palavra soa tão terrível quanto: Medo, de não obter a aprovação da maioria Medo, de não ter sucesso.
V
IDENTIDADE EUROPEIA
II
PERSPECTIVA
I
VI
VI I
O EQUÍVOCO ALEMÃO texto Arnd Wesseman Medo, de não ser compreendido. Conheci o Jo Fabian, um dos melhores coreógrafos alemães, que praticamente ninguém na Europa conhece já que ele não circula em países que não o compreendem. Jo Fabia é berlinense, um dos verdadeiros. Não um daqueles, como qualquer bailarino ou coreógrafo que formam a avant-garde do mercado, tal como Ninette de Valois que fundou uma companhia de bailado na Turquia enquanto os britânicos garantiam a passagem em segurança dos barris de petróleo do Oriente. Ou, como Akram Khan, chamando a atenção para a comunicação multicultural enquanto os britânicos desenham o mercado a partir da banca e das acções dos escritórios que têm em Londres. Contra isto tudo, Jo Fabian acredita que a sua cidade é simplesmente obrigada a suportá-lo enquanto artista. Sem patriotismo, Berlim fê-lo durante seis anos e depois deixou de o fazer, passando a suportar outros artistas também. Piores, mais baratos e que querem ser admirados por isso, porque a cidade está a suportar mais artistas que Paris, Londres ou Madrid. A verdadeira razão é, contudo, o medo que Berlim tem de se sentir orgulhosa dos artistas locais. Os alemães só acreditam em artistas que funcionem como “Europeus” que, tal como Sasha Waltz, possam ter sucesso em Paris, Bordéus ou Lyon. Os alemães também só confiaram nas suas salsichas depois de estas terem feito sucesso no Vietname, na China e nos Estados Unidos da América. E, portanto, não estão orgulhosos de Jo Fabian, porque temem que ele não seja entendido em mais lado nenhum. Por causa do medo, os alemães concluem que ele só seria um bom europeu se os europeus gostassem de ver a sua dança à la Waltz e comer a sua salsicha. Porque os alemães sujeitam as suas universidades a um escrutínio europeu, nunca mais voltarão a estudar Kant ou Hegel. E porque os alemães só deixam que a sua dança exista enquanto produto exportável, como a salsicha, um especialista na Alemanha como Jo Fabian não é entendido nem em casa, porque ele não entende a arte como algo europeu mas como algo enraizado em Berlim. Em vez disso os alemães tornaram-se os primeiros europeus entre os europeus. Aguardamos até que alguém reconheça isso para que os alemães voltem a ser tímidos e se sintam envergonhados por não serem capazes de permanecerem apenas como aquilo que são: simples seres humanos. Tradução do inglês: Virginia Mata Arnd Wesseman é crítico de dança e editor da revista Ballettanz.
69
III
IV
GRÉCIA
V
IDENTIDADE EUROPEIA
II
PERSPECTIVA
I
VI
VI I
A CULTURA DO PODER texto Dimitris A. Sevastakis
ou museus, quantas produções apresentam por ano) é parte orgânica, também, de qualquer testemunho feito à actividade cultural do Estado. Do mesmo modo, a qualidade das escolhas e suas idiossincrasias, a estrutura política e outras dos mecanismos que produzem a actividade cultural, e o regime de organização no qual o universo cultural de um país é visto pelo órgão cultural do Estado e a razão pela qual certos eventos são daí escolhidos (e não outros) são também assuntos para apreciação cultural.
fotografia Jonathan Ferry
70
Observações preliminares É importante esclarecer dois pontos antes de expor as minhas observações: a) O meu uso da palavra “cultura” vai para além da soma estatística de todas as actividades artísticas subsidiadas por fundações culturais ou pelo Estado e órgãos políticos, para ir ao encontro do próprio feito do subsídio, da sua carga semântica e da vontade política condensada no acto em si. b) “Cultura” é aqui tomada em conta como a soma total das convenções sociais que se desenvolvem à volta de nós sociais existentes, assim como o estabelecimento desses pontos em si. O futebol, por exemplo, é pensado de maneira a incluir a sua recepção social e a sua narração mediática, mas também o campo habitual em que se costuma desenvolver e a existência de diferentes feições no público que o pede e que dele requer. Afirmo, assim, que um evento cultural é tanto o evento localizado em si (a exposição, a performance, etc.) como a soma total dos seus pares sociais que, embora não integrados em qualquer definição de dicionário de “cultura”, ainda lhe emprestam sentido. As estimativas feitas à volta da realidade cultural de um país são geralmente baseadas na soma numérica dos seus festivais, museus, exposições, concertos, teatro estatal e companhias de ópera, por aí adiante. Tais estimativas, com certeza, formam assim a base para onde se estendem tanto a política cultural desse país como a taxa de grandes instituições privadas (bancos, etc.) que encoraja o patrocínio, ou não, das actividades culturais. E esta avaliação quantitativa das actividades culturais de um país (quantos teatros tem, quantas salas de ópera
O caso grego Convencida de uma insuficiência estrutural e segura do seu atraso em relação a centros metropolitanos da Europa e da América do Norte (em termos gerais), a Grécia deseja alcançá-los ao entrar numa aceleração histórica. Neste caso, o acelerador é o mainstream internacional. Esforça-se para responder à sua psicose nuclear e subliminar com uma arte oficial “equiparada a”, “ligada a”, “igualmente motivada a” o que se entende como “a arte do mundo desenvolvido”. Isto, naturalmente, variando entre vertentes artísticas e gerações diferentes, etc. Na poesia, por exemplo, na música e no teatro – todas tradicionalmente bem estabelecidas e relativamente poderosas na Grécia –, produzem-se trabalhos contemporâneos igualmente assimilados no todo “internacional”. Noutros campos, como nas artes visuais e na arquitectura, vemo-nos muitas vezes confrontados com tentativas e desvios envergonhados de modelos e tipos que se conformam sempre com as regras. Isto reflecte-se na maneira em que o Estado negoceia os eventos artísticos. A política oficial é geralmente incerta, totalmente desequilibrada e contraditória, pecando em vitalidade e com uma capacidade de intervenção limitada. Preocupa-se em incluir e apoiar o que os políticos de carreira que exercem no poder acreditam que não os deixará excessivamente expostos: o que consideram seguro, o que será tratado favoravelmente pela imprensa, o que não revelará lacunas pessoais em termos culturais e educativos. E é por esta razão que os eventos seminais (Olimpíadas culturais, capitais culturais, etc.) procuram sempre refúgio num mainstream internacional ou em algo que se assemelhe à escala doméstica. A inércia exibida pelas sucessivas administrações gregas em relação aos incentivos fiscais no patrocínio cultural (uma medida apoiada e sucessivamente retirada ao longo dos anos) é também um sinal da falta de decisão, da pequenez da mente burocrática e da tendência para evitar as responsabilidades.
O Outro A aproximação técnica e quantitativa aos eventos culturais retira ao observador o mais interessante campo – e, na minha opinião, o mais produtivo em termos teóricos – em que surge a verdadeira matéria cultural: a cultura informal que não vem catalogada nas secções dos nossos jornais dedicados às artes ou nas nossas publicações de cultura e filosofia. Estruturado, em larga medida, de maneira televisiva e como um produto e evento perceptível, esta matéria cultural baseia-se no programa de televisão, nas condições de percepção que este traz e nos arranjos espaciais que ele impõe. Juntamente com a crise de economia, da educação e dos seus modelos, comunidades de fanáticos e viciados em televisão sentam-se em semi-círculo à frente dos seus televisores, ponto de foco da vida doméstica (e assim influenciada pelo planeamento urbano), despidos de interactividade e capacidade de iniciativa. Outro interessante fenómeno de massas ligado à televisão é o futebol, que, ao criar símbolos dependentes de performances, se encontra governado por uma lógica hierárquica de progresso e de dominação de um adversário em vez da qualidade do jogo. É por esta razão que os códigos de narração dos comentadores desportivos (que, por necessidade, produzem e trocam discursos – e discursos de grande poder didáctico) são necessariamente maniqueístas. E profundamente moralistas. Estes aspectos (e muitos outros para além daqueles que se podem colher e criticar do oceano da realidade) compõem uma esfera cultural ampla e perigosa que se impinge tanto nos campos da educação como do lazer. Sabendo que se poderá apenas vê-la no futebol e nas suas narrativas, ou em certos programas televisivos dirigidos ao mercado de massas (concursos ou tv-real), propõem, na verdade, um axioma social mais alargado e envolvente: a sociedade grega precisa de dualidades morais, de ilustrações das suas premissas (que é como ilustra os seus vários ídolos) e – sobretudo – de divulgar e mostrar a sua parcialidade. Disfarçada de uma pseudo-extrospecção – uma sociabilidade declarada –, este narcisismo contém, no fundo, a necessidade urgente de um poder simbólico e de vitória. Discurso Os jornais e as publicações da Grécia são ambos fascinantes e absolutamente indicativos do seu problema cultural. Apesar dos principais diários dedicarem 2025% dos seus espaços à cultura, misturam artigos sobre eventos culturais sérios com imprensa leve de todo o tipo; estando a predominância de um ou de outro ligada ao perfil do director. E enquanto que estas secções culturais reúnem um número limitado de leitores, acabam por atrair tanto leitores de formação alta (intelectuais
ou, como Gramski diria, “intelectuais orgânicos”) de quem o jornal precisa por razões estratégicas, como asseguram simplesmente um elemento qualitativo numa esfera tão comercial e politicamente direccionada como a edição de imprensa. Um fenómeno paralelo é o da circulação de um número impressionante de publicações literárias e teóricas (com um horizonte sem fim de ensaios e textos literários) ao qual, apesar da baixa circulação, se dedica um grupo de leitores fiéis que mantêm esses jornais viáveis. Existe também um número limitado de publicações críticas de belas-artes (como a highlights), embora estas se deparem com um risco maior, tratando-se de publicações caras para um público não forçosamente especializado, mas variado. Há também um grupo de revistas para consumidores especializados assim como várias para especialistas (sobre carros, barcos, artigos electrónicos, cozinha, decoração, agricultura, etc.) que, ancoradas nas preferências do consumidor, substituem o produto narrativamente. Temos também várias publicações para-artísticas ou folhetins de escândalos vistos entre as fechaduras de variedades cuja estética reflecte uma síntese pós-pop de material visual bem definido, claro e de todas as cores. Poderíamos também mencionar a circulação paralela de publicações fortemente identitárias – jovens organizações políticas, orientações sexuais alternativas, activismo ecológico, e por aí fora. Numa era metalinguística, onde o texto exige atenção e sacrifício por parte do leitor, a explosão de um campo onde um dado acontecimento toma a forma de uma linguagem (pois a imagem impressa também é uma linguagem) é de particular interesse. Tentei, no espaço disponível e seriamente limitado, desenhar alguns campos críticos mais característicos onde alguns destes parâmetros culturais tenham emergido e se desenvolvido. Uma arte oficial de eventos e festivais, uma matéria cultural não-oficial centrada sobretudo na televisão, o futebol – embora poderia chegar a outros exemplos de massas, uma imprensa que envolva todos os géneros e qualidades – que também se poderia estender à Internet, onde as coisas quebram-se de maneira semelhante. Aludi a uma compreensão do fenómeno cultural usando ferramentas analíticas extensas. A cultura reúne não apenas as hierarquias políticas que a fundam e que a comissionam mas, e de forma mais importante, a introspecção moral e existencial e a recepção de outros meios não-oficiais e não-legislados pela qual a exprimimos. Texto publicado em colaboração com a revista grega Highlights, da qual Dimitris A. Sevastakis é editor, para além de artista e professor assistente de Arquitectura na Universidade Técnica de Atenas, Grécia. Tradução do inglês: Francisco Valente
71
III
IV
V
IDENTIDADE EUROPEIA
II
PERSPECTIVA
I
VI
VI I
BULGÁRIA BULGARI, IN OMNI ORBE TERRIBILES texto Aglika Stefanova Voltaire nunca esteve na Bulgária Tzvetan Todorov in Les morales de l’histoire
72
Desde a sua independência em 1878 que os búlgaros tentam diligentemente integrar no seu quotidiano valores sociais e culturais vindos da Europa Ocidental, rejeitando, pelo caminho, as tradições Orientais impostas ao seu país durante 500 anos, enquanto estiveram “sob o jugo”1 do Império Otomano. Este trauma sóciocultural desenvolveu uma espiritualidade específica e uma actividade intectual durante o século dezanove (o período do Revivalismo Cultural Búlgaro) que ainda hoje subsiste – assumir o desejo de se ser Europeu, provar por todos os meios que se é Europeu, admirar todo o objecto, estilo ou moda made in Europe, e respeitar profundamente qualquer pessoa educada na Europa. Ora, tal como Tzvetan Todorov explicou brilhantemente: « os búlgaros têm, em relação aos estrangeiros, um complexo de inferioridade: eles pensam que tudo o que vem do estrangeiro é melhor do que aquilo que encontram em casa. É verdade que nem todas as zonas do mundo se equivalem e que o ‘melhor estrangeiro’ é in-
carnado pelos países da Europa Ocidental; a esse estrangeiro os Búlgaros dão um nome paradoxal, mas que explica a sua condição geográfica: ele é ‘europeu’ simplesmente. As meias, os sapatos, as máquinas de lavar ou coser, os móveis e mesmo as sardinhas em lata são melhores quando são ‘europeias’. Nesse sentido, tudo aquilo que representa a cultura estrangeira, pessoa ou objecto, goza de uma discriminação positiva, onde se esfumam as diferenças entre países” 2. A incontestável posição geográfica da Bulgária na Europa não é garante de qualquer conforto para os cidadãos. Situar-se na periferia da Europa, entre esta e a Ásia parece ser um situ instável e desolador para os locais. Ser Europeu, na imaginação búlgara, é um estatuto de honorabilidade que deveria ser provado através de uma complexa teia de conquistas morais, culturais, científicas e artísticas, reconhecidas e validadas pela humanidade e perspectivada de acordo com a sua importância histórica.
Embora os Búlgaros tradicionalmente se questionem sobre se o seu país pertence realmente à Europa, isto é, se representa “o último bastião do Ocidente em direcção ao Oriente”, ou o seu contrário, ou seja, “a ponta mais avançada do Oriente em direcção ao Ocidente”3 . Durante os anos 90 existiu na Bulgária um movimento político de esquerda, de formação intelectual, intitulado “Um caminho em direcção à Europa”. Na mesma altura apareceu uma expressão jornalística que ameaçava permanentemente os leitores dos jornais com a catastrófica possibilidade de “perdermos o comboio para a Europa” (se não justificarmos a tempo que somos suficientemente civilizados e adequados para os padrões económicos, culturais e jurídicos europeus) e permanecendo para sempre num estádio de “barbárie”, desordem e crise social. Já agora, durante os anos 90 os Búlgaros necessitam de um visto para viajarem para a Europa o que dava à sua já tradicional falta de auto-estima, um complexo de isolamento e sensação de rejeição PELA Terra-mãe, da qual foram separados, originalmente, à força no momento da invasão Otomana dos Balcãs e, uma segunda vez, pelo Muro de Berlim e a Guerra Fria. Os Búlgaros eram suspeitos de serem um povo bárbaro, criminoso e/ou constituído por imigrantes ilegais, devenedo permancer afastados dos limites do mundo civilizado. “Os Búlgaros, ainda que bárbaros, são “criados”, é esse o sentido histórico do seu destino, impedindo assim que invadam povos ainda mais bárbaros” (Todorov). Como se os Búlgaros fossem suspeitos de nascença, tal como testamentou Cassiodoro: Bulgari in omni orbe terribiles. Esta afirmação foi, mais tarde, confirmada, por Voltaire no seu Candide, ainda que este nunca tenha viajado até à Bulgária. A noção generalizada de “Cultura Europeia” é, no imaginário búlgaro, um território simbólico de acção livre, respeitador da diferença e interessado na preservação das especificidades locais da mais pequena região ou paisagem. A cultura Europeia é associada à democracia e à liberdade – não há regras restritivas nem são impostas ideias “progressivas”, nem conceitos ou géneros, tal como sucedeu durante o período socialista (1944-1989), quando os governantes da URSS impuseram um conceito progressivo genérico intitulado socialismo realista. Foi metódica e compulsoriamente introduzido em todos os países do bloco de Leste. Esta corrente criada artificialmente tinha como missão combater todas as outras correntes da velha burguesia (melodrama), as correntes
do imperialismo (cultura de massas), a decadência e alienação da arte (simbolismo, expressionismo, absurdo). Hoje já nada resta deste estilo artístico totalitário – com excepção de monumentos maciços de cimento que resistem, calmamente, à pressão do tempo. Os anos 90 foram um período de transição da pressão política e o isolamento cultural para a democratização. Muitos dos fundos e fundações internacionais começaram a interferir na cultural búlgara de modo a ajudarem a contrariar esse isolamento e a integrarem os artistas Búlgaros na cena internacional. A entrada da Bulgária na União Europeia em Janeiro 2007 foi celebrada por muitos Búlgaros como um acto de justiça há muito esperado enquanto reconhecimento dos esforços desenvolvidos durante séculos, compensando os atrasos causados pelas misturas com as culturas do Oriente (Otomano, Turco, Asiático) e, mais tarde, com a política do regime Soviético. Hoje os artistas estão por sua conta – podem enfrentar o espaço cultural da União Europeia com toda a possibilidade de riscos e liberdades. E é aqui que surge o maior problema: deveriam eles propor ao grande mercado cultural Europeu alguma arte tradicional, autóctone, ritualizada (folclore autêntico, objectos de ouro e painéis pintados da era trácica, mosteiros medievais) ou arte contemporânea, feita a partir de modelos europeus (normalmente imitações do velho estilo europeu)? Deveriam os búlgaros encontrar a campa de Orpheu algures na Montanha Rodopi para atrair o interesse da União Europeia para o seu território cultural? Como contribuir criativamente para o campo da Europa multicultural? Como ser e permanecer um artista Búlgaro na União Europeia? Como representar as especificidades da Bulgária e a alma da Bulgária? O desafio para os artistas Búlgaros hoje é encontrar formas originais e excitantes que activem o interesse internacional. Aceitemos que os primeiros dias dos agentes culturais Búlgaros na Europa são dias de adaptação. Esperemos que encontrem formas de estabelecer um verdadeiro diálogo com as outras culturas nacionais e depois, então, uma forma original. Mas é uma questão de tempo, educação, capacidade de auto-análise, auto-crítica, auto-confiança, permanente batalha com o pensamento hierárquico (Bulgária versus Europa), e capacidade de gestos artísticos conceptualmente espectaculares num mercado cultural dinâmico e liberal como é o da União Europeia. Tradução do inglês: Virginia Mata Aglika Stefanova é investigadora em Estudos Teatrais na Academia de Ciências Búlgara
1 Debaixo do jugo é o título do primeiro romance Búlgaro, escrito em 1894 pelo “patriarca da literature moderna búlgara”, Ivan Vazov. A história descreve o sofrimento da população Búlgara na fronteira com o Império Otomano e a sua luta pela independência. 2 Todorov, Tzvetan. Remarques sur le croisement des cultures.-In: Les morales de l’histoire. Grasset, Paris, 1991, p. 110. 3 Todorov, T. La Bulgarie en France.-In: Les morales de l’histoire. Grasset, Paris, 1991, p. 25.
73
III
IV
V
IDENTIDADE EUROPEIA
II
PERSPECTIVA
I
VI
VI I
ESLOVÉNIA MOUNT TRIGLAV NO MOUNT TRIGLAV texto Andreja Kopac
fotografia Dnevnik
Triglav é a montanha mais alta da Eslovénia (2864 metros) e o símbolo da identidade nacional eslovena. Janez é o nome esloveno mais comum. Janez Janca é o primeiro ministro da Eslovénia desde 9 de Novembro 2004. Três artistas internacionalmente reconhecidos, a artista visual Ciga Karic, o artista intermedia Davide Grassi e o encenador e performer Emil Hrvatin rebaptizaram-se oficialmente (em todos os documentos) como Janez Janca em Agosto deste ano. Tornaram-se todos membros do partido de direita Partido Democrático Esloveno, dirigido pelo primeiro-ministro Janez Janca. Os três novos Janez Jancas dizem que a decisão tomada apenas diz respeito a eles mesmo e não fazem qualquer comentário à situação.
-se criticamente do conceito Gelassenheit criado por Heidegger, que surgiu em numerosos outros conceitos, tanto políticos, filosóficos, media e até artísticos. “As noções de libertação emocional, de energia e relaxação têm sido, sem excepção, companheiras da vida política da Eslovénia desde que no país começaram a soprar os novos ventos trazidos pela adesão à União Europeia em 2004. […] Os ventos de acalmia chegaram finalmente inspirando Janez Janca a exclamar profeticamente: sentimo-lo. Os ventos de mudançã são algo que te afecta, te preenche e te guia.” Enquanto que nos campos da política, economia, media e educação a ubiquidade sugerida por essa relaxação criou a impressão de que ninguém sabia o que significava, mas todos se comportavam como se fosse uma evidência, esta noção no campo da arte pressente-se de forma diferente. Uma comunicação e atmosfera descontraída está muito próxima de conceitos e métodos históricos e
74
The relaxed ideology of the Slovenes: on the political implications of the philosopheme relaxedness é o tí-
tulo de um estudo escrito pelo filósofo esloveno Boris Vezjak e publicado em Maio 2007. A análise aproxima-
artísticos derivativos das décadas de sessenta e setenta do século XX, e estão a ser agora reinventadas amiúde. A exposição colectiva Triglav, que incluiu o grupo OHO, Irwin, Janez Janca, Janez Janca and Janez Janca e está patente até ao fim deste mês na Mala galerija na capital eslovena Ljubljana pode ser lida como um dos casos de exploração artística desse afrouxamento político. Os três Janez pairam sobre os símbolos icónicos da cena artística eslovena: OHO e Irwin. A exposição é descrita como a confrontação entre “três acções artísticas, que ocorrem em torno da ideia do monte Triglav, funcionando como uma alegoria do símbolo geográfico, nacional e de Estado”. A escultura viva Mount Triglav, intepretada pelos membros do mais importante movimento neoavant-guarde esloveno, o OHO, foi criada em Ljubljana em 1968, e surgiu como um dos eventos que ocuparam os parques da capital desse ano, sendo parte essencial do trabalho interdisciplinar deste grupo. Já o colectivo Irwin reconstruiu a acção em 2004 no âmbito da série Like to Like destinada a recuperar seis das mais importante e representativas actividades do OHO. O trabalho foi criado a partir de fotografias que documentam intervenções artísticas no interior do país. A 6 de Agosto deste ano os três Janez (quase!) chegaram ao topo do monte Triglav onde, e de acordo com as suas próprias palavras, representaram uma performance intitulada Mount Triglav on Mount Triglav. Com esta terceira re-criação fizeram uma espécie de dupla reconstrução da temática Triglav de modo a “continuarem a tradição da Arte Conceptual na Eslovénia e a problematização das relações ideológicas entre acontecimentos históricos passados e recentes”. Pela descrição “os três trabalhos estão baseados nos pontos fortes da desconstrução e reconstrução das artes tradicionais e dos sistemas ideológicos”, ao mesmo tempo que “a exposição proporciona um nova contextualização e uma outra rede conceptual para criações individuais, para além de reforçar a compreensão da história e favorecer interpretações da realidade social e política”. Qual é a realidade política da Eslovénia? O nosso primeiro-ministro, o original Janez Janca disse em 2003: “o reconhecimento de que a mesa tem que posta, as colheitas têm que aradas e as ervas daninhas arrancadas do chão antes que uma nova semente possa brotar é, neste momento, um sinal claro do que se apresenta no céu esloveno”. Três anos depois, em Outubro passado, disse: “se isso afectar dois maços de tabaco por ano não é drástico, desde que se consiga encontrar uma côdea de pão numa lata de lixo, a situação não é suficientemente alarmante”. Isto foi parte do discurso de Janez Janca no parlamento esloveno, ao comentar a subida da inflação e os baixos rendimentos da maioria da população eslovena desde que o Euro trouxe preços
europeus mas não salários europeus. Num dos números da revista Maska, editado em 2006, intitulava-se Artivism or How to Do Things with Performative Actions, e incluía uma bela afirmação: “muitas acções directas são, no entanto, reminiscências da agitprop ou da guerrilla performance. Ambos os métodos fazem parte da história das práticas teatrais do século XX cujos objectivos eram alertar o público para uma situação política ou social específica, bem como a luta pela liberação de grupos socialmente discriminados”. Considerando naturalmente o facto de que a palavra política numa conversa trivial é uma estratégia do discurso político, o que a torna profundamente cínica, diria que a aproximação artística dos três Jancas é despudoradamente conceptual e sem qualquer desígnio artivistic. Enquanto a ideologia “de trazer por casa” se desenvolve, este conceito fluido e vazio paira no ar, trazendo no horizonte novas aproximações artísticas e reinvenções históricas legitimadas pelos avanços tecnológicos, convertendo-se inclusive a experiências como o Second Life onde descontraidamente se dedicam a explorar a reconstrução das ideias artísticas e a desconstrução das estratégias políticas. Pode este ser um método de Afirmação Subversiva? Se a resposta for positiva então deveríamos todos, e definitivamente, ver a nova peça de Janez Janca, Slovene National Theatre, estreada a 28 de Outubro, construída como um espectáculo que dá de novo voz à raiva e à revolta popular através de quatro pontos que atravessam as fronteiras da representação: política, corpo, tempo e público. Uma experiência que Janez Janca já começou a desenvolver e está sintetizada num único acto de demonstração racista levado a cabo em várias cidades da Eslovénia em 2006.
Tradução do inglês: Virginia Mata Andreja Kopac é jornalista e editora da revista Maska
75
III
IV
V
IDENTIDADE EUROPEIA
II
PERSPECTIVA
I
VI
VI I
texto Arne Hendriks
HOLANDA
O HOLANDÊS NÃO EXISTE PRINCESA MÁXIMA, FUTURA RAINHA DA HOLANDA 76
O consenso foi institucionalizado na Holanda, onde a identidade nacional se vê reflectida em incontáveis corpos consultivos e adjuntos. Mark Kranenburg, jornalista
Até muito recentemente a identidade holandesa havia encontrado uma grande metáfora no sistema para justificar o renascimento económico: o modelo Polder. Concebido pelos holandeses para chegarem a um consenso, o modelo Polder reúne as forças políticas dos vários partidos, o governo, os empregados e os patrões, assegurando que as coisas não fugiam ao controlo e os negócios continuam a ser negócios. Os holandeses criaram a sua identidade a partir de um pragmático “deixar andar”. Este generoso e rentável comportamento chegou ao seu término com a morte do político Pim Fortuyn em 2002, assassinado por um activista dos direitos dos animais. Os seus apoiantes acusaram o governo holandês de demonizar o seu líder popular e, por consequência, de ser responsável pela sua morte. Dois anos depois, o realizador Theo van Gogh foi assassinado por um extremista muçulmano por assinar, em colaboração com Ayaan Hirsi Ali, um controverso filme sobre a posição das mulheres no Islão. As consequências para a sociedade holandesa são bem conhecidas: a intolerância entrou num crescendo, a sociedade polarizou-se muito
rapidamente e as pessoas começaram a desconfiar dos políticos a um nível nunca antes visto. Isto causou uma crise política num país onde as coisas políticas eram, até então, confortavelmente aborrecidas. Tão aborrecidas que os artistas holandeses nunca se sentiram inspirados por isso. Há cinco anos atrás, antes das tragédias, quando questionado sobre arte e identidade holandesa, escrevi: “em muita da arte holandesa a ausência de tragédia parece carregar consigo uma espécie de romantismo, uma fuga da cena do não-crime”. Havia uma tendência para imaginar outras vidas, mais heróicas ou românticas. Dizer-se que a arte holandesa não foi um contra-poder é, em muitos países, visto como uma depreciação. Paradoxalmente, isto significou que uma vez os ânimos aquecidos, aos artistas faltaram os instrumentos e estímulo para aferroarem o dente no assunto, mesmo se Theo van Gogh era, ele mesmo, um artista e relacionado com um dos símbolos da arte holandesa, Vincent van Gogh. Em abono da verdade diga-se que Theo van Gogh foi um dos poucos que podia ter ido mais longe – e tê-lo-ia feito – num assunto como este. Uma explicação para a falta de envolvimento artístico no debate nacional após os assassinatos poderia ser o facto de que a situação pedia diplomacia e a restituição do consenso. Não é da responsabilidade tradicional da arte criar consensos e evitar conflitos agudizantes.
77
Provavelmente é até o seu contrário. Mas esse é precisamente o ponto. O “momento” da arte holandesa já havia passado há muitos anos atrás, enquanto sonhava com lugares menos “aborrecidos”. O papel da arte, se algum, deveria ser o de criar a transparência necessária que permitisse escapar ao abuso das construções mitológicas. Neste caso cumprindo o pragmatismo que a personagem mitológica da identidade holandesa sempre foi. Falar de uma crise da identidade é falar em uma crise na identificação concreta das dinâmicas de certos momentos. É muitas vezes nessas alturas que os mitos são usados como que para recriarem estabilidade, mesmo se ultrapassando as razões para essa instabilidade momentânea. A confusão linguística que isto cria entre arte e política pode ser testemunhada através das políticas culturais nacionais onde os artistas e os políticos usam as mesmas palavras mas falam, fundamentalmente, uma linguagem diferente. Palavras-chave na política cultural holandesa são participação, grandes audiências, poucas aspirações. Deseja-se para a arte o que se deseja para os políticos: uma democracia baseada num conjunto de valores comuns. Ao criarem uma agenda claramente a favor de projectos que estão interessados em criar um outro modelo Polder para a cultura, o envolvimento político holandês copia a
sua própria lógica, tornando a arte, num curto espaço de tempo, numa ferramenta política e mesmo mitológica, não só forçando uma agenda consensual mas também, e até, pela sua lógica interna de representatividade minoritária. O consenso é, pela sua necessidade de incorporar tanto quanto se conseguir em torno da identidade holandesa é, tal como o modelo económico, apenas um caminho para o negócio, o negócio dos políticos. A arte representa o oposto dos políticos. Lida com o individuo, com o olhar, o olhar individual, e não com o “identificar com” e “ver para”. A arte holandesa, se tivesse sido um elemento construtivo na sociedade, poderia ter sido um elemento de consenso, não por o procurar ou forçar, como os políticos fazem, mas por explorar o potencial individual para o momento crítico no qual a escolha seria feita entre ver por si mesmo ou deixar que alguém o fizesse por si. No momento só há um colectivo de artistas capaz de fazer este papel tal qual o governo holandês gostaria: a família real. Ironicamente eles são os únicos cidadãos holandeses que não têm liberdade de expressão. Ninguém sabe melhor do que eles o que significa lutar pela identidade. Tradução do inglês: Virginia Mata Anne Hendriks é curador do projecto Medimatics no biénio 2005/06 e responsável pela Project Foundation. Lecciona teoria da arte na Academia Real da Arte, em Haia.
III
IV
V
CINQUENTA ANOS 1956-2006 FCG
II
PERSPECTIVA
I
VI
VI I
Fundação Gulbenkian
Cinquenta Anos 1956-2006 PRÉ-PUBLICAÇÃO
78
No término de um intenso ano de celebrações e prospecção, a Fundação Calouste Gulbenkian publica a sua história. Fundação Gulbenkian – Cinquenta Anos 19562006, organizado por António Barreto e a editar em breve, sistematiza em dois volumes a missão da instituição e o impacto da sua acção nos domínios estatutariamente previstos: caridade, arte, educação e ciência. A presença internacional da Fundação e uma avaliação do seu património são os capítulos que completam a obra (além de importantes blocos de imagens), cujos autores são, além de Barreto, José Medeiros Ferreira, António Correia de Campos, Jorge Simões, António Pinto Ribeiro, António Nóvoa, Jorge Ramos do Ó, Jorge C.G. Calado, Kenneth Maxwell e João Confraria. A secção dedicada à arte, da autoria de António Pinto Ribeiro, ocupa 173 páginas no primeiro volume e começa por traçar um perfil de Calouste Gulbenkian, o coleccionador, para depois abordar, de forma sistematizada, o Museu, o Serviço de Música (Glória, poder e interrogações é o subtítulo, que inclui como temas
Ballet Gulbenkian 1965-2005, O período Sparemblek, Uma companhia de bailado, Os Estúdios Coreográficos, Vasco Wallenkamp e Olga Roriz), a revista Colóquio/ Artes (1959-1996), as bolsas e as subvenções (Um Ministério das Artes: das belas-artes, das exposições, dos subsídios, do teatro, do cinema e das bolsas), o
Centro de Arte Moderna, o ACARTE (1984-2003) e a Biblioteca de Arte. É deste capítulo – que termina com O passado e o presente e E o que há-de vir? – que a OBSCENA apresenta, em pré-publicação, os seguintes excertos.
O COLECCIONADOR A 10 de Abril de 1942 chega a Lisboa, de Rolls Royce, vindo de Vichy, Calouste Sarkis Gulbenkian, e instala-se no Hotel Aviz, cujo luxo nivelava com os melhores padrões europeus. Acompanhavam-no sua mulher Nevarte Essayan, Madame Theis, secretária particular, o mordomo, o massagista russo Ivan Karmazin e o chef oriental, conduzidos pelo chauffeur da família. Antes de realizar esta viagem — pensada pela primeira vez em Janeiro de 1941, como atesta o primeiro pedido de visto —, e por sugestão de seu filho Nubar e dos diplomatas portugueses Nunes da Silva e Caeiro da Mata, com quem tinha convivido em Vichy, Calouste Gulbenkian para a pintura»); ou as pinturas dos estudantes da Escola teve o cuidado de se assegurar de que, em caso de nede Artes Decorativas António Arroio de nomes Cruzeiro cessidade, poderia contar com a assistência do melhor Seixas, João Moniz Pereira, António Domingues, Mário médico português, o Professor Fernando da Fonseca, e Cesariny, Fernando Azevedo, Marcelino Vespeira? E que o apoio jurídico do melhor advogado, o Doutor José de conhecimentos teria ele sobre Almada Negreiros, Abel Azeredo Perdigão. Manta ou António Duarte, pintores seniores premiados Se, nessa noite de sexta-feira, a longa viagem não o nesse ano pelo Secretariado da Propaganda Nacional, tivesse cansado demasiado e se dispusesse a ir ao teaorganização de propaganda do regime? tro, as opções em cartaz não abundariam. Os espec(…) O amigo de Somerset Maugham, o homem que se táculos de teatro ligeiro e de revista oferecidos pelos correspondia com Saint-John Perse, o modelo em que palcos de Lisboa não eram suficientemente atraentes William Saroyan se inspiraria para criar a personagem para Calouste Gulbenkian se insurgir em voz alta contra de The Assyrian, não poderia, sequer, ler Os Esteiros o mau desempenho de um actor, ou contra o texto ou de Soeiro Pereira Gomes, uma vez que não dominava a contra o cenário, como costumava fazer nos teatros de língua portuguesa, nem nenhum dos muitos romances Paris. Assim, aos espectadores dos teatros de Lisboa neo-realistas que se lhe seguiram, género literário este, não seria dado ver um anónimo e elegante senhor aban79 aliás, que não o seduzia minimamente. O único lugar donando a sala e tecendo comentários menos próprios que, nos dias imediatamente a seguir à sua chegada a em francês sobre o espectáculo em cena. Sem gosto Lisboa, Calouste Gulbenkian gostaria de visitar seria o pela música, o programa de ópera ou de concertos do Museu de Arte Antiga, que estava, contudo, em pleno Teatro Nacional de São Carlos ser-lhe-ia indiferente, processo de remodelação e ampliação. caso aí se passasse alguma coisa digna de atenção. ImCalouste Gulbenkian veio encontrar um país rural, propossível ser-lhe-ia também ouvir as Danças para piano vinciano, iletrado, industrialmente atrasado, seguidista ou os Concertos para piano e orquestra compostos por retardado de algumas correntes artísticas e da moda Fernando Lopes Graça, uma vez que este era um comque ia chegando de Paris. Lisboa era a capital deste positor censurado pelo regime. país oficialmente neutro em relação à Segunda Grande Também a arte sua contemporânea pouco cativava CaGuerra, mas dela beneficiário. (...) louste Gulbenkian. As raras excepções que lhe mereceram estudo e admiração (ainda que não adquirisse as suas obras, ou só No testamento redigido em 1953, Calouste Gulbenkian declararamente) foram pintores como Cé- rava ser sua vontade reunir toda a Colecção debaixo do mesmo zanne, Manet, Monet ou Van Gogh. Ora, tecto e, simultaneamente, legava a sua herança a uma Fundação por Lisboa passavam, por esses dias, Dali, Fernand Léger, Miró, Chagall e que deveria chamar-se Fundação Calouste Gulbenkian, e que Max Ernst, mas apenas de partida para teria fins caritativos, artísticos, educativos e científicos. a América. Kisling foi o único que acabou por aqui expor obras suas, mas esse facto não desO PRIMEIRO ENCONTRO FELIZ pertaria o interesse de Gulbenkian. E entre as poucas Foi o advogado prestigiado que, em 1942, pouco temexposições de artistas portugueses, que interesse tepo depois de ter chegado a Lisboa, Calouste Gulbenriam, para aquele que era um dos mais ricos colecciokian contactou: “estava no meu escritório e a minha nadores de arte antiga, as obras de surrealistas tardios secretária diz-me: ‘Sr. Dr., estão a chamá-lo do Hocomo António Pedro e Dacosta, ou a pintura de um jotel Aviz’. Ligo o telefone e do Hotel Aviz um secretário vem de dezasseis anos chamado Júlio Pomar (autor de qualquer diz-me: ‘Está aqui uma pessoa muito imporum «Manifesto sobre a necessidade de uma alma jovem >>
III
IV
V
CINQUENTA ANOS 1956-2006 FCG
II
PERSPECTIVA
I
VI
VI I
ser “preciso educar o País”, a Fundação começou por atribuir subsídios (...). Na sequência de uma visita efectuada ao Museu-Biblioteca de Castro Guimarães, de que era director Branquinho da Fonseca, Raposo de Magalhães criou na Fundação o Serviço de Bibliotecas Itinerantes. Em relação a outro tipo de actividades de natureza artística, José Raposo de Magalhães apenas referiu ter “trocado algumas impressões com a Sr.ª D. Madalena Farinha a propósito da circulação de intérpretes em Portugal”. Mas foi sua a proposta, apresentada num relatório de Junho de 1959, que a par do Museu e dos equipamentos culturais que constituirão o edifício-sede, se construísse também um anfiteatro ao ar livre. “Tal anfiteatro destinar-se-ia à representação de teatro clássico e de teatro experimental, que não exijam grandes montagens cénicas, podendo ainda servir para espectáculos de ballet. Quanto aos auditórios cobertos, o maior deve corresponder às exigências de realização de congressos e conferências para o grande público, espectáculos de ballet e concertos de alto nível cultural e educativo, designadamente música de câmara, não para levar a efeito espectáculos destinados às grandes massas”.
“Tal anfiteatro [ao ar livre] destinar-se-ia à representação de teatro clássico e de teatro experimental, que não exijam grandes montagens cénicas, podendo ainda servir para espectáculos de ballet. Quanto aos auditórios cobertos, o maior deve corresponder às exigências de realização de congressos e conferências para o grande público, espectáculos de ballet e concertos de alto nível cultural e educativo, designadamente música de câmara, não para levar a efeito espectáculos destinados às grandes massas”. >> tante que deseja consultá-lo. Pede-lhe o favor de o Sr. Dr. vir aqui ao hotel’. Eu respondi: ‘Diga a esse senhor, sem desrespeito, que, por dever da deontologia profissional, os advogados não vão a casa dos clientes’. Isto é autêntico. ‘Ele que marque uma audiência’”. (…) O estatuto jurídico de Calouste Gulbenkian era bastante complexo: era arménio, nascido na Turquia, domiciliado em Paris e naturalizado inglês. E tinha, naturalmente, a preocupação da legalidade. As primeiras impressões de Perdigão sobre ele foram claríssimas: “O cliente não me interessou muito. Deixe-me dizer-lhe que tinha clientes tão bons ou melhores do que ele. Mas o que é certo é que a personalidade dele me interessou muito. As nossas relações de advogado e cliente passaram a ser, di80 gamos, mais íntimas, porque a personalidade dele me interessou. […] Um homem muitíssimo inteligente, um grande amador de arte”. (...) Resolvidas as questões da criação da Fundação e da sua presidência, Azeredo Perdigão tratou de dar cumprimento às missões gerais para que ela estava vocacionada, conforme vontade do seu criador. Iniciou, portanto, a atribuição de subsídios a diversas actividades. Em simultâneo, ainda no seu escritório de advogado (...), procedeu à organização da Fundação como um verdadeiro governo das artes, das ciências, da beneficência e da educação. A própria estrutura da Administração e dos seus serviços e respectivos orçamentos em tudo eram semelhantes, dir-se-iam uma réplica ao governo de uma república, preservando até, cada administrador, uma relativa independência, o que a longo prazo teve alguns efeitos negativos, que se traduziram numa certa incomunicabilidade entre os serviços, na repetição de medidas e, de algum modo, no afunilamento dos objectivos. Numa monografia datada de 21 de Outubro de 1958, Raposo de Magalhães (...) entendia que “não competirá à Fundação um grande esforço financeiro na formação de novos artistas, porque a construção do Museu e o desenvolvimento de um programa de actuação artística nele estruturado […] preencherão suficientemente os fins artísticos fundacionais”. Porém, como considerava
O SEGUNDO ENCONTRO FELIZ José de Azeredo Perdigão conheceu Madalena Farinha tinha esta acabado de enviuvar. Viera de Coimbra propositadamente para lhe agradecer o que a Fundação a que ele presidia fizera pelo marido, João Farinha, doutorado em Matemática e primeiro assistente da Universidade de Coimbra. Ambos tinham estado em Paris: Madalena, como bolseira do Instituto de Alta Cultura, para estudar com o prestigiado professor de piano da época, Marcel Ciampi; e João Farinha, que faleceu subitamente naquela cidade, em Setembro de 1957, como um dos
primeiros bolseiros da Fundação. Como na primeira tentativa não lhe foi possível encontrar-se com o presidente, Madalena Biscaia Farinha voltou nessa mesma tarde à sede da Fundação. Precisava de regressar nesse dia a Coimbra, mas não o queria fazer sem realizar o que a havia trazido a Lisboa. Por essa altura, a Fundação encontrava-se sediada na Rua de São Nicolau, no 1.º andar do prédio onde Azeredo Perdigão mantinha ainda o escritório de advocacia. Foi aí que a recebeu, acompanhada pelo pai, mostrando-se gentil e cavalheiresco. E, nessa precisa ocasião, convidou-a para trabalhar consigo. (…) No programa que, em 1956, Azeredo Perdigão pôs em marcha, pretendia dar-se cumprimento às quatro finalidades da Fundação. Para as artes plásticas, para o museu e para a cultura artística, o diagnóstico contara com o contributo inicial de José Raposo de Magalhães e, posteriormente, com Artur Nobre de Gusmão e João Couto. Madalena Perdigão teve a seu cargo, especificamente, a área da música, mas acabou por ocupar-se, de uma forma geral, dos outros aspectos da criação artística. A ela se ficou a dever, inclusivamente, a decisão final de, no projecto do edifício da nova sede, se incluir o Grande Auditório, com as dimensões que hoje apresenta. (…) Uma espécie de estado de urgência movia a Fundação nos primeiros anos da sua existência. Entre 18 de Julho de 1956, data da constituição jurídica da Fundação, e 31 de Dezembro de 1959, a Fundação organizou-se, “em-
ser o Serviço de Música, do qual ela seria a primeira directora, a partir de 1958: “Devo dizer-lhe que a fundação da Orquestra, do Coro e do Ballet não constavam desse esquema, pois a ideia da respectiva criação surgiu a pouco e pouco, à medida que fui verificando as lacunas do meio musical português. O primeiro orçamento do Serviço de Música para o ano de 1957 foi de 1 590 839$00. O recurso sistemático à colaboração de agrupamentos estrangeiros parecia-me errado e nada dignificante para a cultura portuguesa. Nessa altura, as disponibilidades orçamentais da Fundação Calouste Gulbenkian eram bastante amplas e não tive dificuldade em fazer aceitar as propostas de criação da Orquestra e do Coro Gulbenkian. Já quanto ao Ballet as dificuldades foram grandes, porque havia uma rejeição ao ingresso de bailarinos no Quadro de funcionários da Fundação. […] Os meus objectivos eram ambiciosos, mas não a curto prazo. Foi pouco a pouco que os projectos se desenvolveram”. Este programa de actividades que originalmente ainda contemplava um plano para o Teatro e a criação de uma Academia de Música — não aprovados pela Administração da Fundação —, irrompia
Outros episódios tiveram consequências determinantes na construção da aura de actualidade e de ousadia da Fundação. Um dos mais famosos aconteceu com Maurice Béjart. Convidado para participar, em 1968, com a sua companhia de dança Ballet du XXème Siècle, o espectáculo foi interrompido pela PIDE, a polícia política do regime, quando o coreógrafo apelou ao fim de todas as ditaduras e da guerra colonial e pediu um minuto de silêncio em memória do recémassassinado Robert Kennedy. Nessa mesma noite, Maurice Béjart foi expulso do País. bora as suas actividades tivessem sido iniciadas, pode dizer-se, no próprio dia em que a Instituição ficou juridicamente constituída”. E este conjunto de actividades que se sucediam quase diariamente criou na sociedade portuguesa de então, e muito em particular junto dos artistas, enormes e legítimas expectativas: “O ambiente era de suspense e de ansiedade, era tão difícil o acesso à arte!”, como afirmou José Sommer Ribeiro traduzindo aquele que era um sentimento comum nesses tempos tão difíceis. O SERVIÇO DE MÚSICA: GLÓRIA, PODER E INTERROGAÇÕES Aceite o convite para trabalhar na Fundação Calouste Gulbenkian, Madalena Perdigão prontamente apresentou um programa de actividades para aquele que viria a
na sociedade portuguesa de então, subdesenvolvida económica e culturalmente, como um projecto inovador. (…) Este projecto — um autêntico programa de política cultural para a música — consubstanciava a criação de estruturas, planos educativos e de apoio à prática e à vivência musical, o que era novidade em Portugal (…). As edições do Festival Gulbenkian foram um acontecimento ímpar numa realidade portuguesa desértica. Eles provocaram, naturalmente, uma sensação de novidade extraordinária, traduzida em lotações esgotadas no Coliseu dos Recreios, por exemplo. A digressão dos concertos pelo País teve um impacto comparável ao das bibliotecas itinerantes, no sentido em que ambas as iniciativas surpreenderam, em absoluto, os hábitos culturais da população. Para a sua organizadora, Madalena Perdigão, os festivais constituíam uma experiên>>
81
III
IV
V
CINQUENTA ANOS 1956-2006 FCG
II
PERSPECTIVA
I
VI
VI I
Esta decisão, por parte da entidade da qual o Centro >> cia única que a satisfazia profissionalmente, e sublinhavam ainda mais a sua autoridade no seio da Fundação, Português de Bailado sempre tinha dependido economipelos avultados orçamentos que conseguia obter. No camente, inseria-se nos projectos de actividades artísentanto o Conselho de Administração, que desde 1968 ticas regulares que a Fundação iniciara poucos anos vinha questionando a sua realização por causa dos seus antes. Foi tomada, apesar das quezílias internas, por custos elevadíssimos, decidiu acabar com esta iniciacausa da ausência de um projecto claro e do incipiente tiva, não sem ter enfrentado uma grande contestação nível de interpretação e criação do Grupo Experimennacional e a expressão de desacordo da sua directora. tal de Ballet. (...) A remodelação começou com o convite Os festivais ficaram marcados por muitos episódios, alfeito ao escocês Walter Gore, para exercer as funções guns de natureza mais pessoal, que demonstram bem de director artístico do Grupo. Com ele veio um seguno investimento e o empenho de Madalena Perdigão. do convidado, o australiano John Auld, para o cargo de Acerca de um desses episódios, Madalena conta que a “maître de ballet”. sua equipa era constituída por ela própria e três jovens O Grupo Gulbenkian de Bailado deu o seu primeiro essecretárias: “Fazíamos todas tudo, desde ir às Finanças, pectáculo a 23 de Dezembro de 1965, no Teatro Vasco para obter licença de afixação de cartazes, rever provas Santana em Lisboa, integrado na festa de Natal da na tipografia Neogravura, de madrugada, contar bilhetes e fazer assinatuA companhia foi crescendo em número de bailarinos e em cusras, acompanhar artistas em viagens tos, até ser composta, em 2005, por 52 bailarinos (incluindo os turísticas em Lisboa e arredores, etc. reformados) e custar, nesse ano, ao orçamento da Fundação Foram tempos de grande esforço Gulbenkian, três milhões de euros. Numa época em que, no e energia em que, por exemplo, fui obrigada a limpar o pó, no Coliseu panorama internacional e nacional, este perfil de companhia se dos Recreios, do piano em que Arturo estava a extinguir e dava lugar a solistas, grupos e companhias Benedetti Michelangelo ia ensaiar”. de autor, o Ballet Gulbenkian já não era nem uma companhia de Outros episódios tiveram consequênrepertório, nem de autor, e vivia uma indefinição programática cias determinantes na construção 82 óbvia e a nostalgia de uma estética passada. da aura de actualidade e de ousadia da Fundação. Um dos mais famosos aconteceu com Maurice Béjart. Convidado para particiFundação Gulbenkian. Copélia, numa versão de John par, em 1968, com a sua companhia de dança Ballet du Auld, foi a coreografia apresentada. Só um mês mais XXème Siècle, o espectáculo foi interrompido pela PIDE, tarde, a 25 de Janeiro de 1966, no Teatro Tivoli, o Grupo a polícia política do regime, quando o coreógrafo apelou inaugurou oficialmente a sua primeira temporada. O ao fim de todas as ditaduras e da guerra colonial e pediu programa era constituído por Carnaval, de Fokine, e por um minuto de silêncio em memória do recém-assassiduas obras de Walter Gore, Devoradores da Escuridão e nado Robert Kennedy. Nessa mesma noite, Maurice BéMosaico (...). jart foi expulso do País. Na sequência deste episódio, a O programa impresso deste espectáculo de estreia inFundação Calouste Gulbenkian subsidiou a criação, em cluía um texto de Walter Gore que, na verdade, estabeBruxelas, da escola de dança de Béjart, o MUDRA, da lecia um programa de intenções. No essencial, o direcqual foi, durante muitos anos, patrocinadora. Esta intertor artístico anunciava a intenção de criar um repertório nacionalização fez com que a Fundação passasse a ser para o Grupo que incluísse peças do bailado clássico solicitada para ser parceira nos projectos internacioe do bailado moderno, optando pela técnica de dança nais mais vanguardistas, o que aconteceu nalguns casos, clássica para a preparação física e artística dos bailaricomo o da fundação do Centre International d’Études nos. Tencionava ainda formar coreógrafos portugueses, Théâtrales, dirigido por Peter Brook, e a criação do criar uma escola para formar bailarinos e levar o Grupo CEMAMU (Centre de Mathématique et Automatique Muem digressões. sicales), dirigido por Xenakis. O período da direcção artística de Walter Gore durou quatro anos, terminando em Dezembro de 1969. (...) Milko BALLET GULBENKIAN 1965-2005 Sparemblek, que estivera em contacto com o Grupo Em Outubro de 1965, por proposta de Madalena Peratravés da montagem de coreografias suas — O Mandadigão, o Conselho de Administração da Fundação Carim Maravilhoso e Sinfonia da Requiem (1967) e Gravilouste Gulbenkian integrou o Grupo Experimental de tação (1970) —, foi convidado para director artístico logo Ballet do Centro Português de Bailado no seu Serviço de após a saída de Walter Gore. Apesar das suas reservas Música, criando assim o Grupo Gulbenkian de Bailado. sobre “a deficiente preparação técnica dos bailarinos
estilos para a companhia. Grand Pas-de-Quatre, na versão de Jorge Garcia, cabia no mesmo programa que Lamentos de Carlos Trincheiras, e Petruchka de Fokine era dançada imediatamente antes de Whirligogs de Lar Lubovitch. Em Janeiro de 1977, Jorge Salavisa foi convidado para “maître de ballet”. (...) Desde o início da sua actividade, Jorge Salavisa desenvolveu um plano de actividades com vista à solidificação de uma companhia de repertório moderno. Algumas das decisões que tomou seguiram a linha já iniciada por Sparemblek. Mas as suas opções implicaram também algumas rupturas. A primeira foi excluir o repertório tradicional da programação. A segunda foi a exclusão do repertório dos coreógrafos nacionais, vindos da geração do Verde-Gaio ou aparecidos no período Sparemblek. A pouco e pouco foram desaparecendo dos programas da companhia as coreografias de Carlos Fernando, Águeda Sena, Carlos Trincheiras, Armando Jorge, etc. As próprias obras de Milko Sparemblek só apareceram esparsamente, até que acabaram por desaparecer em meados da década de 80. Para as substituir, o Ballet Gulbenkian aumentou os convites a coreógrafos americanos e europeus habituados a criar coreografias para companhias de repertório moderno. (…) Foi também sob a direcção de Jorge Salavisa que os portugueses Vasco Wellenkamp e Olga Roriz se iniciaram como coreógrafos desta companhia (...). Chegada a temporada de 1985-1986, o Ballet Gulbenkian era já uma companhia estável e definida. A partir desta altura confrontou-se, de uma forma mais evidente, com a grande questão entretanto colocada às companhias de repertório internacionais, surgidas da “Modern Dance”: vocacionadas para guardarem uma certa memória da dança, como podiam elas conciliar linguagens e estilos
e um gosto orientado para os anos 20-40”, acabou por aceitar o cargo em Outubro de 1970. Com uma sólida experiência profissional como bailarino, “maître” e coreógrafo em várias companhias e teatros de ópera, pensou logo em realizar um projecto escalonado, cujo objectivo era transformar o Grupo numa companhia de dança com um perfil profissional semelhante ao de outras com que já trabalhara anteriormente. Mas, sem esquecer que esta companhia teria de encontrar uma identidade própria, que lhe permitisse distinguir-se das demais. (...). As convulsões sociais decorrentes do 25 de Abril de 1974 tiveram diversas consequências de natureza ideológica, política e laboral no seio da Fundação e do Grupo Gulbenkian de Bailado. Como se observou, a primeira foi o afastamento de Milko Sparemblek em Abril de 1975. A tentativa de popularização da companhia foi outra dessas consequências. De natureza mais ideológica, levou inclusivamente à reivindicação da Ao assumir assim para a dança [após a extinção do Ballet] uma autogestão artística da companlógica distributiva de apoios, a Fundação Gulbenkian abandona hia — a orientação artística foi assumida por uma comissão eleita a possibilidade de contribuir para a criação de um tecido espelos bailarinos, da qual faziam trutural para a cultura da dança em Portugal, nomeadamente parte o coreógrafo e ensaiador porque exclui dos apoios a criação coreográfica e a produção de Carlos Trincheiras e os bailarinos espectáculos, as duas áreas de maior fragilidade da dança em Ger Thomas e Vasco Wellenkamp Portugal e às quais nem as autarquias, nem os governos cen—, e à sua participação nas campanhas de dinamização cultural trais têm tido a capacidade financeira e política de possibilitar levadas a cabo pelo Movimento das a organização e a criação a médio e a longo prazo de uma cena Forças Armadas, dançando em fáminimamente sólida para a dança em Portugal. bricas com os bailarinos vestidos diversos, por vezes antagónicos, de outros coreógrafos, com fatos-macaco. Entretanto, a partir da temporada para outros bailarinos, e onde a “escola” prevalecia sode 1975-1976, o Grupo Gulbenkian de Bailado passou a bre “o autor”? denominar-se Ballet Gulbenkian. Nesta temporada e na Dos problemas levantados por esta questão se começam seguinte, a sua programação foi reduzida e o repertório a ressentir os espectáculos dos coreógrafos portutornou-se mais híbrido, revelando uma indefinição de >>
83
III
IV
V
CINQUENTA ANOS 1956-2006 FCG
II
PERSPECTIVA
I
VI
VI I
pos e companhias de autor, o Ballet Gulbenkian já não >> gueses mais jovens, que entretanto tinham sido convidados para criar peças para uma companhia modelada era nem uma companhia de repertório, nem de autor, e por um género de produção, criação, apresentação de vivia uma indefinição programática óbvia e a nostalgia espectáculos e preparação de bailarinos, marcadade uma estética passada. mente inspirado nas companhias de repertório do final Apesar da reflexão sobre o destino do Ballet Gulbenda década de 70. Isto fez com que alguns deles decidiskian e das propostas inclusas no documento de Jorge sem abandonar o Ballet Gulbenkian, para se dedicarem Salavisa, o Conselho de Administração manteve o perfil à criação segundo os novos modelos internacionais e, da companhia, convidando para a sua direcção Iracity principalmente, em condições de liberdade criativa, Cardoso, uma professora de dança brasileira. Iracity que a rigidez e o formato desta companhia já não perCardoso, de facto, em nada alterou a rotina da commitiam. Esta tomada de posição destes coreógrafos veio a con- O grande propósito programático da criação do CAM — que contribuir para a criação de uma Nova sistia na existência de um centro cultural que ultrapassasse o Dança Portuguesa contemporânea, nos moldes da Nova Dança Euro- âmbito de um museu — foi sendo posto em causa, desde o depeia do início da década de 90, que saparecimento de Madalena Perdigão, primeiro pela integração então surgia. (...) Um dos mais im- do ACARTE como departamento do CAMJAP e, depois, pela sua portantes contributos da direcção extinção. O que era a grande mais-valia do Centro de Arte Mode Jorge Salavisa foi a formação de derna, que realizava a contaminação dos géneros culturais, que bailarinos, feita nos cursos do Ballet Gulbenkian e que produziu, ao constituía um fórum cultural, que se apresentava como espaço longo de vários anos, um elenco de de experimentação e de criatividade, desapareceu. intérpretes portugueses de grande qualidade. (...) panhia, limitando-se a renovar parte do elenco com Jorge Salavisa deixou o Ballet Gulbenkian no final da bailarinos estrangeiros. (...) No conjunto dos coreótemporada de 1995-1996, consciente de que tinha crigrafos convidados, era desigual o valor coreográfico, a 84 ado uma companhia singular e assim contribuído para pertinência da sua presença no palco da companhia, a o desenvolvimento de um estilo de dança em Portugal. capacidade de inovar ou de aproveitar as capacidades Mas, saiu também consciente de que deixava uma comperformáticas dos bailarinos. O resultado foi uma propanhia em crise de identidade, como o confirma o texto gramação algo avulsa e, sobretudo, distante do que já de análise e o conjunto de propostas de reformas para era possível ver, não só em outras salas e companhias o Ballet Gulbenkian, feitas em 1992. Este documento e europeias, mas também em outras salas que, em Porestas propostas só se tornaram públicos anos mais tartugal, tinham começado a apresentar programações de de, em 2005, e neles passava, entre outras sugestões, a dança desde o início da década de 90. Tão-pouco deixou criação de uma associação da Companhia Nacional de marcas significativas no sentido de uma orientação inoBailado, do Ballet Gulbenkian e de uma companhia mais vadora para a companhia. (...) jovem a criar, geridas por uma administração e direcção Paulo Ribeiro chegou ao Ballet Gulbenkian mais de dez únicas dependentes do Ministério da Cultura, mas com anos depois de ter sido um dos protagonistas da Nova o apoio subsidiário da Fundação Gulbenkian. Dança Portuguesa. Começou a sua direcção segundo A companhia que Jorge Salavisa deixava, começara por o figurino de produção e de apresentação semelhante ser frágil, combinando repertórios clássicos e neo-clásao que o Serviço de Música havia definido para o Ballet sicos, passara a ser uma companhia de “Modern Dance”, Gulbenkian, praticamente desde o seu início: um fore depois uma companhia de diversos autores. mato de espectáculo modelado ainda pelas soirées das Ao mesmo tempo, foi crescendo em companhias de repertório. A impossibilidade, número de bailarinos e em custos, ou a falta de poder suficiente para autonoaté ser composta, em 2005, por 52 mizar a Dança, relativamente ao Serviço de bailarinos (incluindo os reformados) Música, situação anacrónica, do ponto de e custar, nesse ano, ao orçamento da vista artístico, no início do século XXI, e Fundação Gulbenkian, três milhões de que do ponto de vista de produção e euros. Numa época em que, no panocalendarização tornava pouco viárama internacional e nacional, este vel uma alteração na orientação perfil de companhia se estava a exartística do Ballet Gulbenkian, tinguir e dava lugar a solistas, grutornaram-se desde o início
obstáculos a qualquer mudança que, ainda que tardia, era desejável. Foi também e, fundamentalmente, à sua família coreográfica, orientada por um realismo urbano e suburbano e uma gestualidade compulsiva, que Paulo Ribeiro recorreu. Para além de si próprio como coreógrafo, foram convidados para criarem obras para a Companhia: Clara Andermatt, Gilles Jobin, Van Berkel, Rui Horta, entre outros. (…) No final da segunda temporada sob a direcção de Paulo Ribeiro, o Ballet Gulbenkian foi extinto. Em comunicado, o Conselho de Administração da Fundação informava que, analisada a situação da dança em Portugal passados quarenta anos sobre a criação da Companhia, decidia que o seu apoio a esta arte deveria seguir outras estratégias, extinguindo assim o Ballet Gulbenkian. Como medidas consideradas compensadoras desta decisão, o Serviço de Música veio anunciar meses depois, através do designado “Programa de Apoio à Dança”, a disponibilidade da Fundação para continuar a apoiar a dança em Portugal, através de um conjunto de mecanismos de incentivo à investigação, à formação e à circulação de obras. Estes apoios, embora sendo importantes, não podem ser considerados como estruturantes e estruturais para a criação e produção de um tecido cultural mais sólido, tão necessário à dança em Portugal. Porque, na verdade, as bolsas de apoio à formação são necessárias, se a posteriori os bailarinos tiverem novas obras para dançar. Como são importantes os apoios à circulação de obras nas redes internacionais. Mas, que obras poderão circular, se antes não tiverem os seus criadores as condições financeiras e estruturais para as criarem? Por outro lado, não mencionando a possibilidade de continuar a utilizar um dos melhores equipamentos para a apresentação de companhias de dança, como
é o palco do Grande Auditório, a Fundação Gulbenkian parece abandonar radicalmente, e a pretexto de uma lógica exclusivamente distributiva para a dança, um papel que teria de ser necessariamente renovador para a possibilidade da criação de espectáculos de dança em Portugal, e da fruição de obras de autores ou companhias estrangeiras. Ao assumir assim para a dança uma lógica distributiva de apoios, a Fundação Gulbenkian abandona a possibilidade de contribuir para a criação de um tecido estrutural para a cultura da dança em Portugal, nomeadamente porque exclui dos apoios a criação coreográfica e a produção de espectáculos, as duas áreas de maior fragilidade da dança em Portugal e às quais nem as autarquias, nem os governos centrais têm tido a capacidade financeira e política de possibilitar a organização e a criação a médio e a longo prazo de uma cena minimamente sólida para a dança em Portugal.
UM CENTRO DE ARTE MODERNA A 22 de Agosto de 1979, numa reunião extraordinária e urgente, que “obrigou alguns dos administradores a interromperem o seu período de férias”, ficava registado em acta que o Conselho de Administração aprovava a construção de um “Centro de Pesquisa e Divulgação nos Domínios da Arte Moderna”, porque “A ideia de a Fundação criar (construir o respectivo edifício e instalar) um Museu de Arte Moderna, não é de hoje mas data dos primórdios da Instituição”. (…) O projecto do futuro Centro de Arte Moderna, em que o presidente da Fundação investiu muito pessoalmente, não foi, contudo, pacífico. De facto, outros membros do Conselho de Administração colocaram imensas reservas, com o argumento de que um equipamento dedicado à Arte Moderna não teria sentido no “projecto Gulbenkian”. Como resposta a estas resistências, Azeredo Perdigão invocou outros argumentos, como a abertura de espírito presente nos fins estatutários da Fundação, o facto de no testamento do Fundador não haver quaisquer restrições ao investimento ou à aquisição de obras de Arte Moderna, e a necessidade de a Fundação se adaptar, por razões educativas e também estéticas, às artes contemporâneas das gerações mais novas. Vencidas as resistências iniciais, foram considerados os objectivos essenciais do Centro: “o respectivo edifício deverá O programa artístico do ACARTE é claro logo desde a sua primei- ter carácter polivalente, incluindo ra apresentação (...) . Assenta na multidisciplinaridade, prática instalações para animação cultural que Madalena Perdigão deseja que seja comum aos programas (tais como encontros de artistas, debates, espectáculos audiovisuais, educativos, pretende-se como um lugar de confluência das ‘performances’, etc.), para docuculturas populares, urbanas e suburbanas, reivindica ser uma mentação e arquivo de arte moderplataforma de internacionalismo da arte, investe no carácter na e, eventualmente, para ateliers festivo e agregador que a cultura pode propiciar, na atenção ao experimentais”. (...) novo, na formação de realizadores de filmes de animação, na Ao fim de 20 anos de existência, é inegável o reconhecimento de que formação informal, mas continuada, do público e na Educação o CAMJAP é o único museu que
pela Arte.
>>
85
III
IV
V
CINQUENTA ANOS 1956-2006 FCG
II
PERSPECTIVA
I
VI
VI I
a criação contemporânea recorrer a meios e suportes >> tem em exposição permanente uma parte substancial da arte portuguesa do século XX, para além de ter dado como o vídeo, a fotografia, o digital, que requerem moum grande contributo para a primeira revisão histórica dos novos e adequados de conservação e de exposição de nomes da nossa modernidade como Amadeo, Alnão equacionados aquando da criação do CAM. (...) mada, António Dacosta, António Areal, Menez, Pomar. Aos seus responsáveis se deve, também, a organização O ACARTE (1984-2003) de um conjunto de exposições antológicas que foram (…) Em 1983, Madalena de Azeredo Perdigão organiza fundamentais para o conhecimento da obra de alguns o primeiro Festival Internacional de Música de Lisboa, artistas portugueses contemporâneos. No entanto, que segue de perto o modelo dos Festivais de Música devemos não esquecer que o CAM se tem afastado do Gulbenkian, dos quais tinha sido directora durante 13 circuito internacional da arte contemporânea e que a edições. Porém, o seu projecto cultural é mais ambisua capacidade de co-produção internacional — o modo cioso. Não é de estranhar, portanto, que regresse ofimais eficaz para integrar o grupo dos museus que detercialmente à Fundação Calouste Gulbenkian a 7 de Maio minam a revisão da história da arte —, é praticamente de 1984, com um novo projecto que traz as marcas da nula. Por outro lado, o impacto da apresentação de um experiência do grupo de trabalho sobre as várias forartista no seu programa de exposições anuais diminuiu mas da educação artística, num contexto já substancialenormemente enquanto mais-valia, e também na Para o seu lugar de director-adjunto do CAM/ACARTE foi convidado, visibilidade, e que os poucos em 1995, o produtor Mário Carneiro. Registaram-se nesta altura alrecursos disponíveis para gumas alterações, pois a programação da sua responsabilidade pasa aquisição de obras, bem sou a integrar a programação do CAM e o seu orçamento passou a como a indefinição de uma orientação para a colecção, ser muito reduzido. Durante os anos em que programou o ACARTE, tem contribuído para a sua Mário Carneiro tentou, de forma relativamente avulsa, repor algumas desvalorização simbólica. das iniciativas começadas ainda na direcção de Madalena Perdigão (...) Finalmente, o grande e esforçou-se por recuperar a importância cultural dos Encontros 86 propósito programático da ACARTE, através de uma operação que designou como “Capitals”, em sua criação — que consistia na existência de um centro 2002. No entanto, importada sem qualquer contexto que a justificasse, cultural que ultrapassasse esta operação acabaria por não produzir qualquer renovação. o âmbito de um museu — foi sendo posto em causa, desde o desaparecimenmente diferente daquele em que tinha criado o Serviço to de Madalena Perdigão, primeiro pela integração do de Música. ACARTE como departamento do CAMJAP e, depois, pela Em Portugal vigorava agora um regime democrático sua extinção. O que era a grande mais-valia do Centro e o País estava a dois anos de entrar, de pleno direito, de Arte Moderna, que realizava a contaminação dos géna Comunidade Económica Europeia. A Fundação Calneros culturais, que constituía um fórum cultural, que ouste Gulbenkian dispunha já de um novo equipamento se apresentava como espaço de experimentação e de cultural, cujas premissas programáticas, da autoria criatividade, desapareceu. O CAMJAP vê hoje coarctada de José de Azeredo Perdigão, em muito coincidiam a sua razão inicial e fundamental para existir, sendo tãocom as perspectivas culturais e artísticas de Madalena só uma colecção de arte portuguesa do século XX e XXI. (...). É uma mulher com solidez, com energia criativa Acresce que o próprio figurino de centro cultural é ace com ambição para produzir obras e contribuir para tualmente questionado no panorama dos equipamentos a mudança cultural e artística do País, que regressa à culturais contemporâneos, sendo necessário encontrar Fundação Gulbenkian, com uma ideologia para a cultuum novo figurino que responda às expectativas que um ra e um programa em gestação. Madalena Perdigão tem equipamento, com as valências que este possui, possa consciência de que o Serviço de Música por ela criado já oferecer a Lisboa, na relação com outras cidades. Para não responde cabalmente ao novo ambiente cultural, e tanto, há que actualizar o seu programa, rever o seu à profunda contaminação dos géneros artísticos que se manifesto cultural e dotá-lo de recursos, financeiros faz sentir nas artes, no início da década de 80. Ficara e humanos, que possam cumpri-lo, numa nova época, conservador. Com uma curiosidade infinita e permanenonde a apresentação do “desconhecido”, que fundou e te, e invulgarmente informada, Madalena está ciente do justificou o CAM, deixou de ter praticamente razão de papel omnipresente do corpo na dança, no teatro e na ser. Uma chamada de atenção é devida para o facto de performance, em todo o circuito das artes, na Europa
e em Nova Iorque. (...) Empreende, assim, a criação do Serviço de Animação, Criação Artística e Educação pela Arte — ACARTE, um “fórum aberto para a discussão de problemas da cultura”. O programa artístico do ACARTE é claro logo desde a sua primeira apresentação (...). Assenta na multidisciplinaridade, prática que Madalena Perdigão deseja que seja comum aos programas educativos, pretende-se como um lugar de confluência das culturas populares, urbanas e suburbanas, reivindica ser uma plataforma de internacionalismo da arte, investe no carácter festivo e agregador que a cultura pode propiciar, na atenção ao novo, na formação de realizadores de filmes de animação, na formação informal, mas continuada, do público e na Educação pela Arte. Com um equipamento cultural preciso, um orçamento que sem nunca ter sido muito elevado foi, em várias
temporadas, reforçado pelo presidente do Conselho de Administração (que tinha o pelouro do ACARTE), um manifesto de programação e alguma organização, pode afirmar-se que Madalena Perdigão foi a primeira programadora cultural portuguesa da década de 80. Nenhuma área lhe era interdita: da dança às marionetas, do teatro ao cinema de animação, da BD à performance. Até para a música ela reservava algum espaço, ainda que “Tendo em conta a intensa actividade do Serviço de Música da Fundação Calouste Gulbenkian, o ACARTE pretende apenas preencher, nesta área, alguns espaços vazios da respectiva programação. Assim, organiza anualmente ciclos de concertos de jazz sob a designação genérica de Jazz em Agosto”. (...) Até ao Verão de 1990, isto é, no período em que Madalena Perdigão foi responsável pela sua programação, o ACARTE apresentou centenas de espectáculos de todas as artes performativas. Algumas das companhias ou grupos, quando passaram pelos espaços do CAM e do ACARTE, eram ainda pouco conhecidos, mas tornar-se-iam incontornáveis na cena mundial nas duas
décadas seguintes. Assim foi com a Companhia Rosas, de Anne Teresa de Keersmaeker, que apresentou as peças Rosas dans Rosas (Fevereiro de 1987) e Ottone Ottone (Julho de 1989), com Susanne Linke, que apresentou Solos (Janeiro de 1986), Urs Dietrich Dore Hoyer, com a peça Hommage a Dore Hoyer / Afectos Humanos (Dezembro de 1988), ou com a Stephen Petronio Company, que apresentou Close your Eyes and Think of England, Simulacruum Reels e Amnesia (1989). Para além destas, passaram várias dezenas de outras companhias, nomeadamente as que foram apresentadas durante as três edições dos seus Encontros ACARTE — Novo Teatro / Dança da Europa. Em 1985, o ACARTE investiu invulgarmente na “Exposição-Diálogo”, uma operação inédita pela sua escala, pelo investimento político por parte da Comissão Europeia, e pelo envolvimento ímpar da Fundação Calouste Gulbenkian. Esse investimento traduziu-se na coprodução de um conjunto de espectáculos e de intervenções na área da Performance. Neste contexto, apresentaram-se em Lisboa algumas referências históricas deste género artístico, bem como artistas mais recentes na cena internacional que tiveram uma acção importante na actualização e na passagem da Performance para um formato merecedor de maior investimento por parte da produção artística, e no abandono do carácter mais improvisado das primeiras acções representativas, mais efémeras e muito próximas da Body Art. Foi neste quadro que os públicos do CAM e do ACARTE puderam assistir, em Março e Junho de 1985, às intervenções de Lourdes Castro e de Manuel Zimbro, de Mauricio Kagel, de Jan Fabre, de Wolf Vostel, de Fernando Aguiar, das Percussões de Estrasburgo, de Marina Abramovic e Ulay, entre outros. O impacto destas apresentações foi desconcertante. O público revelou-se curioso e foi aderindo à medida que a programação avançava no calendário, reflectindo o confronto com uma aposta iconoclasta, que ultrapassava as histórias do modernismo português e, mesmo, da Exposição Alternativa Zero, organizada por Ernesto de Sousa, em Março de 1977. A “Exposição-Diálogo” foi, para as artes performativas e para a programação do ACARTE, a nítida legitimação do carácter de vanguarda e de experimentação criativa daquele que viria a ser inquestionavelmente um lugar de referência. Dois dos muitos espectáculos e intervenções apresentados constituem um marco histórico: >>
87
III
IV
>> um deles, pelo insólito, foi a performance-instalação intitulada Jardim das Delícias, para a qual Wolf Volstel dispusera na Sala Polivalente centenas de alfaces que deveriam servir à sua intervenção; contudo, alguns espectadores intervieram pegando nas alfaces e atirandoas uns aos outros, num episódio que ficou conhecido como “guerra das alfaces”, perante a enorme surpresa do artista, que logo interferiu, declarando ser aquela intervenção do público a prova da beleza e eficácia da sua acção. O segundo momento histórico foi a apresentação de O Poder da Loucura Teatral, do jovem flamengo Jan Fabre (então com 25 anos), no solene Grande Auditório da Fundação, que se prolongou por quatro horas e meia, sem intervalo. (...) A continuidade do património artístico contemporâneo depende da programação que, por sua vez, depende inquestionavelmente da encomenda e da produção, facto a que Madalena Perdigão deu o devido relevo, levando o ACARTE a produzir e co-produzir obras, tanto a nível internacional como nacional. Neste último caso, a produção foi decisiva para o aparecimento de novas obras de dança, de teatro e de música, entre as quais: Amor de D. Perlimpimpim com Belisa em seu Jardim, de Federico García Lorca, com encenação de Nuno Carinhas (1987); Uma Rosa de Músculos, com coreografia de Vera Mantero (1988); Jardim de Inverno, com coreografia 88 de Olga Roriz (1989); Estranhezas, com coreografia de Paula Massano (1989); Teatro de Enormidades Apenas Críveis à Luz Eléctrica, com textos de Aquilino Ribeiro e encenação de Ricardo Pais (1987); Montedemo, pelo Teatro O Bando (1987); e Heiner Müller Material Medeia / Quarteto, de Heiner Müller, com encenação de Jorge Silva Melo (1988). (...) Defensora desde sempre do internacionalismo artístico e da colaboração em festivais e organizações internacionais, para alcançar o seu objectivo de encontrar um novo instrumento que desse “uma nova imagem às actividades da Fundação Calouste Gulbenkian”, Madalena Perdigão criou os Encontros ACARTE — Novo Teatro/ Dança da Europa. (…) Os Encontros ACARTE revelam, mais uma vez, a curiosidade artística da sua criadora, o
V
CINQUENTA ANOS 1956-2006 FCG
II
PERSPECTIVA
I
VI
VI I
seu sentido de risco e a capacidade de manter contactos com as personalidades mais inovadoras internacionalmente. Os Encontros assumiram-se como projecto político de integração na diversidade artística europeia e foram, por isso, fortemente apoiados pela Comissão Europeia. (...) Nas três outras edições da responsabilidade desta mesma direcção, passaram pelos Encontros muitos dos protagonistas mais inovadores na dança e no teatro europeus: What the Body does not Remember pela Companhia Última Vez, sob a direcção de Wim Vandekeybus (1987); Canard Pequinois pela Compagnie Josef Nadj (1988); Les Louves & Pandora pelo Groupe Émile Dubois sob a direcção de Jean-Claude Gallota; Close Distance, de Harry de Witt, também em 1988. Os Encontros de 1989 abriram com a peça histórica Je ne reviendrai jamais do encenador polaco Tadeusz Kantor, director da Companhia Teater-Cricot (...) e encerraram com a presença, ainda inédita em Portugal, da coreógrafa alemã Pina Bausch, que trouxe a peça Auf dem Gebirge hat man ein Geschrei gehört. Para se perceber bem a dimensão do impacte deste acontecimento entre nós, bastará dizer que se organizaram excursões, vindas do Porto, propositadamente para assistir ao espectáculo. Os Encontros realizados em 1989 foram os últimos sob a direcção de Madalena Perdigão, que conseguiu a proeza de urdir disciplina e método de trabalho com intuição e sensibilidade de artista, ou não fosse ela própria, por formação, matemática e pianista. Madalena tinha da cultura uma visão alargada e uma actualidade única. Possuía a capacidade de conciliar uma paixão pela música erudita (em especial, Mozart) com as bandas militares ou com as músicas do mundo, em cuja apresentação foi, mais uma vez, precursora em Portugal. Dizia que gostava de ser conhecida, na sua actividade profissional, como “uma agitadora cultural”. (...) Ao assumir a direcção programática do ACARTE, José Sasportes tinha como projecto proporcionar a continuidade em relação às orientações da sua antecessora. Criou, aliás, em 1990, o Prémio ACARTE / Maria Madalena de Azeredo Perdigão, com o objectivo de distin-
guir anualmente, no campo das artes do espectáculo, 1994, em ruptura total com o Conselho de Administração o carácter inovador e a originalidade das realizações da Fundação Calouste Gulbenkian, agora presidido por artísticas de um artista português ou estrangeiro cuja António Ferrer Correia, na sequência de críticas e quescarreira se desenvolvesse em Portugal. (...) Mas não tionamentos que fez, interna e publicamente, à organideixa de ser significativo o facto de Sasportes ter apagazação e ao modo de funcionamento da Fundação. do dos Encontros ACARTE a menção “Novo Teatro / Como responder ao imperativo contemporâneo das organizações Dança da Europa”. Assim culturais como espaços e fóruns de criação artística e cultural e de se abandonava também, discussão pública e de produção de massa crítica?! Como conservar simbolicamente, uma programação que assentava a memória de cinquenta anos de actividades, o património artístico numa política cultural in- material e o imaginário colectivo sem que tudo isto seja inibidor da ternacionalista, que via criatividade contemporânea, que é no princípio deste século a grande na diversidade europeia a área de intervenção das organizações com vocação artística? sua matriz fundamental. Simultaneamente, abandonava-se ainda o carácter inovador que até então determinara a apresentação de obras nos Encontros ACARTE. Sublinhe-se que ao novo director faltava o poder simbólico e institucional de Madalena Perdigão, assim como a sua autoridade pública como programadora artística. José Sasportes continuou, ainda assim, a apostar na dança, tanto para a programação regular como para os Encontros ACARTE, e a convidar companhias e grupos, nalguns casos novos, noutros já conhecidos do público português. (…) Típico programa de um estrangeirado, propunha explicitamente uma apresentação e discussão das políticas públicas para a cultura e as artes. (...) (...) Yvette K. Centeno substituiu José Sasportes a partir Nesta altura, existia já uma situação de conflito entre de Dezembro de 1994, como directora do ACARTE. Sasportes e a Administração da Fundação. E era visível Professora universitária, sem qualquer experiência de a sua perda de importância, bem como a diminuição da programação cultural e artística e, ademais, incapaz sua capacidade de sobrevivência junto de um público de analisar e entender as transformações da criação que mal tinha conquistado. Deve dizer-se, contudo, artística e da oferta cultural de Lisboa, não conseguiu que foi da responsabilidade de José Sasportes — emcriar um programa inovador. Aliás, Yvette Centeno nada bora não fosse já director do ACARTE — um momento acrescentou à linha de programação herdada dos dois de programação notável: a apresentação, em Lisboa, de anteriores directores, acabando por conduzir o ACARTE cinco obras da coreógrafa Pina Bausch — Café Müller, para aquilo a que podemos chamar o seu total desaA Sagração da Primavera, Kontakthof, 1980: uma peça parecimento, enquanto referência internacional. Dide Pina Bausch e Viktor — nos Encontros ACARTE 94, minuído na sua capacidade de produção e perdendo no âmbito do evento “Lisboa — Capital Europeia da Culmuito público, o ACARTE ganhou uma menoridade tal tura”. (...) que justificou a sua perda de autonomia financeira e José Sasportes deixou o ACARTE no final de Julho de administrativa e a sua integração como departamento >>
89
III
IV
>> do CAM, por decisão do Conselho de Administração da Fundação, a partir de Setembro de 1999, passando a ser identificado pela sigla CAM/ACARTE. O único acontecimento relevante da autoria de Yvette Centeno foi ter aceite integrar e produzir, nos Encontros ACARTE 95, a peça António, Um Rapaz de Lisboa, encenada por Jorge 90 Silva Melo, que viria a constituir-se como uma referência na renovação do teatro português e que foi a razão de ser da criação da companhia Artistas Unidos. Com a saída de Yvette Centeno, em Agosto de 1995, foi criado o cargo de director-adjunto do CAM/ACARTE. Para o seu lugar foi convidado o produtor Mário Carneiro. Registaram-se nesta altura algumas alterações, pois a programação, embora da responsabilidade de Mário Carneiro, passou a integrar a programação do CAM e o seu orçamento passou a ser muito reduzido. Durante os anos em que programou o ACARTE, Mário Carneiro tentou, de forma relativamente avulsa, repor algumas das iniciativas começadas ainda na direcção de Madalena Perdigão e esforçou-se por recuperar a importância cultural dos Encontros ACARTE, através de uma operação que designou como “Capitals”, em 2002. No entanto, importada sem qualquer contexto que a justificasse, esta operação acabaria por não produzir qualquer renovação. A este propósito cite-se o comentário da jornalista e crítica Cristina Peres, que acompanhou os vários momentos do “Capitals”: “Concretizando, [Capitals] Ilha 3 apresenta um híbrido de dança, teatro e artes plásticas que resulta das propostas lançadas em pontos anteriores do processo. Na verdade, não é um híbrido, mas um território no qual acontecem dez dias de espectáculos, palestras, workshops, festas e cavaqueira. Se se quiser,
V
CINQUENTA ANOS 1956-2006 FCG
II
PERSPECTIVA
I
VI
VI I
é um bocadinho o contrário daquilo que os Encontros ACARTE foram nos seus primeiros anos com o subtítulo ‘Novo Teatro/Dança da Europa’”. Mário Carneiro saiu em Dezembro de 2002. O departamento CAM/ACARTE continuou, com uma existência administrativa, e realizou apenas, no ano de 2003, o Jazz em Agosto. Em Dezembro de 2003, o ACARTE foi definitivamente extinto, por determinação do Conselho de Administração, que considerou que “todo um programa inicial relacionado com práticas artísticas performativas” tinha sido desenvolvido, “que as mesmas tinham alterado o panorama nacional destas mesmas práticas, que tinha sido um modelo adoptado e desenvolvido por outras instituições, um pouco por todo o país”. A conclusão era, a seu modo, o reconhecimento do segundo programa de Política Cultural da Fundação Gulbenkian para a área das artes performativas, cinema e formação de públicos, assinado por Madalena Perdigão, e que tinha sido criado e anunciado na década de 80. E O QUE HÁ-DE VIR? É muito difícil imaginar como teria sido Portugal nos últimos cinquenta anos, se a Fundação Calouste Gulbenkian não tivesse existido. Em todos os sectores da sociedade, da economia à saúde, da educação às artes e à cultura artística, que é a matéria deste capítulo, o País, subtraído à sua actividade, seria hoje, decerto, muito diferente. Especialmente no campo das artes, que foi, em Portugal, pouco mais que desértico nos primeiros 40 anos da sua existência. E, no entanto, existe actualmente a sensação real de que, ao comemorar o seu cinquentenário, a Fundação vive uma situação de algum impasse programático: já não é o que foi durante
as primeiras décadas de actividade. Nem poderia ser. (…) Num país isolado, iletrado, vivendo num regime ditatorial, com uma guerra colonial entretanto iniciada, a Fundação Calouste Gulbenkian, graças às qualidades políticas e de administração cultural do seu primeiro presidente, constitui-se como um espaço único de apresentação, difusão e criação artística, relativamente independente, embora alguns nomes do Conselho de Administração tenham sido, de algum modo, impostos pelo Governo. (…) E se a neutralidade e o ecletismo foram as marcas que assinalaram o início qualitativo desse programa na década de 60, tornaram-se factores de vulnerabilidade em anos posteriores. (…) Durante os anos imediatamente a seguir à Revolução de 25 de Abril de 1974, a Fundação sofreu, na sua organização e modus vivendi, abalos que, em parte, colocaram em causa o seu património e a orientação programática das suas actividades; e que, entre outras consequências, provocaram o afastamento de Madalena Perdigão. Houve, nestes momentos de desvio e de alguma demagogia cultural, consequências naturais nestas situações, como os concertos e os espectáculos integrados no programa de dinamização cultural do MFA (Movimento das Forças Armadas), o plano de descentralização musical do Coro e Orquestra Gulbenkian, a edição de dois cartazes, da autoria de Maria Helena Vieira da Silva, alusivos ao 25 de Abril, para distribuição pela 5.ª Divisão do Estado-Maior das Forças Armadas, em 1975. Experiências que, com certeza, acabaram por constituir aprendizagens para todos os que nelas participaram. Mas, o mais importante que aconteceu neste processo foi a experiência da democratização da vida política e cultural, com novos públicos a frequentarem as novas actividades da Fundação. Ultrapassada a crise do petróleo de 1973, a Fundação iniciou a década de 80 tentando evitar, em termos futuros, os efeitos negativos deste tipo de acontecimento internacional e procurando diminuir as suas despesas. Nesta década, porém, verificou-se a sua consolidação como a marca de prestígio cultural que todos os governos portugueses gostavam de reclamar no estrangeiro, e que os secretários de Estado da Cultura apontavam como modelo de política cultural a imitar. (…) De facto, graças a todos estes factores, a Fundação alcançou nesta década de 80 um reconhecimento e uma dimensão internacionais. (…) Na década de 90, o país e o mundo continuam a mudar. O fenómeno da globalização torna-se visível no quotidiano nacional. Mercê da integração na
União Europeia, surgem no país novos equipamentos culturais, não só em Lisboa, mas também no Porto e em outras cidades do interior. Com estes novos equipamentos, superintendidos por uma geração conectada com os novos fenómenos da criação artística internacional e com os novos métodos de difusão e de co-produção, as actividades e os programas culturais e artísticos descentralizam-se da Fundação Gulbenkian. Esta, por seu lado, vive, no seio do Conselho de Administração, um conflito de poder (…) [que] afecta toda a organização e cria, junto do público, uma imagem de envelhecimento e de incapacidade de resposta da Fundação Calouste Gulbenkian aos novos fenómenos da cultura artística contemporânea. Dando a impressão de se ter fechado ao mundo, mais preocupada em resolver os seus dramas internos e as suas finanças, a Fundação parece não se dar conta de que está a perder públicos, influência cultural e protagonismo e revela dificuldade em lidar com as novas formas e métodos de comunicação. (…) Como já se observou, ao longo das quatro décadas da existência da Fundação Calouste Gulbenkian, Portugal e o mundo não pararam de registar importantes e significativas alterações. (...) Por outro lado, a cultura tornou-se numa área de disputa de territórios nacionais e internacionais, os aspectos económicos a ela ligados cresceram e têm hoje uma importância fulcral nas actividades dos países. A internacionalização das actividades artísticas e culturais torna-se imperativa. As tecnologias de produção e de informação alteram as formas de produção, influenciam as áreas da criação e impõem novas formas de organização no interior das instituições e são, actualmente, centrais na própria programação artística. À Fundação Gulbenkian não lhe basta ser uma grande família, tem de transformar-se numa organização com membros qualificados técnica e artisticamente actualizados; e parafraseando o Fundador, neste caso relativamente aos membros desta organização; “só os melhores devem ter acesso”, mais cosmopolitas e em consonância com o tempo actual e trabalhando para cumprir a missão e atingir os fins gerais para que foi criada, em 1956, embora necessariamente com projectos e programas que respondam ao espírito do tempo e às novas expectativas entretanto surgidas no seio das comunidades culturais e artísticas, bem mais exigentes do que outrora. Dela se espera uma cultura >>
91
III
IV
>> de organização que tenha orgulho em si e que se fundamente na criatividade e na comunicação a todos os níveis e sectores. Sabe-se que as relações desta organização com o poder político nem sempre foram suficientemente claras para reafirmar a sua autonomia. Terá havido, em certas ocasiões, tentativas de sedução e de aproveitamente do poder político. É fulcral que não se deixe seduzir, nem tenha a tentação de seduzir os governantes, sejam eles quem forem. Os seus destinatários principais e primeiros interlocutores são os vários públicos, os investigadores, os artistas, as pessoas e as organizações que podem beneficiar dos fins estatutários da Fundação Calouste Gulbenkian. No início do século XXI, o panorama das artes alterou-se com a sua contaminação, a irrupção de novas linguagens decorrentes das novas tecnologias e da criação científica contemporânea, bem como da imaterialidade de grande parte das formas de comunicação. Estes factores têm consequências no pensamento e na elaboração de uma nova cultura emergente, com dinâmicas e protagonistas novos, à escala global. Como responder a esta nova conjuntura, conservando os fins para que foi criada e o estatuto de fundação perpétua e de utilidade pública, é o grande desafio que se coloca à Fundação Calouste Gulbenkian e aos seus dirigentes, nomeadamente nas 92 áreas das artes e da cultura artística, às quais este capítulo é dedicado. Tanto mais que, apesar das mudanças entretanto operadas, o País continua frágil nas suas estruturas culturais, com desigualdades de criação e de oferta abissais e, de certo modo, muito dependente da oferta cultural exterior, enquanto os seus criadores têm dificuldade em internacionalizar-se. Como responder ao imperativo contemporâneo das organizações culturais como espaços e fóruns de criação artística e cultural e de discussão pública e de produção de massa crítica?! Como conservar a memória de cinquenta anos
V
CINQUENTA ANOS 1956-2006 FCG
II
PERSPECTIVA
I
VI
VI I
de actividades, o património artístico material e o imaginário colectivo sem que tudo isto seja inibidor da criatividade contemporânea, que é no princípio deste século a grande área de intervenção das organizações com vocação artística? Como interpretar contemporaneamente a cultura na sua busca dos novos valores intrínsecos, da sua capacidade de gerar imaginários alternativos que respondam, na prática, à desregulação do mundo de hoje, bem diferente do de 1956?! Como encarar, do ponto de vista organizacional, os novos fenómenos das cidades e do cosmopolitismo internacional, que são as identidades plurais e linguísticas, o regime de fluxos de imagens, de sons, de pessoas, sem se tornar veículo da banalização do consumo? Como se relacionar com as novas formas de criatividade das cidades e das suas redes de organizações mundiais, e não cair num isolamento e consequente perda de valor simbólico? As expectativas de poder dar as respostas que preparem as artes e os modos de cultura para o que há-de vir são, pois, muitas. E o desejo de que a Fundação Calouste Gulbenkian se possa tornar num espaço de discussão pública internacional das grandes questões actuais e protagonista da cena da cultura artística internacional reforça estas expectativas. fotografias: página 78 e 92 Orquestra Gulbenkian / DR, página 79 Mosaico de Walter Gore, página 80 O Lagarto do Ambar, página 81 Webern Opus 5 de Maurice Béjart, página 83 (do sentido dos ponteiros do relógio) Danças para uma guitarra de Vasco Wellenkamp, Deseja-se Mulher, Algumas das reacções de algumas pessoas algures no tempo ao ouvirem a notícia da vinda do Messias de Lar Lubovitch, página 84 Regresso a uma terra estranha de Jiri Kilián, página 85 Wolf Woster, página 87 (da esquerda para a direita) Sun Ra e Isolda de Olga Roriz, página 88 (da esquerda para a direita) António o Rapaz de Lisboa e Serviço ACARTE, página 90 (da esquerda para a direita) Old Children de Mats Ek e Amaramália de Vasco Wellenkamp, página 91 Regresso a uma terra estranha de Jiri Kilián.
CAMAROTE PAR
II
OPINIÃO
I
III
IV
V
VI
VI I
CAMAROTE PAR Por
André Dourado
UM PORTO PARA A EUROPA
94
Falar, hoje, de políticas culturais na Europa obriga-nos a tentar destrinçar os diferentes níveis (públicos/privados, institucionais/pessoais, comunitários/nacionais/ regionais) em que aquelas são produzidas e mais ou menos determinadas. Destes níveis, que se interligam de forma crescente – até pelas obrigações dos programas de apoios da Comunidade que exigem projectos trans-fronteiras – não será exagero dizer que se têm evidenciado cada vez mais as políticas para a cultura de cidades ou regiões, quase sempre criadas com o triplo objectivo de qualificar a vida urbana, criar ou reforçar a imagem nacional e internacional das promotoras e dinamizar os seus sectores económico e turístico. E algumas vezes até – o que é importante para o resto do articulado – pode-se dizer que correspondem a estratégias políticas pessoais dos decisores, que assim afirmam a sua liderança local e não poucas vezes as ambições nacionais. Se evitarmos referir as capitais (logo Lisboa) por nelas se concentrarem historicamente os investimentos necessários à afirmação do poder e hoje, por evolução democrática, o grosso da decisão e produção artística estatal, ao olharmos para o panorama português o Porto surge-nos como um caso raro, no qual o fulgor de alguns equipamentos culturais disfarça, mas não esconde, a total ausência de estratégia e ambição culturais por parte do poder local. Não referindo os tradicionais case studies que foram Viseu (com o Museu Grão Vasco/Dalila Rodrigues e o Teatro Viriato/Paulo Ribeiro) ou Montemor-o-Novo (Centro Coreográfico O Espaço do Tempo/Rui Horta), olhando para o presente e o Minho próximo, vemos Braga e a ambição ultra-regional que a programação do novo Theatro Circo testemunha; e para lá da fronteira, vemos Vigo, Santiago e a Corunha numa concorrência pelo título de capital cultural do Nordeste peninsular que o Porto, por falta de capacidade e liderança (a “leadership” da gestão...) da sua Câmara, abandonou completamente quando, das quatro cidades, era a que mais hipóteses e condições tinha para o ser. No Porto dos nossos dias distinguem-se duas tendências opostas, uma centrífuga e outra centrípeta, que nada parece poder conciliar. De um lado temos Serralves, o Teatro Nacional de S. João com Ricardo Pais, a Casa da Música, a arquitectura do Porto, com Siza Vieira à cabeça, que dilatam o espaço regional e o integram
internacionalmente; do outro, uma Autarquia fechada sobre si que acredita que a boa cultura são loopings, balões joaninos e alta velocidade (eventos populares porque gratuitos e não exigentes) sendo elitista, politicamente motivada e perdulária toda a outra. O corolário desta concepção foi a extinção da Culturporto e o encerramento do Teatro Rivoli – que serviu, com Isabel Alves Costa, de contraponto da autarquia ao TNSJ – com argumentos de moralização, eficiência e poupança. Mas os argumentos da poupança e da eficiência caem por terra, arrastando a moral, se pensarmos que a Culturporto foi substituída por uma PortoLazer (a alteração da nomenclatura é tout un programme) com o objectivo de “fomentar, apoiar e promover actividades lúdicas e recreativas, físicas e desportivas, bem como de animação cultural, de uma forma regular e contínua”, a que acrescem as funções culturais da Fundação Ciência e Desenvolvimento (Teatro do Campo Alegre) e os três departamentos (e seis divisões) da Direcção Municipal de Cultura. Quando lemos que a “Missão” desta é “promover e projectar a imagem da cidade reforçando a sua auto-estima, apoiar (...) a criatividade e a inovação, através da articulação entre diversos agentes e de um conceito de cultura plural e da gestão dos equipamentos culturais”, valorizar “a dimensão do Porto como cidade europeia e Património cultural da Humanidade”, e que na sua “Visão”(!) se diz que “o futuro da cidade e a melhoria da qualidade de vida das pessoas passa pela aposta na cultura, factor de desenvolvimento e de coesão social através da qualidade da oferta e do aumento do consumo e da fruição cultural”, só podemos concluir que a prática e o discurso também aqui são dissonantes. E na lista de empresas e projectos para-culturais ainda poderíamos arrolar a Porto Digital, que tem também “a preocupação com o acesso à informação, com a cultura e com o lazer”. Mais a fazer menos, portanto. As cidades investem muito na cultura para poderem exigir mais de um poder central, numa lógica multiplicadora dos efeitos culturais, sociais e económicos dessa parceria (nunca isenta de tensões). A autarquia portuense, sempre tão ciosa da sua autonomia e alternativa centralidade, revela pouca ambição e menor visão ao abandonar totalmente ao controlo do Estado central e às iniciativas que este promove com empresas e cidadãos uma área que deveria ser parte integrante, colaborante
e não conflituante, das suas políticas urbanas. Não será no fundo esta uma forma institucional e municipal da tão propalada “subsídio-dependência”* da cultura que a autarquia tão denodadamente tem tentado suprimir? Além disso, é suposto que uma cidade distinga os seus criadores e não que os rebaixe sistematicamente, os incentive e não que os desmotive, os apoie e não persiga (de resto, a melhor maneira de dar importância a quem não se quer que a tenha, mas isso vem nos livros pouco lidos). Quem soube aproveitar bem esta situação foi Gaia, durante anos um quase deserto cultural, e que soube construir uma programação cultural à custa da margem norte do Douro. Certo é que não se constroem capitalidades com mentalidade de subúrbio e programações circenses, nem uma cidade afirma um lugar na Europa de costas voltadas para a maior parte dos seus criadores e públicos culturais, até porque estes últimos serão sempre o núcleo duro à volta dos quais se podem agregam os almejados novos públicos... *Pequeno contributo gratuito – logo financeiramente correcto – para uma destrinça de monta na terminologia de alguns políticos: “subsídio” – contribuição financeira pública nas áreas da segurança social e agricultura; “apoio” – contribuição financeira pública para a cultura.
95
PERSPECTIVA
ESPECTÁCULOS PÁG.98
VI
DIAS DO JUÍZO
V
ÍNDICE
IV
VI I
PÁG.98
O MUNDO EM QUE VIVEMOS I FEEL A GREAT DESIRE TO MEET THE MASSES ONCE AGAIN - WALID RAAD Tiago Bartolomeu Costa PÁG.100
A MÁSCARA, A FACE E OS SEUS CONTORNOS BONECA - ENCENAÇÃO DE NUNO CARDOSO João Paulo Sousa PÁG.102
MINIMALISMO VERBAL
LIBRAÇÃO - AS BOAS RAPARIGAS ENCENAÇÃO DE CRISTINA CARVALHAL João Paulo Sousa
FILMES / DVD PÁG104
III
PÁG.122
II
LIVROS
I
PÁG.104
DOCLISBOA 2007 TENTATIVES DE SE DÉCRIRE, de Boris Lehman ERA PRECISO FAZER AS COISAS, de Margarida Cardoso METAMORFOSES, de Bruno Cabral OUTRAS FASES, de Jorge António ZOO, de Dan Berger KARIMA, de Clarisse Hahn MY BODY, de Margreth Olin COMPILATION, 12 INSTANTS D'AMOUR NON PARTAGÉ, de Frank Beauvais LA PUDER ET L'IMPUDEUR, de Hervé Guibert
PÁG.122
A SOMBRA DE UM FANTASMA RAUL BRANDÃO, DO TEXTO À CENA, DE RITA MARTINS Pedro Manuel PÁG.124
ENTRE TODAS AS COISAS: CERTAIN FRAGMENTS: CONTEMPORARY PERFORMANCE AND FORCED ENTERTAINMENT DE TIM ETCHELLS Tommy Nooman PÁG.128
OS FACTOS DA MEMÓRIA FEELINGS ARE FACTS: A LIFE - YVONNE RAINER Daniel Tércio
PÁG.130
YVONNE RAINER / TRISHA BROWN: DIÁLOGO
97
III
IV
V
VI
ESPECTÁCULOS
II
DIAS DO JUÍZO
I
VI I
O MUNDO EM QUE VIVEMOS I FEEL A GREAT DESIRE TO MEET THE MASSES ONCE AGAIN - WALID RAAD texto Tiago Bartolomeu Costa Recentemente, o comissário da exposição que o artista plástico brasileiro Vik Muniz apresenta no Museu da Electricidade em Lisboa, Albano da Silva Pereira, foi parado no controlo de passageiros de um aeroporto americano. Quiseram saber porque carregava ele tanta areia nas malas. Diz o comissário que esteve perto de ser preso porque as explicações não convenciam os polícias. Esta história, como tantas outras que desde o 11 de Setembro de 2001 se tornaram recorrências, é só mais um exemplo na discrepância de juízos e apreciações à vista grossa que passaram a funcionar como lei. É nestes exemplos, naquilo que poderia ser só um fait-divers alfandegário, que o libanês Walid Raad sustenta I feel a great desire to meet the masses once again, uma lecture-performance onde dá conta do intrincado processo de convencimento que também ele teve que fazer operar para justificar que não era um terrorista preparado para sabotar um avião que ia de uma cidade para outra no estado de Nova Iorque. A história do comissário da ex98
posição, como a de Walid Raad, ou outras que o libanês contará ao longo de quarenta e cinco minutos de discurso, dão conta de um mundo paranóico, preocupado mais com a forma do que com o conteúdo, discriminatório, egotista e concentracionário. O outro, o estrangeiro, é sempre aquele que é diferente, seja pela cor da pele, da sexualidade ou do local de nascimento. Para quem rege as regras do mundo não interessa se os cidadãos fazem parte integrante da comunidade. Basta-lhes uma pequena desconfiança para imediatamente lhe colocarem entraves à vida quotidiana. Histórias como a de Walid Raad há-as todos os dias. E se é verdade que o medo de um ataque terrorista passou a ser um sintoma definidor das relações entre os países, é também verdade que em nome de uma qualquer protecção se aceleraram sentimentos nacionalistas perigosos. Há poucos meses uma mulher de origem indiana, com família e vida estabelecidas em Portugal há décadas, viu-lhe ser negada a nacionalidade portuguesa porque não sabia a letra do hino nacional. E, no entanto, movem-se diplomáticos contactos ao mais alto
nível para fazer integrar um jogador de futebol brasileiro no país, porque é útil à selecção nacional. Tão útil que à primeira oportunidade Deco se transferiu do Futebol Clube do Porto para o Barcelona. As leis de imigração que o presidente francês Nicolas Sarkozy quer fazer instalar, desde a criação de um Ministério para a Imigração e Identidade Nacional à expulsão de estrangeiros doentes, recusa de entrada a membros da família ou necessidade de comprovativo genético, discriminações baseadas em fiscalizações ao pagamento de impostos, são outros exemplos da deriva autoritária e muito pouco intercultural que grassa o mundo ocidental. Aquele que se acha no centro do mundo. E, no entanto, os olhos continuam vendados para a destruição de outras regiões, como recentemente se viu com a Birmânia, ou mais frequentemente com Darfur. Através da evocação do argumentário utilizado com os polícias – todos eles identificados pelo nome e patente – Walid Raad demonstra, num sofisticado esquema em powerpoint, as contradições de um sistema de vigilância ausente de uma noção de individualismo. A Walid Raad perguntaram que fazia ele com fotografias de car-
ros explodidos, de mapas de cidades, de desenhos de aviões, de cartas a vários institutos internacionais... E até porque gostava ele se de fotografar nu em frente a edifícios que eram, curiosamente, públicos, governamentais e militares. A resposta “como qualquer artista procuro a beleza da violência” não foi suficiente. Tal como não é suficiente a um músico explicar que a temperatura do porão do avião danifica, sem retorno, um violino. Há sempre uma arma escondida porque todos os cidadãos são potenciais terroristas e/ou James Bond encartados. Raad, famoso pelo seu trabalho na reconstituição, entre a ficção e a realidade, da história recente do Líbano – o seu famoso projecto The Atlas Group é um dos mais fascinantes e paradigmáticos regeneradores do conceito de arte povera num contexto pop – não se escusa, naturalmente, à vitimização. Mas é essa vitimização que permite compreender o caminho degenerador, e perigosamente perto dos totalitarismos do século XX, que a sociedade contemporânea parece querer empreender. Walid Raad fornece um conjunto de informações sobre outros casos semelhantes, como o de Steve Kurtz, especialista em biotecnologia que, por causa de um ataque cardíaco que a mulher sofrera, se viu obrigado a chamar o 911 e, por consequência, preso por posse de bactérias ilegais que, diz ele, eram usadas para experiências laboratoriais devidamente credenciadas. Ou o do egípcio Agiza, preso na Suécia e levado para o Egipto e depois para Guantánamo onde passou meses isolado e sob forte pressão torcionária, por ter um nome igual a um terrorista procurado pelo FBI. E, ao mesmo tempo, Raad revela, não sem deixar de referir que toda a informação está disponível na Internet – o que o leva a suspeitar da facilidade do acesso – as complexas redes de branqueamento de capitais, corrupção, ligações entre agencias governamentais e empresas fictícias que sustentam um plano generalizado de ofensiva contraterrorista que promove o excesso de zelo, suscita curiosidade mórbida e permite a generalização da tortura como prática democrática. Cidadãos de primeira e de segunda num mundo democrático? O mundo não é só ficção, por muito fashionable que possa parecer brincar às dramaturgias com a realidade. I feel a great desire to meet the masses once again apresentou-se nos dias 4 e 5 de Outubro em Bruxelas, no Les Halles, no âmbito do Festival Temps d’Images e dias 13 e 14 de Outubro no Centre Pompidou, Paris, no âmbito do Festival d’Automne à Paris. Walid Raad tem patente na Culturgest, Lisboa, uma exposição intitulada
Atlas Group 1989-2004.
Publicado em colaboração com a revista Mouvement
99
III
IV
V
VI
ESPECTÁCULOS
II
DIAS DO JUÍZO
I
VI I
A MÁSCARA, A FACE E OS SEUS CONTORNOS BONECA - ENCENAÇÃO DE NUNO CARDOSO texto João Paulo Sousa fotografia Margarida Dias
100
A qualidade mais evidente da encenação de Boneca, da responsabilidade de Nuno Cardoso, é a criação de uma espécie de cenário duplo, articulando as noções de interior e de exterior, não apenas no que diz respeito à acção, mas também quanto à própria presença dos actores em palco. No centro, o espectador vê uma sala da casa da família Helmer, enquanto, em seu redor, sobra o espaço equivalente a um corredor rectangular, em cujas faixas laterais os actores se sentam quando saem de cena. Deste modo, eles nunca abandonam ver-
dadeiramente o palco, apenas cedem o espaço central e transformam-se em espectadores privilegiados da acção dramática. Talvez o efeito mais importante deste dispositivo cénico consista em aproximar o espaço da representação da ideia de uma verdadeira casa de bonecas (para utilizar o título original da peça de Henrik Ibsen, de 1879, que está na base deste espectáculo), na medida em que nos é permitido contemplar em simultâneo o lado de dentro e o de fora. A arrumação quase excessiva desse interior, a par dos gestos bem
marcados dos actores, contribui para intensificar essa noção. Por seu turno, o corredor em volta da casa permite que possamos observar ao mesmo tempo os comportamentos de personagens que se encontram em lugares diferentes da casa, como nesse momento decisivo do terceiro acto, em que Torvald Helmer (Sérgio Praia) abre e lê a carta que denuncia a mulher, enquanto ela, na sala, se angustia à espera da reacção do marido. Esta estratégia cénica desvela um olhar sobre a peça de Ibsen que potencia a dimensão de fingimento ou de representação inerente ao jogo social, em especial no caso de uma sociedade com regras comportamentais relativamente rígidas. Ao englobar quase todo o texto original, a tradução de Fernando Villas-Boas possibilita a apresentação detalhada dos conflitos entre as personagens, colocando os actores (e, naturalmente, o encenador) perante a necessidade de definir um tom que se adeqúe ao desenvolvimento dramático. No caso de Nora Helmer (Ana Brandão), a mulher que arriscou falsificar uma assinatura para, com o dinheiro assim obtido, permitir que o marido recuperasse de uma doença grave, o tom dominante é histriónico, marcado por atitudes de aparente imaturidade, de acordo com o que as outras personagens esperariam dela. Se esse registo funciona bem no decurso dos dois primeiros actos, enquanto a verdade não foi descoberta pelo marido, já a sua transposição, ainda que parcial, para o terceiro e último acto, coloca algumas problemas, em grande medida decorrentes, é certo, de contradições inerentes ao próprio texto de Ibsen. A transformação de Nora, como é sabido, decorre na mesma noite em que Rank (Peter Michael), o amigo do casal e apaixonado platónico de Nora, sabe que tem uma doença incurável e lhe resta já pouco tempo de vida, na mesma noite em que Kristine Linde (Flávia Gusmão), a amiga de Nora, se junta a Nils Krogstad (José Neves), seu antigo amante e actual chantagista de Nora, o que levará este último a abdicar dos propósitos de vingança e a devolver a nota de crédito cuja existência ameaçava a credibilidade da família Helmer. Numa sequência de lento desenvolvimento, e no contexto de uma peça que se quer aproximar da captação do quotidiano social da sua época, há uma certa inverosimilhança nesta catadupa de acontecimentos. Se é certo que é possível aproximar a acção do último acto do modelo de desenlace da tragédia clássica, embora aqui revestido de um prosaísmo que assinala a invasão realista do quotidiano na arte dramática, não deixa de ser verdade que subsiste a alteração comportamental de Nora como uma questão a resolver cuidadosamente, sob pena de se criar no espectador a sensação de que o abandono da casa é apenas um gesto irreflectido da personagem. É aqui que a persistência das marcas do registo infantil de Nora se torna problemática, uma vez que dificulta a aceitação, da parte do espectador, do amadurecimento daquela mulher, ago-
ra capaz de impor a sua vontade individual aos outros. Esta observação, que deve ser lida no âmbito de uma encenação que não se afasta do enquadramento psicologista, ainda que estruturalmente sustentada numa lógica de exposição do artificialismo das convenções sociais (de que é sinal evidente a já referida articulação entre interior e exterior), é reforçada pelo tom sempre demasiado leve e brincalhão de Rank, mesmo no momento em que deixa os cartões a anunciar a sua morte futura, e pelo contraste com o registo grave de Kristine. De certo modo, o que está aqui em causa é também a resistência da peça de Ibsen à passagem do tempo, não apenas por causa das alterações dos condicionalismos sociais que tiveram lugar desde o final do século XIX até hoje, mas sobretudo porque as personagens parecem demasiado presas à lógica de articulação entre a máscara e a face íntima de cada um. Se este ponto era claramente significativo em 1879, espera-se hoje uma definição menos precisa do que cada personagem é e do que aparenta ser, de tal modo o século passado nos fez ganhar consciência do dinamismo dessa fronteira. Boneca estreou a 18 de Outubro no Centro Cultural Vila Flor,
em Guimarães, e apresenta-se no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, de 15 Novembro a 16 Dezembro. Em 2008 mostra-se em Braga, no Theatro Circo, dias 11 e 12 Janeiro, e no Porto, no Teatro Helena Sá e Costa, de 7 a 16 de Fevereiro. 101
III
IV
MINIMALISMO VERBAL LIBRAÇÃO - AS BOAS RAPARIGAS / ENCENAÇÃO DE CRISTINA CARVALHAL
texto João Paulo Sousa Quem conhecer o percurso da companhia As Boas Raparigas há-de notar que este é um dos raros espectáculos em que a encenação não ficou a cargo do seu director artístico, Rogério de Carvalho. Em Libração, essa tarefa foi assumida por Cristina Carvalhal que, em parceria com a actriz Carla Miranda, assinou também a tradução da peça da catalã Lluïsa Cunillé. Reconfiguradas as expectativas em relação ao espectáculo, o que se nos depara é uma curiosa inversão dos domínios em que o minimalismo se faz habitualmente sentir nos trabalhos desta companhia. Se, com Rogério de Carvalho, é frequente que o palco se encontre reduzido a uma espécie de caixa negra, quase destituída de adereços e episodicamente rasgada por rigorosos feixes de luz, que abrem passagem a actores em confronto com textos longos e exigentes, agora o cenário inclui um mobiliário urbano específico, constituído por brinquedos de um parque infantil, a par de um banco, de um cesto do lixo e de um bebedouro. É tudo de ferro, gasto como se 102
V
VI
ESPECTÁCULOS
II
DIAS DO JUÍZO
I
VI I
já não tivesse uso ou fosse apenas o eco de uma infância distante, áspero como também o chão se apresenta, mas servindo para o triplo encontro nocturno, sempre à volta da meia-noite, de duas mulheres. A desolação envolvente é explicitada pela presença destes objectos, todos dotados de uma rigorosa pertinência no contexto dos diálogos estabelecidos pelas personagens. Por outro lado, é no texto que se encontra agora o minimalismo e a intensidade que caracterizam as produções de As Boas Raparigas. O despojamento verbal concretiza-se nas frases curtas, incompletas, não mais, por vezes, do que vestígios de pensamentos, em sintonia com a escassez das informações que são prestadas, ao longo de toda a peça, sobre as mulheres que ali se encontram por três noites. Os silêncios, os movimentos ensaiados e logo contidos, as expressões faciais, em suma, todos esses sinais de superfície passam a consubstanciar uma via de acesso decisiva para o conhecimento que o espectador pode compor das personagens. A ausência de referentes, mesmo de nomes, desloca a situação dramática para uma lógica arquetípica, como se as duas mulheres pudessem ser substituídas por qualquer uma das espectadoras. Uma delas tem um filho (um miúdo cujo nome próprio é precisamente Miúdo, em mais um exemplo da diluição da individualidade que a peça nos
apresenta), a outra passeia cães alheios (nunca está bem certa do sítio em que eles estão, mas recusa-se a chamá-los, por considerar ridículo o nome de, pelo menos, um deles). É também disso que falam, embora com contenção, criando zonas equívocas nas tentativas de comunicação que vão efectuando, ao mesmo tempo que os objectos lhes proporcionam situações próprias de um registo clownesco. As falas das personagens de Beckett erguem-se aqui como um pano de fundo difuso, em parte pela capacidade que também estas mulheres têm de gerar humor a partir de objectos do quotidiano, como é o caso da situação do guarda-chuva emprestado, que encrava e já não pode ser fechado. Isolar uma situação destas e amplificá-la, precisamente porque toda a atenção está aí concentrada, corresponde a identificar a dimensão de absurdo e a ausência de sentido que pontuam tantos dos nossos gestos habituais. Na verdade, o processo consiste em separar um comportamento dos restantes que poderiam enquadrá-lo, em suspender os nexos de causalidade que criavam um sentido para esse comportamento, o que se apresenta em perfeita sintonia com a ausência de referências externas das personagens. A fragmentaridade intensifica a dor das duas mulheres, muitas vezes sem recurso às falas ou, então, sem que estas sejam suficientemente esclarecedoras. Isto significa que a peça não seria capaz de produzir nem metade do seu efeito se o trabalho das duas actrizes,
Carla Miranda e Maria do Céu Ribeiro, não tivesse correspondido plenamente às exigências do espectáculo. Esse é seguramente um dos pontos fortes de Libração, dado que ambas constroem as respectivas personagens com uma segurança e um rigor notáveis. A adequação dos gestos às palavras adquire, assim, a força de uma rede em que a lógica se instaura quando percebemos retrospectivamente a relação que é possível estabelecer entre as diversas cenas. A descoberta, na terceira noite, da justificação para o barulho que, em plena escuridão, se fizera ouvir no início das duas noites anteriores é um bom exemplo dessas ligações retrospectivas. Disseminado pelas vários brinquedos que constituem o parque infantil, o movimento de oscilação de um corpo em busca do equilíbrio, indicado no título da peça, pode, então, ser visto como uma metáfora abrangente, como o indício dessa procura incessante de escapar à solidão que parece conduzir as intervenções e os gestos das personagens. Que essa tentativa está condenada ao fracasso é o que se percebe diante da parede que devolve as vozes das mulheres e as condena à presença do eco como interlocutor válido, assim as afundando numa soledade radical, destituída de qualquer esperança. Libração apresenta-se no Estúdio Latino, no Porto, até 4 de Novembro
103
III
IV
V
VI
FILMES / DVD
II
DIAS DO JUÍZO
I
VI I
104
DOCLISBOA
2007
105
PÁG.106
TENTATIVES DE SE DÉCRIRE, de Boris Lehman
PÁG.108
ERA PRECISO FAZER AS COISAS, de Margarida Cardoso
PÁG.110
METAMORFOSES, de Bruno Cabral
PÁG.112
ZOO, de Dan Berger KARIMA, de Clarisse Hahn
PÁG.114 PÁG.116
MY BODY, de Margreth Olin
PÁG.117
OUTRAS FASES, de Jorge António COMPILATION, 12 INSTANTS D'AMOUR NON PARTAGÉ, de Frank Beauvais
PÁG.118 PÁG.120
LE PUDER ET L'IMPUDER, de Hervé Guibert
TENTATIVA DA TENTATIVA DE SER. TENTATIVES DE SE DÉCRIRE, DE BORIS LEHMAN texto Emmanuel Veloso
106
IV
V
VI
DOCLISBOA
III
DIAS DO JUÍZO
II
PERSPECTIVA
I
VI I
Diz-se tentativa ao que não se consegue consumar em pleno – a prova da existência. Boris Lehman, 3 de Março de 1944, Suíça. Inicia esta filmagem em 1989. A tentativa roda sobre si mesmo atrás de uma câmara, à frente dela e em sua presença numa sala de cinema. É assim que se tenta descrever; deixando que o mundo que o rodeia o denuncie e vice-versa. Trata-se da sucessiva aproximação ao próprio pelo acumular de registos filmados que inevitavelmente definem pontos que se unem em traços guiados no tempo que formam uma narrativa que a sua vida descreve. Sabe-se que existiu porque o registo do passado é morto na continuidade da memória. Filma na obsessão de se provar, de traçar eternamente o seu contorno sujeito às mesmas leis que o tempo aplica sobre a película. “O defeito de ontem é a virtude de hoje”, enuncia. Assim, venham cortes da película intencionalmente deixados em bruto, o clap exposto, falhas de som, enfim, entregar o erro e o desgaste com legitimidade. Sem recorrer a ampliações, é-se tendencialmente isento. Forçosamente, nenhum destes movimentos confere suficiência; há que explorar a veracidade desta existência num espectro infinitamente largo de objectos condenados à memória. Do mesmo modo que as simetrias de olhar que Lehman lança nunca serão totalmente recíprocas. Confessa-se a solidão. Para contrariar a impotência e para simultaneamente a alimentar, lança-se outro e outro rasto de contacto pessoal. A tentativa é incessante. O espaço à volta é continuamente renegociado para que se entenda o seu limite e o limite que se ocupa nele. Face à confrontação com os limites penosos do corpo que é sacrificado pela imagem, “Pai, porque me abandonaste?”, há medo de intromissão por parte do espectador. É-lhe oferecida mais uma grandeza de fragilidade. Além do menos gracioso, menos imediatamente belo, é-lhe pedida coragem para receber coragem. A gradação do que se entende por verdade é continuamente posta à prova. Perfilha-se esse percurso com o cineasta. Alguém se revê nalguma unicidade, na tendência de procurar clones, de formar pontes para a compreensão de que a partir da experiência comum vem empatia, entendimento, comoção à enormidade da tentativa de abarcar o seu todo. Se duas rectas paralelas se tocam no infinito, Lehman e o seu espelho tendem para a indestinguibilidade. Como por definição se sabe que isso não é possível, o ponto de partida é algo indiferente. Enquanto se continua a criar um teorema do que é a existência, não parece haver alternativa ao espelhar da sua continuidade.
107
I
108 II III IV V
DOCLISBOA
DIAS DO JUÍZO
VI VI I
O TEATRO, ESSE FANTASMA ERA PRECISO FAZER AS COISAS DE MARGARIDA CARDOSO texto Tiago Bartolomeu Costa Como pode o cinema captar a efemeridade do teatro? E como pode esse olhar manter uma distância que lhe permita tanto fixar aqueles corpos em frágil processo de construção e, ao mesmo tempo, dar-lhes forma, revelar-lhes a alma ao pormenor porque fixando a objectivo no detalhe do momento? Era preciso fazer as coisas, de Margarida Cardoso, e De son Appartement, de Jean-Claude Rousseau (na fotografia de abertura e que será criticado na próxima OBSCENA), não são dois filmes sobre o olhar que o cinema pode ter sobre o teatro, de simples documentalista, mas dois filmes que se colocam do lado do teatro, querendo ser parte integrante dos restos que vão deixando de caber no dia-a-dia de feitura de uma peça. São filmes diferentes, muito diferentes, mas partilham desse desejo de serem mais reais que aquilo que o hiper-realismo do cinema costuma oferecer. Margarida Cardoso entra nos bastidores da encenação que Nuno Carinhas fez o ano passado para o Ensemble e a Assédio, companhias do Porto, de O Tio Vânia, peça de Tcheckov. Justamente vencedor de para me-lhor filme português no DocLisboa 2007, Era preciso fazer as coisas – que rouba o título a uma recorrente frase sobre as promessas que ficaram por cumprir e o pragmatismo da solidão, temas transversais a todas as personagens do drama tcheckoviano –, fica sempre na antecâmara do espectáculo, olhando os actores, a montagem do cenário, efabulando numa outra casa que pode ser a casa onde tudo se passa, guardando os lamentos e as vontades de cada uma daquelas pessoas num trabalho de revelação da intimidade. Identifica actores e personagens, faz confundir os pensamentos de uns com os diálogos de outros, sugere o caminho que a peça poderá tomar sem nunca revelar aquilo que vai ser. E ocupa o espaço, criando uma cena só para si na cena dos outros, rondando “a rede de afectos: a família, a casa, o tempo, as dependências todas entre as personagens”, a que Nuno Carinhas alude para falar daquela família e daqueles vizinhos que podiam ser (e querem fazer crer que são todas as noites) corpos reais de pessoas reais a dizerem que era preciso fazer as coisas. Algumas fizeram-se e outras, para usar da expressão de um deles, eram muito bonitas, mas não eram muito convincentes. O que o olhar de Margarida Cardoso registou não se vê no palco, pode até sentir-se nas interpretações, mas é quando vemos em filme que compreendemos a que é que Emília Silvestre, a Helena da história, se refere quando fala “dos momentos quando ainda nada é fixo e já se começa a cristalizar”.
109
III
IV
V
VI
DOCLISBOA
II
DIAS DO JUÍZO
I
VI I
PROCEDENDO METAMORFOSES DE BRUNO CABRAL texto Pedro Manuel
110
Alguns dos melhores textos de Kafka são marcados pela primeira frase. A metamorfose é um deles. A primeira frase assume a transformação de Gregor Samsa em insecto, durante a noite, após “sonhos inquietantes”, e todo o texto se constrói sobre esta premissa, dada como princípio. Portanto, em boa verdade, não há metamorfose, ou antes, não sabemos da transformação de Gregor Samsa em insecto mas da progressiva desumanização do insecto que na noite anterior era Gregor Samsa. Não assistimos ao princípio, a informação é-nos dada por certa, depois da transformação começar. O que conhecemos é o processo, não o princípio, nem mesmo o que teria sido o fim. Algo de semelhante caracteriza Metamorfoses. Concentrando-se no processo de criação do espectáculo A Metamorfose, de Kafka, pelo Grupo de Teatro da Crinabel, o filme regista os ensaios de forma simples e sem comentários. Essa apresentação directa aproxima o nosso olhar da intimidade do grupo de teatro, por exemplo, utilizando grandes planos. Estamos ao pé das pessoas que sussurram, no café com os amigos que se encontram, ouvimos os conselhos e os segredos, acompanhamos uma das actrizes no último dia de filmagem de uma telenovela, olhamos demoradamente para os encenadores, estamos nos bastidores no dia da estreia, e a nossa presença é sempre anónima e invisível. Esta sensação de proximidade resulta do silêncio, da simples exposição das pessoas e das situações. Daí decorre também a sensação de que o filme não constitui uma obra sobre o objecto, escapando a constituir um ponto
de vista. Desenvolve-se silenciosamente como registo. Mas, dada a particularidade do objecto – um singular grupo de teatro formado por pessoas com deficiência – o registo parece ser a opção mais descomprometida para dar a ver, por exemplo, a extraordinária generosidade dos actores. O facto de o filme tomar o nome do espectáculo, considerando-o no plural, alarga a ideia de Metamorfoses ao grupo: actores que se tornam personagens; pessoas que se transformam num processo. Não sendo tanto um documentário quanto um documento, Metamorfoses tem a vantagem de contribuir para dar visibilidade a um grupo de pessoas que não só utilizam a técnica teatral num sentido funcional como se empenham em dirigi-la num sentido artístico. E na suspensão de um princípio e fim exactos que determinassem o campo de interpretação, a zona de metamorfose, o filme encontra o seu conceito mais forte: uma visão cúmplice sobre algo que vai crescendo e se transforma, o acontecimento teatro enquanto processo, na disponibilidade e entrega dos actores da Crinabel. As cenas finais, da estreia do espectáculo e da festa que se lhe segue mostram como o mero registo, sempre numa intimidade de grandes planos, tornam visíveis uma melancolia e ternura de quem, por instantes, faz parte do grupo.
C_hY[W 9Wdjeh" :[[fWhjkh[ (&&+ Ö (Ê*)" jhWdiYh_ e ',cc fWhW 8;J7 Z_]_jWb" Yeh" i%iec Ö C_hY[W 9Wdjeh % 9ehj[i_W Ze Whj_ijW [ Oled BWcX[hj FWh_i" DelW ?ehgk[
e [ijWZe Ze CkdZe
111
- ekj Æ )& Z[p (&&- Ö \kdZW e YWbekij[ ]kbX[da_Wd 7Z[b 7XZ[ii[c[Z Ï Úd][bW <[hh[_hW Ï 9Wc_bW HeY^W Ï ;ZkWhZe IWhWX_W Ï ;h_d I[oc[d Ï @ei[f^_d[ C[Yai[f[h Ï A[bb[o MWba[h Ï CW_#J^k F[hh[j Ï C_Y^W[b HWaem_jp Ï C_deka B_c Ï C_hY[W 9Wdjeh Ï DWiWd Jkh Ï Dedji_a[b[be L[b[ae Ï FWkb 9^Wd Ï FWkbe Depeb_de Ï F_[j[h >k]e Ï HeX_d H^eZ[ Ï HeZd[o CYC_bb_Wd Ï HeiWdW FWbWpoWd Ï Hk_ JeiYWde Ï IWdj_W]e 9kYkbbk Ï I[XWij_|d : Wp CehWb[i Ï I[_\ebbW^ IWcWZ_Wd Ï I[h]_e L[]W Ï Ief^_[ H_ij[b^k[X[h Ï Ip[ Jikd] B[ed] Ï OW[b 8WhjWdW Ï Okd#<[_ @_ ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ
;nfei_ e Z[ Whj[ Yedj[cfeh~d[W Yec YkhWZeh_W Z[ 7dj d_e F_dje H_X[_he" :[XhW I_d][h [ ;ihW IWh_][Z_a zaj[c ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ Visitas guiadas com António Pinto Ribeiro 1 • 23 de Novembro, Sexta-feira, 16h30 2 • 24 de Novembro, Sábado, 16h30 Visitas guiadas com Lúcia Marques 1 • 25 de Novembro, Domingo, 15h 2 • 23 de Dezembro, Domingo, 15h 3 • 30 de Dezembro, Domingo, 15h (As visitas guiadas têm duração aproximada de 1 hora, para um limite máximo de 30 pessoas.) ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ ;Z_\ Y_e I[Z[" F_iei & [ &' • J[h W W I[njW" '&^ Æ '.^ · I|XWZe" '&^ Æ ((^ · :ec_d]e" '&^ Æ '.^ www.gulbenkian.pt/estadodomundo · estadodomundo@gulbenkian.pt · J[b$ ('- .() +(/ h( Z[i_]d
IV
POR ENTRE OS ESCOMBROS OUTRAS FASES, DE JORGE ANTÓNIO Uma dança em construção na Angola contemporânea: algumas frases a propósito de “outras frases”
textos Luísa Roubaud
112
Só mesmo uma revolução, uma circunstância excepcional, como a de um país africano nos primeiros passos na sua recém-conquistada independência, permitiria que a uma adolescente de 16 anos fosse atribuída a tarefa de dirigir a Escola de Dança do país. Nos finais dos anos 70, debatiam-se no terreno os frágeis resquícios de um legado colonial. À vontade de colocar a nova Angola no mapa-mundo, havia a resistência do novo status quo a tudo o que se conotasse a uma cultura europeia. É a história do insólito e atribulado percurso em que Ana Clara Guerra Marques se lançaria em Luanda, em 1978, que nos conta o documentário Outras Frases, realizado 2003, pelo luso-angolano Jorge António. Segue o extemporâneo itinerário da jovem professora, depois coreógrafa, num país em convulsivo processo de construção social e política, até à criação, em 1991, da Companhia de Dança Contemporânea de Angola (CDCA). As convicções e contratempos que assistiram ao projecto de desenvolver uma dança contemporânea de expressão angolana, compõem uma trajectória pessoal que também reflecte o rumo de um país em desassossegada procura de uma nova identidade. Num primeiro momento Outras Frases coloca em estado de surpresa os mais desprevenidos. Ninguém imaginaria que, por entre os escombros de uma guerra civil, num país que enfrentava toda a sorte de problemas básicos e complexas mutações da sua geografia política e humana – poucos saberão que a pacata Luanda colonial se tornou hoje numa fervilhante e caótica urbe com mais de 5 milhões da habitantes –, tal projecto pudesse existir, e ainda menos sobreviver. Percurso árduo, como o de todo o projecto pioneiro, a CDCA suscitaria acalorada polémica na sociedade luandense. Depoimentos de Luandino Vieira, José Eduardo Agualusa ou de Manuel Rui Monteiro, de artistas plásticos como Jorge Gumbe, Van ou António Ole, da coreógrafa senegalesa Irene Tassembedo, ou o dramaturgo José Mena Abrantes, entre outros, testemunham aspectos da controvérsia. Como avaliar o peso e função de uma dança cénica europeia numa cultura expressiva angolana, fortemente enraizada na vida comunitária, rural ou urbana? Como articular ambas a heranças na construção de uma angolanidade em busca de afirmação? Como obviar as tensões de uma leitura racial que as
V
VI
DOCLISBOA
III
DIAS DO JUÍZO
II
PERSPECTIVA
I
VI I
obras por vezes suscitavam, reforçadas pelo facto de Ana Clara Guerra Marques ser uma angolana branca, e de a sua concepção da dança também assumir o legado dos modelos “ocidentais”? Qual o papel dos preceitos de ensino de uma dança “académica”, da ideia de profissionalização e de “teatralização” ocidentais, em África, onde dança é uma expressão atávica? Até que ponto, mesmo os mais bem intencionados movimentos de cooperação (portugueses, cubanos, soviéticos, americanos, e depois europeus de novo), catalizam efeitos da globalização e a imposição de asfixiantes modelos neo-coloniais? Num segundo momento o documentário impele, directa ou indirectamente, à colocação de toda uma outra problemática, onde os caminhos da CDCA se imbricam em questões de natureza mais geral do mundo em que vivemos. As peças da Ana Clara trazem para cena, com subtileza, uma visão crítica das novas classes dirigentes e dos tiques dos novos estratos sociais; reflectem angústia perante absurdo e a desumanização de um quotidiano imerso numa guerra civil reatada com o fracasso do processo eleitoral de 1992; confrontam o público com o seu próprio comportamento e antecipam as suas reacções que previsivelmente as situações encenadas vão gerar. Mas o repertório da CDCA tem vindo a fundar-se de forma cada vez mais clara em procedimentos de pesquisa etnocoreográfica, e apelado a colaborações de vários artistas plásticos angolanos. A Ana Clara tem realizado importantes pesquisas na cultura expressiva de raiz tradicional, “não para a reproduzir, mas para a reinventar e projectar noutra dimensão”. Detalhes precisos das danças, desde o Carnaval luandense até às inscrições corporais de certas etnias, do poder simbólico das máscaras Tukowe às formas angulares da estatuária, os elementos são trabalhados, depurados, e depois inscritos em “outras frases” de movimento. “Através dos gestos das danças, ela saca o movimento que existe dentro das esculturas”, dizia Masongi Afonso, escultor. Neste processo revelou-se claro que, ainda que relativamente isolada e tradicional, a cultura expressiva angolana conhece mecanismos evolutivos ou de aculturação próprios. Não permanece como uma realidade romanticamente imutável. O trabalho da CDCA é, neste sentido, exemplo de como proteger a tradição passa pela sua redinamização, abrindo novas vias para o conceito de “preservação”. Seja o seu móbil catártico ou interventivo, as coreografias espelham um modo de fazer contemporâneo, e estão carregadas de alusões à dança-teatro, ao modern-jazz, ao ballet ou à dança étnica. Produzem intertextualidades que resultam em objectos híbridos que acabam
subtraindo-se às referências das quais provém. Se algumas imagens das coreografias nos remetem para a atmosfera angustiada e urbana da dança europeia, a par de algum eventual efeito de mimetismo, é possível contrapor a ideia de que, cada vez mais, as realidades urbanas, também pela força das pressão global, se têm vido a assemelhar em todos os lugares do mundo. Por onde delimitar onde começa e acaba uma herança comum? Agrade-nos ou não, tal como para economia global, nem a geografia, as fronteiras nacionais, a História, ou mesmo a língua se mantém como únicos ou principais eixos de construção identitária. Esta nova dança africana, é um peculiar barómetro das condições de vida na Africa contemporânea, das relações norte-sul e da realidade pós-colonial. Estas e “outras frases”, ficam em aberto, mas enunciam questões que, como afirmava Salman Rushdie em Imaginary Homelands (1991), são toda uma única questão existencial: Como viveremos neste mundo?
113
IV
V
VI
DOCLISBOA
III
DIAS DO JUÍZO
II
PERSPECTIVA
I
VI I
LOVE LABOUR’S LOST ZOO, DE ROBINSON DEVOR texto Tiago Bartolomeu Costa 114
Não se sabe bem o que pensar de Zoo. Nem antes de o vermos, nem durante e muito menos depois. Se somos atraídos por uma história que promete mostrar a paixão carnal de homens por cavalos – como um terrível e mortal acidente na auto-estrada do qual não conseguimos desviar o olhar e querer saber todos os pormenores –, rapidamente percebemos que o objectivo de Robinson Devor logo esclarece que aquilo que desejamos saber não é mais do que aquilo que já sabemos. Ou seja, quem tiver ido à procura do gozo pela perversão do outro não vai ver nada, saber nada, perceber nada. Zoo é sobre outra coisa: o desejo. Que aqui, simplesmente, se dirige aos cavalos. O filme é uma elegia a essa entrega sem nunca deixar perceber de que lado se coloca o realizador. Na verdade o que Zoo tem de documental são apenas os factos que o legitima, e aos quais só temos acesso pela leitura que o realizador deles faz. A notícia de que um homem fora deixado, à beira da morte, à porta de um hospital no interior dos Estados Unidos da América, com o cólon perfurado, foi o ponto de partida para um poema visual sobre o companheirismo, a sociedade estratificada e higiénica que não tolera a diferença e, sobretudo – e era isso que mais se esperava – uma recusa na defesa dos direitos dos animais. Aqui, e isso é tão estranho que incomoda e chega a repelar, os cavalos são tratados como parte integrante da “relação”. Sem o mediatismo sensacionalista que rodeou o caso em 2005, este filme ficciona os aconteci-
mentos numa fotografia feita de sombras e cores fortes, onde aquilo que ouvimos são (?) os relatos dos intervenientes. Falam-nos com uma calma, uma segurança, um quase espanto e inocência que, se não fosse trágico, emocionava. E é isso que mais incomoda em Zoo, essa normalização do acto sexual, do desejo e da busca de prazer. Vem daqueles homens um sentimento puro, de verdadeira afeição pelo animal, de absoluta entrega ao prazer, quase dionísiaco, certamente trágico. Zoo, se nos obriga a reflectir sobre o limite da perversão que “estamos dispostos a tolerar nos outros”, como se escreve nas notas de apresentação, também se apresenta como uma obra seminal para o entendimento do cinema como campo exploratório dos limites da representação. A ficcionalização dos acontecimentos, se introduz uma hipótese de distância, também hiperboliza esses acontecimentos, dando-lhes uma aura mítica, quase irreal – tão irreal quanto mais convincente é a ingenuidade dos envolvidos. Se Robinson Devor não julga, também não esconde sentir-se profundamente atraído por estas personagens. E faz-nos, para grande surpresa do mais indefensável conservadorismo, optar pelos zoófilos em vez dos outros, os moralmente correctos. Mais do que experiência cinematográfica – pela forma como introduz cambiantes subtis na multiplicidade de interpretações sugeridas pela ausência de documentos – é uma experiência sensorial que não nos deixa indiferentes. Mesmo que nos sintamos culpados pelo prazer e gozo que nos deu observar o acidente na estrada.
115
III
IV
CHAMPANHE E CAVIAR KARIMA, DE CLARISSE HAHN texto Tiago Bartolomeu Costa Karima é muitas coisas para, naturalmente, acabar a
ser só uma: o perfil de uma rapariguinha no início da idade adulta, 22 anos, que empurra a vida com a barriga para não ter que levar nada muito a sério. Fala das relações como quem leu uma enciclopédia trazida em fascículos no jornal do supermercado, arranja-se para sair como se não houvesse amanhã ou, pelo contrário, tudo pudesse começar hoje. Mas no final, depois de a vermos tranquila a comer enquanto comenta as suas performances de dominatrix, frágil por não saber exactamente se quer ser vista como dominadora ou dominada, embrulhando-se em desculpas e autoritarismos algo vácuos, ou rapariga que segue a moda que acha que alguém que não quisesse ser como ela deveria seguir, nada disto interessa. É a imagem do seu irmão, do tamanho de um Obélix em forma de peluche do tamanho de um bebé, que mais recordamos. Aquela criança que está acordada até tarde fascinada pela irmã mais velha, 116
V
VI
DOCLISBOA
II
DIAS DO JUÍZO
I
VI I
cujos sapatos de salto são maiores que as suas duas pernas juntas, e o soutien de pele lhe serve de camisola, é a coisa mais genuína neste documentário bigbrotheriano que para querer parecer ousado não se escusa a mostrar as sessões de urologia e escatologia (champanhe e caviar, como lhe chama) que Karima, dominatrix amadora – não se profissionaliza porque quer ter outra vida e entretanto espera –, faz com os seus escravos. Particularmente Jean-Marc que gosta de ser penetrado com velas – cinco, acesas, mais uma na boca –, e queria era poder beber até à última gota a urina da mestra e a seguir penetrá-la. Mas não pode, porque ela não quer ser manipulada – foi por isso que nunca arranjou um emprego, dá-se mal com as ordens dos outros –, e por isso faz aquilo que ela mais gosta: comportar-se como um cão e ejacular nas botas de couro e cano alto que ela tanto estima. Diz que só quando eles perderam a excitação é que faz sentido pedir-lhes para se cobrirem do seu próprio esperma. Só assim eles saberão quem manda. Karima recebe os seus escravos numa cave forrada a tijoleira, e as sessões são frequentemente interrompidas pelo cão. Normalmente esses escravos são gays que têm problemas de exposição em frente a outros homens e preferem ser maltratados por mulheres, ou trazem dildos num saco de plástico da loja de decoração Casa. Eles obedecem aos seus desejos da mesma forma que ela se entrega nos braços de Séverine, a amante que melhor a conhece. O seu mundo está cheio de regras e paradoxos. Se verificar que o escravo “está sujo”, obrigao a comer as suas fezes. Diz que é uma falta de respeito para com a pessoa que ela é. Diz ainda que “para se ser verdadeiramente escravo é preciso conhecer-se os cheiros da sua mestra. Os pés, o sexo, o rabo. Todos”, mas ela não penetra com a mão um rabo que não conheça. “Meto um dildo”, diz naturalmente. Há em todo o filme uma surpreendente abertura, quase incómoda porque real. Quem gosta de ser penetrado com o punho mostra-o porquê, sem pudores. Este é um documentário de tal cumplicidade que a própria realizadora, para perceber de que se fala quando se fala de dominar o outro, autoriza que os seus dedos do pé sejam chupados por um dos clientes de Karima. Nunca se chega a saber se Clarisse Hahn mostra a crueza da vida de Karima porque a quer confrontar com o vazio – assumido aliás pela própria rapariga – dessa mesma vida ou penetrar (o termo é tão mas tão adequado) realmente no duplo, triplo, exponencial jogo de ilusões e ficção que Karima usa para sobreviver. Seja o que for – e por mais estimulante que seja a criação de uma meta-teoria sobre a dimensão performática daquilo que convencionalmente se entendeu estar na margem da vida –, Karima, o documentário, é tão aborrecido quanto o modo como Karima, a dominatrix, fala da sua vida.
HOME MOVIE MY BODY, DE MARGRETH OLIN texto Pedro Manuel O corpo começa com cinco anos, ou antes, a história começa aos cinco anos, ou melhor, Margreth ganha consciência do seu corpo aos cinco anos. Falar da história pessoal através do corpo mudo, emprestar-lhe palavras, ou antes, imagens. A biografia como exemplo mínimo de documentário, ou antes, o modelo da história no exercício de contar uma estória. Narrar por imagens, ou antes, organizar imagens numa sequência. A linha temática da sequência é o corpo da narradora. A linha temporal é a da vida da narradora. E esse tempo devolve os documentos à história, ou antes, à sua possibilidade de ficção. Estes são os pressupostos comuns de My Body, sobre os quais evolui a variação pessoal de Margreth Olin: o corpo como material de documentação. O filme expõe a história pessoal do seu corpo, como é sentido, como é visto, como adoece e se transforma e é a exposição que importa, não apenas a sua apresentação, como se de um objecto se tratasse. É um corpo vivo, habitado por uma consciência do corpo que se esconde e, ao mesmo tempo, deseja dar-se a ver. A história do corpo de Margreth é contada na primeira pessoa e ilustrada por fotografias e vídeos. Se a montagem tende a constituir uma narrativa, em torno de um corpo como objecto de ficção, é também uma revelação. O filme constitui um caminho para a exposição do corpo nu, completo. Da infância ao fim do filme aparecem doenças, manias, complexas e descobertas. Começamos por ver partes do corpo: barriga encolhida, pés e pernas tortas, as orelhas, os dentes, a garganta. Estes são os pontos de maior sensibilidade, de maior consciência, isto é, os mais
visíveis. E neste mostrar, neste dar-a-ver, entramos na superfície de um corpo. Essa aproximação implica que o corpo de Margreth se possa tornar o nosso corpo de projecção, de reconhecimento dos nossos pontos sensíveis. O corpo documentado do outro, o corpo biografado do outro torna-se uma superfície de projecção. A sensibilidade da pele, o corpo que fala de si próprio com a sua voz será uma primeira abordagem ao objecto. Depois, vem o olhar exterior, que extrema a superficialidade do primeiro nível e o limita. Margreth e os outros, o seu corpo determinado pelo dos outros: por um lado a influência das mulheres na consciência do corpo: uma amiga diz-lhe para encolher a barriga, a mãe diz-lhe que tem os pés tortos, depois também o pescoço e os dentes são cobertos pelos complexos. Já os homens, que podiam ser os maiores críticos do corpo feminino, são retratados aqui como aqueles com quem se lança o corpo numa continuidade: o amor, o afecto, o prazer. O sexo é uma primeira forma de superação dos problemas de aparência, pela afectividade, mas é a gravidez que finaliza a reconciliação de Margreth com o seu corpo. É o espanto pela capacidade de um corpo nascer de outro, de si própria, que revela o corpo activo, interior e íntimo. A filha torna-se um prolongamento do corpo da mãe, potenciando a afectividade e reconciliando-a com o seu corpo e com a imagem/consciência de si própria. No final, é o novo corpo que aparece, que é visível, é o corpo da criança como memória do corpo da mãe e, ao mesmo tempo, corpo independente, futuro corpo de projecção. O que é ainda interessante em My body é o de ser um mosaico de imagens domésticas de diferentes qualidades. Num trabalho sobre a exposição do corpo, essa estética home movie coloca o espectador como voyeur implicando o nosso olhar, tornando-o cúmplice da intimidade, do erotismo e da descoberta.
117
IV
V
VI
DOCLISBOA
III
DIAS DO JUÍZO
II
PERSPECTIVA
I
VI I
I FELL IN LOVE WITH A DEAD BOY COMPILATION, 12 INSTANTS D’AMOUR NON PARTAGÉ, DE FRANK BEAUVAIS SUNSHINE, DE JAKE YUZNA
texto Tiago Bartolomeu Costa
118
Lisboa tornou-se, ao fim de alguns anos, numa cidade capaz de alojar diferentes manifestações cinematográficas que, embora sirvam de alternativa ao mercado comercial nacional, também compartimentam filmes que, seja pela forma ou conteúdo, tanto dá serem apresentados no IndieLisboa, no QueerLisboa ou no DocLisboa. Os três festivais, se provam tanto da imaginação classificativa dos programadores como do interesse do público – a maior parte transversal –, mostram também que há filmes que não se encerram nos limites das mostras que os exibem. O caso de Compilation, 12 instants d’amour non partagé, de Frank Beauvais (na foto) e Sunshine, de Jake Yuzna são exemplo dessa busca de um meio para rasgar as convenções da narrativa e da definição. O primeiro, que passou no DocLisboa depois de vencer o prémio de melhor ficção internacional no 15º Festival de Vila do Conde, mostra-nos, descarnadamente, a obsessão do realizador por Arno, jovem efebo a quem se dedica através de doze canções que definirão o jogo de gato e rato onde aceitam entrar. O segundo, mostrado no QueerLisboa em Setembro, é uma ficção-documentário, sobre o actor Ben Fredrikson, que primeiro vemos a receber a urina de um estranho, depois a ser penetrado por outro estranho num andar vazio, a seguir a ser espancado por um terceiro num parque de estacionamento, por fim a desejar um colega do serviço de limpezas de um hospital. São ambos filmes que apontam directamente para uma reflexão sobre o desejo, a posse e a conquista, não apresentando, em termos de conteúdo, qualquer novidade relativa às formas como esse mesmo desejo tem vindo a ser descrito na criação contemporânea. É nos comportamentos de excesso – ou que a norma instituiu como excessivos – que se encontra a matéria-prima mais estimulante e são esses excessos que interessa reter. É, por isso, nas opções que constroem os filmes que reside a importância das obras.
As canções que Frank Beauvais escolheu – que vão de Leonard Cohen aos Talking Heads, de uma versão de Over the Rainbow por uma criança esforçada, a Anne Sylvestre - provocam certas reacções em Arno Kononow, da apatia ao desprendimento, da melancolia à irritabilidade e, claro, à consciência do acto de Beauvais – concentram o total dos diálogos do filme. Beauvais, provando que é sobre ele o filme, mais do que ser sobre o inacessível Arno, coloca a câmara – o seu olhar – na pele de Arno que, por vezes reagindo com um sorriso entesuante, outras vezes gelando a objectiva segue, sempre ligeiro, nas palavras que Beauvais escolheu para comunicar. Objecto estranho, quanto estranhas são as razões que levam alguém a obcecar-nos, Compilations… é ainda, mais do que uma declaração de amor, um estudo sobre a impossibilidade de um diálogo e uma exposição auto-biográfica onde Beauvais, através das letras e dos enquadramentos – sempre cerrados no rosto negligente de Arno que fuma cigarro atrás de cigarro como só os franceses fumam como se estivessem no mais erótico dos actos – se revela como uma espécie de cineasta flaubertiano. Radicalmente oposto, e ao optar por encenar, reproduzir ou retratar a vida de Fredrikson sem adiantar de que registo se trata, Sunshine transporta consigo uma negritude esperançosa. Fredrikson acredita na entrega total, sujeitando-se, não sem ter prazer, aos desejos de um outro. Breve, brevíssimo filme (8 minutos), Sunshine traz ao de cima, tal como Compilations…, essa errância sentimental, que se julga contemporânea mas está, no fundo, na génese de qualquer corpo. E, por isso, deitado na banheira a receber a urina de um anónimo, é como se o corpo de Fredrikson renascesse na humilhação. Tal como Beauvais acredita que Arno vai ceder na próxima canção. O título desta crítica é de uma canção de Antony & the Johnsons.
119
III
O RUMOR LA PUDEUR ET L’IMPUDER, DE HERVÉ GUIBERT texto Tiago Manaia
120
IV
V
VI
DOCLISBOA
II
DIAS DO JUÍZO
I
VI I
Tenho 29 anos. Sou da geração que cresceu acompanhada pelo fantasma da sida. Nunca dissociámos experiências sexuais de um preservativo, falaram-nos de protecção e medo, avançámos no sexo com dúvidas, baralhados mas avançámos. Falou-se sempre do fantasma, mas a nossa geração não assistiu em directo ao princípio da epidemia, ouvíamos relatos que pareciam historias, estávamos protegidos na infância. Depois soubemos de sobreviventes. Sabemos que sobrevivem melhor sem que nos tenham contado, imaginamos o resto. Já ninguém morria de sida durante a minha adolescência, porque ninguém morre de sida, camuflou-se a doença em outras causas de morte, e sida foi passando de doença fantasma para rumor e de rumor para um segredo bem guardado. Uma lenda? Uma história dos anos oitenta. Nas artes o vírus adormeceu. No início dos anos noventa, multiplicavam-se relatos de agonia, vinham de todos os lados. Bill T. Jones dançava em memória do companheiro desaparecido, Arnie Zane, Still Here, Keith Haring dava a cara nas artes plásticas, Cyril Collard no cinema francês com Nuits fauves e Michael Cunningham, Com Uma Casa No Fim Do
Mundo, na literatura norte-americana relatavam vidas
abaladas. Alguns desapareceram, outros continuam, exploram menos o tema. A sida foi esquecida, a minha geração começa a esquecer. Em França Hervé Guibert foi frontal perante a doença, viu morrer o filósofo Michel Foucault em 1988 e dois anos depois publicava A l’ ami qui ne m’a pas sauvé la vie. A agonia de Foucault era descrita por Guibert, também seropositivo, que imaginava a morte através de Foucault – “descobria (...) que era uma doença que nos dava tempo para morrer, e que dava a morte tempo de viver, tempo para descobrir o tempo e descobrir por fim a vida, era uma espécie de invenção moderna que nos tinham transmitido aqueles macaquinhos verdes de África” – dizia Guibert ao Le Monde em 1990. Hervé Guibert morreu em Dezembro de 1991, filmouse nos últimos meses de vida, filmou o mundo a volta dele. A auto-ficção que se revelara perturbadora ao longo de toda a sua obra escrita também esta presente no documentário La pudeur et l’impudeur, feito para a TF1 nesse ano. Brincar, provocar o espectador com sentimentos de pena, questionar o suicídio e as tias que à volta dele se preparam para partir, elas morriam de outra morte.
Guibert questionava-as com suicídio, mostrava-nos o corpo magro. Tinha uma encenação para a morte dele. “A sida permitiu-me radicalizar ainda mais certos sistemas de narração, a relação com a verdade, brincar comigo próprio, ir alem daquilo que era possível”. Hervé Guibert lembra no final do documentário que é preciso viver as coisas uma primeira vez antes de as poder filmar para vídeo. Assistíamos assim a momentos ensaiados, ou a momentos vividos tornados modo de vida. A realidade rumor passou a ser um segredo contado, por fim. Mas este segredo já tem tantos anos, quem é que ainda se lembra dele? Em criança surpreendi uma conversa de adultos onde se descrevia a morte de uma actor americano, o Rock Hudson. Foi ali que ouvi a palavra pela primeira vez. Sida. Na altura imaginei demasiados beijos, imaginei um actor a entrar em demasiadas vidas, enganava-me. Afinal os actores não são assim tão beijados e o fantasma não se passava através de beijos, mas só vim a saber disso mais tarde. Na noite em que ouvi aquela conversa imaginei um destino magnífico para o actor, ele ia passar a ser o meu herói. 121
III
IV
V
VI
LIVROS
II
DIAS DO JUÍZO
I
VI I
A SOMBRA DE UM FANTASMA RAUL BRANDÃO, DO TEXTO À CENA, DE RITA MARTINS texto Pedro Manuel
Dando visibilidade a um trabalho académico, a edição de uma obra crítica sobre um dos mais importantes escritores portugueses do século XX vem contribuir duplamente, enquanto obra crítica no contexto dos estudos de teatro, e como trabalho de análise dramatúrgica e histórica sobre Raul Brandão. Em Portugal, os textos críticos sobre artes performativas, são raros, desenraizados e sem grande influência na prática artística. Alguns dos mais importantes textos-base estão ainda por
publicar. Impedidos de crescer, por falta de contexto(s), as obras não aparecem, os autores não amadurecem o seu pensamento, e a ignorância – mais que a divisão – entre quem pensa e quem faz aprofunda-se, resultando para ambos uma mediania morna. Contra esse sentido tem vindo a trabalhar o Centro de Estudos de Teatro, contexto desta obra sobre Raul Brandão: na forma como é orientado o estudo em torno de um autor português, no cuidado com a fundamentação histórica e a análise comparada da documentação, desenvolvendo criticamente as causas e efeitos, neste caso os textos e espectáculos. Tomando o texto dramático O Gebo e a Sombra (1923) como fio condutor, Rita Martins desdobra-o enquanto obra dramatúrgica, tendendo à cena, e enquanto obra cénica, dividindo a análise entre A dramaturgia brandoniana e O Gebo e a Sombra em cena. Esta estrutura é extremamente eficaz na medida em que dá continuidade à tendência do próprio texto, desdobrando pontos de vista sobre o mesmo objecto (o do autor, os dos encenadores), ou pela forma como convoca uma série de artistas e episódios históricos que ajudam a fixar a memória da prática teatral portuguesa. Por outro lado, abre a análise do texto dramático à sua vocação cénica, assumindo a distinção entre literatura e teatro – essencial na análise de qualquer dramaturgo – portanto, dando o passo lógico de analisar algumas encenações de O Gebo e a Sombra. A escolha de três novos autores do texto é determinada por critérios cronológicos e estéticos. As encenações escolhidas são as de Ernesto de Sousa, no Teatro Experimental do Porto, de Rogério Paulo, no Teatro Nacional D. Maria II e de Carlos Otero no Teatro de Animação de Setúbal. Através da sequência cronológica conseguimos intuir as mudanças estéticas de cada época e os objectivos artísticos de cada encenador e, sobretudo, há o prazer pelo biográfico: os percursos pessoais, as afinidades e relações de influência que confluíram na criação dos espectáculos. Por outro lado, o critério de análise estética dos espectáculos consegue devolver as perspectivas que guiaram as opções artísticas de cada encenador: o expressionismo de Ernesto de Sousa em função da visão existencialista sobre a condição humana (1966); a leitura política de Rogério Paulo, na sua quarta abordagem do texto, tomando o grito do Gebo como um grito de revolta (1985); e o naturalismo da adaptação de Carlos Otero, numa encenação literal do texto (1997). O mais interessante deste conjunto de análises é, sem dúvida, o exercício de análise de espectáculos que é feito
sobre a documentação que, sem se ter experienciado o espectáculo, permite uma reconstituição, um simulacro dos objectivos, processos e resultados. Usam-se os programas dos espectáculos, notícias de jornal, críticas de teatro, imagens, testemunhos, como linhas paralelas ou contraditórias de informação. Essa abordagem permite, por exemplo, perceber como as três encenações escolhidas sempre pecaram por um desequilíbrio estrutural, marcadas pela inadequação de registos, alternando entre o real e o irreal. Mas, ao lermos a análise da dramaturgia de Raul Brandão, compreendemos também que a escolha do texto-base tenha sido determinada precisamente por isso. Algures entre O Doido e a Morte e O Avejão (peça chave do simbolismo em Portugal), O Gebo e a Sombra alterna entre diferentes linguagens teatrais, e será esse mesmo desequilíbrio estrutural do texto que se repetirá, como eco ou réplica, nas encenações do texto. Tendo esse texto como exemplo, desenvolve-se uma abordagem dos temas e técnicas de Raul Brandão na sua escrita dramatúrgica e na sua visão teatral. Concentrando-se nas personagens e didascálias, conseguem-se desenvolver e fundamentar conceitos muito interessantes: o sentimento de ser outro (eu-social; eu-profundo) manifesta-se através de monólogos interiores ou diálogos delirantes, materializa-se em imagens sombrias e densas, e as personagens são constantemente ameaçadas por figuras de alteridade, as sombras, o fantasma. Como exercício de ser outro, o palco torna-se o lugar mais adequado para os desdobramentos de Raul Brandão. O único ponto menos conseguido é a forma algo desequilibrada como, na análise dramatúrgica, se cruzam referências filosóficas e literárias, aquelas nem sempre desenvolvidas, como Nietzsche, Ricoeur, Bergson, Foucault, enquanto os paralelismos literários podiam ter sido mais explorados, sobretudo Camus, Ibsen ou Tolstoi. Teria sido importante também comparar a noção de trágico quotidiano de Maeterlinck, o metateatro de Pirandello ou outras manifestações simbolistas portuguesas, como O Marinheiro de Fernando Pessoa. Mas as analogias com outros autores, Marinetti, Maeterlinck, as vanguardas, Artaud, Camus, são justas e contribuem para reconhecer Raul Brandão como um escritor que intuiu os problemas estéticos do seu tempo e do seu local, assumindo a experimentação, reagindo ao marasmo com vida e delírio (edição Imprensa Nacional-Casa da Moeda).
123
III
IV
V
VI
LIVROS
II
DIAS DO JUÍZO
I
VI I
ENTRE TODAS AS COISAS: CERTAIN FRAGMENTS: CONTEMPORARY PERFORMANCE AND FORCED ENTERTAINMENT DE TIM ETCHELLS
texto Tommy Noonan
124
DISPERSÃO:
INCOMPLETUDE:
É costume dizer-se que quando o poeta argentino Jorge Luis Borges dava as suas leituras sobre poesia, começava a falar sobre xadrez, por exemplo, ou ainda sobre o sabor do café em Buenos Aires. A seguir poderia mudar para Espinosa e depois para a utilização do vermelho em Goya, eventualmente fugindo para um sonho que poderia ter tido com uma caravela holandesa. Falando melodicamente pela sua voz aguda e marcada pela respiração, Borges poderia, por vezes, evitar inteiramente o tema da poesia em si. Por outro lado, todos os outros fragmentos da sua leitura – uma colagem de ficções, referências, analogias, anedotas e memórias –, construíam uma espécie de labirinto em si. À medida que o público de Borges esperava finalmente para ouvi-lo falar sobre a arte do verso, as suas várias digressões e dispersões textuais espalhavam-se, tocando em assuntos cada vez mais diversos, até que o seu discurso terminasse abruptamente. Para os que tinham esperado que ele falasse sobre poesia, Borges tinha-lhes dado algo mais. Em vez de falar sobre isso, Borges tinha guiado o seu público por todo um mundo de texto, no qual realidade e ficção tinham colidido. Dentro deste acto errante, sempre circunscrevendo qualquer ponto central, Borges despia cada fragmento perante os outros, revelando, entre as fissuras da sua colagem, a arte da poesia.
A certa altura no seu livro, Etchells fala de um fotógrafo que vem assistir a um ensaio de Forced Entertainment e que decide tirar fotografias durante a acção, atirando a câmara para dentro desse espaço e dando pouca atenção à composição – apenas fotografando à vontade. Esta decisão de fotografar sem olhar pela objectiva da câmara não é tanto um procedimento de composição acidental como é um acto claro de enquadramento, de violência e de implicação. Etchells descreve estas fotografias não tanto como documentando mas sim buscando um acontecimento – sempre em perseguição e sempre numa posição de perda. Este acto de violência contém ligações tanto ao texto de Etchells como ao trabalho de Forced Entertainment, na medida em que toda
INTERTEXTUALIDADE: Estou neste momento sentado na esplanada de um café no Sul da Alemanha, debaixo de um céu azul, a ler
Certain Fragments: Contemporary Performance and Forced Entertainment de Tim Etchells. O meu processo
de escrita destas notas não ocorre num tempo posterior à leitura do(s) texto(s) de Etchells – faz-se, em vez disso, neste momento, lado a lado – duas narrativas paralelas e agitadas. No momento em que escrevo, li três quartos do total do livro e as minhas ideias começam a divergir. Projecto no futuro o que eu imagino serem as suas palavras nas últimas cinquenta páginas, e isso afecta a minha escrita neste momento. O que eu escrevo tornase infectado. Contém respostas reais, mas também projecções, memórias, rasgos de inspiração, associações com outros textos, e a ficção de imaginar que o trabalho de outra pessoa é de facto o nosso.
a documentação ou acto artístico irá sempre conter uma violência da exclusão. Embora esta violência seja central para o trabalho do teatro, esta encontra-se muitas vezes escondida. Tal como a câmara que busca, o texto de Etchells é também uma fotografia tirada de dentro. A sua decisão de escrever sobre performance (ou sobre a realidade, já agora) está também inserida no mesmo acto desesperado e arbitrário de tirar uma fotografia desenquadrada, desfocada e ilegível. A fotografia é inútil, mas a tentativa violenta e falhada de alcançar uma totalidade implica muito mais – tudo o que é excluído desse enquadramento particular, tudo o que não aparece. Tanto Etchells como Forced Entertainment exigem-nos sentir a clareza desta ausência no seu enquadramento, assim como o poltergeist que assombra o trabalho que daí resulta. FRAGMENTOS: O crítico e filósofo alemão Walter Benjamin escreveu uma vez sobre os seus próprios métodos em arquitectura em Das Passagen-Werk (The Arcades Project) – um trabalho de enormes proporções destinado a traçar a história de Paris no século XIX, juntando diferentes fragmentos literários: Método deste projecto: montagem literária. Não preciso dizer nada. Apenas mostrar. Não irei (roubar formal)
objectos de valor ou apropriar-me de formulações engenhosas. Mas os trapos, a recusa – não os enumerarei mas sim deixarei, na única forma possível, que se resumam a eles próprios: fazendo uso deles.1 Na edificação de teatros (e na escrita de textos), uma estrutura é colocada por cima de uma parte da realidade – sobreposta sobre fragmentos do que já existe. Nestes casos, a pergunta-chave não será: “o que escolhemos para pôr neste teatro?” mas sim “escolhemos pôr este teatro à volta do quê?” PERGUNTA: Neste Verão actuei numa peça conjunta em Wroclaw, na Polónia. O trabalho era baseado em Endgame de Sam Beckett, envolvendo-me a mim e um designer de palco chamado Carl, tentando traçar a história de nós os dois – uma que vivesse algures entre as nossas vidas reais e as nossas personagens ficcionadas. Em quatro horas e num sótão poeirento, ensaiámos material, esquecemo-nos dele, tentámo-nos reinventar a nós e à nossa relação, morremos, explicámos as razões para estarmos vivos e as razões para estarmos em palco, voltámos atrás à procura do nosso material e morremos de novo. Demos grande atenção à maneira como terminaríamos tudo. Isto porque, tirando o acordo mútuo de acabarmos à meia-noite, nunca tocámos o assunto de como >>
Images: The World In Pictures (2007)
125
III
IV
>> encontraríamos um fim para o espectáculo nos nossos ensaios. Quando chegava a altura de actuar, só tínhamos material para uma hora, mas decidíamos ficar em palco durante quatro horas – uma tentativa de verdadeiro suicídio teatral, sustentados pela nossa curiosidade do que aconteceria depois das horas em que todas as nossas possibilidades se tivessem esgotado. À medida que o espectáculo entrava na quarta hora, começávamos a lutar com o problema da conclusão. A peça, sendo baseada em Endgame, apresentava uma certa precipitação a esse respeito. A dez minutos do limite agendado para a meia-noite, e com talvez sessenta pessoas na sala a sobrarem do público e ainda sem qualquer pista sobre para onde tudo estaria a ser levado, saí inexplicavelmente do palco e sentei-me no meio do público para fumar um cigarro. Senti de repente que esse momento seria tão bom como qualquer outro para acabar. O Carl ficou estranhamente sozinho para lidar com a minha acção, atingido pela violência de uma escolha repentina, mal pensada e supremamente insatisfatória. Até hoje posso dizer honestamente que ainda não tenho nenhuma boa razão para ter tomado aquela decisão – ainda a defendo e vejo-a como uma escolha perfeitamente apropriada para a nossa situação, mas veio sem consenso e como que uma traição total na nossa colab126 oração até à altura. O Carl permaneceu em palco até à meia-noite, guardando silenciosamente o que restava da nossa noite, enquanto que o público dispersava-se de forma incerta antes que a maior parte saísse porta fora. Mas antes de saírem todos, o Carl confrontou-me e começámos a discutir sobre o que eu tinha acabado de fazer. Os últimos membros do público pareciam inseguros sobre se a nossa discussão era, na verdade, o fim do nosso espectáculo, ou se seriam apenas voyeurs de uma ruptura privada entre dois amigos. Também eu estou incerto sobre qual deles se tratava.2 COLISÃO: Num dado capítulo, Etchells fala sobre o fazer e o não fazer em teatro – de interpretar e ver – o mesmo lugar onde a arte é e também não é. Fala sobre eventos reais e fictícios que se colidem juntos; os espaços existentes entre cada secção do seu livro são onde tais colisões indigestíveis ocorrem. E existem mais colisões na forma de redundâncias. Histórias de espectáculos de Forced Entertainment como Speak Bitterness, Hidden J, Showtime, Club of No Regrets repetem-se sucessivamente pelo livro. Uma história é contada sobre um espectáculo e é de novo mencionada mais tarde. Depois, no mesmo capítulo, o mesmo espectáculo é introduzido como se fosse da primeira vez. Tal acontece sem dúvida pelo
V
VI
LIVROS
II
DIAS DO JUÍZO
I
VI I
facto de Certain Fragments ser uma compilação de textos feitos ao longo do tempo (indo dos meados dos anos oitenta até ao final dos anos noventa), no qual Etchells evoca os mesmos pontos, repete-se, dá os mesmos exemplos. Isto sem mencionar muitos dos textos de performances já presentes na parte final do livro. A cada repetição sucede-se um novo ponto de impacto. À escala de um livro inteiro, a repetição destes momentos abre uma ruptura na uniformidade de qualquer singular ideia funcional ou total. Torna-se num texto como o monstro de Frankenstein, seguindo pesada e abruptamente, como vida magicamente elevada não apenas a um corpo fragmentado, mas devido a dele. É um tipo de vida difícil de localizar, existindo sobretudo num espaço limiar – entre dois sítios, onde o desconexo, o subdesenvolvimento e a desarticulação se juntam para formar uma coisa não poética, bonita ou plena em si, mas contendo os fantasmas de tais qualidades. IMAGINAÇÃO: Numa leitura sobre visibilidade, Italo Calvino, também arquitecto de cidades imaginárias, fala sobre uma certa paisagem fantasmagórica que pode existir entre o que poderá estar num texto, num palco, ou na mente de um sonhador: …a imaginação como repertório do que existe potencialmente, do que é hipotético, do que não existe e nunca existiu, talvez do que nunca existirá mas tenha talvez existido... Isto é, um mundo ou um espaço de formas e imagens, nunca saturável. Assim, acredito que chegar a este espaço de potencial multiplicidade é indispensável a qualquer forma de conhecimento. A mente do poeta, e a do cientista em alguns momentos decisivos, trabalha de acordo com um processo de associação de imagens que é a maneira mais rápida de se associar e escolher entre as formas infinitas do possível e do impossível. A imaginação é como uma máquina electrónica que toma em consideração todas as possíveis combinações, escolhendo aquelas que se apropriam a um certo propósito, ou simplesmente as mais interessantes, agradáveis ou divertidas.3 DIGRESSÃO: Li a secção final do livro de Etchells como se estivesse num estado de sonho – a minha mente a vaguear para trás e para frente – bocados inteiros de texto a desaparecerem... Estou a perder qualquer coisa; é como percebermos que lemos de repente umas seis páginas e não temos ideia nenhuma do que falavam... A nossa mente
vagueia... Ficamos egoístas e fugimos connosco. Vai-
-te foder Tim, agora estou a pensar em mim. Vou falar de mim na tua crítica. Mesmo sabendo que criámos a
peça da Polónia antes de eu ler qualquer coisa do Tim Etchells, penso que o seu livro a influenciou muito. Mas depois a minha concentração regressa e de repente estou aqui outra vez, como se uma nota de rodapé se tivesse de novo juntado ao corpo principal. Mas neste estado, não tenho sempre a certeza se é o meu pensamento que divergiu da linha principal ou o(s) texto(s) de Etchells. IMPLICAÇÃO: Debaixo de um céu azul e café diferente, ao acabar de ler as primeiras páginas de Certain Fragments, começo a ter outras associações que se misturam com o que estou a ler. Nesta paisagem urbana, entre as minhas
ideias e as de Etchells, existe um golfo fantástico de colisões que se instala na minha imaginação. Leio também textos de outras pessoas e imagino coisas, sonhando – uma extraordinária sensação –, como se Deus descesse à terra e me apanhasse por trás da cabeça, e entre todas as coisas fico convencido que tive a puta de uma ideia sozinho. Mas há algo de manifesto neste sentimento; vem também do caos de Forced Entertainment: os fragmentos da experiência em si juntam-se (ou não) para sugerirem um certo espectro que paira em explosões momentâneas e iluminadas. É algo que ultrapassa as fissuras do que é visível, como luz entre as placas do chão. Penso em Benjamin uma segunda vez: “…o conhecimento vem apenas em raios de luz. O texto é o longo período de trovoada que se segue.”4 Tradução do inglês: Francisco Valente
1 Benjamin, Walter. The Arcades Project. 2002: Belknap Press. Convolute, N. 2 O espectáculo tinha o título: “This is the Thing with Beckett”. Foi criado por Tommy Noonan, Anna Szopa e Carl Faber e foi apresentado como parte do festival Wroclaw Non-Stop em Wroclaw, Polónia, a 29 de Junho de 2007. 3 Calvino, Italo. Six Memos for the Next Millenium. 1993: Vintage. Pp. 91. 4 Benjamin, Walter. The Arcades Project. 2002: Belknap Press. Convolute, N.
Exquisite Pain (2005), Forced Entertainment
127
III
IV
V
VI
LIVROS
II
DIAS DO JUÍZO
I
VI I
OS FACTOS DA MEMÓRIA FEELINGS ARE FACTS: A LIFE - YVONNE RAINER texto Daniel Tércio
128
“Although my transition from dance to film was relatively swift, it took me over twenty years to move from ‘performer’ to ‘persona’”. A declaração anterior, registada na obra autobiográfica de Yvonne Rainer constitui para o autor destas notas uma das chaves da leitura do livro. O texto, publicado em 2006 pelo prestigiado MIT, tem o sugestivo título feelings are facts, uma declaração que a autora escutara ao seu psicoterapeuta nos inícios dos anos 60. De quem é que estamos a falar? Yvonne Rainer é um nome incontornável da dança pós-moderna norte-americana, uma das fundadoras do Judson Dance Group, e é também uma das criadoras de referência no cinema experimental (data de 1967 a curta Volleyball, Lives of Performers é de 1972 e, para falar apenas numa das últimas criações, MURDER and murder é de 1996). Se esta descrição, ou qualquer outra similar, consta nos inventários históricos sobre a performance contemporânea, a verdade é que, após a leitura do livro, se torna terrivelmente incompleta. Rainner começou a escrever feelings are facts após o 11 de Setembro. Ela assistiu com proximidade ao brutal ataque às torres gémeas, já que vivia na baixa de Manhattan. Se este foi o impulso para registar as memórias pessoais, a própria YR se interroga acerca dos motivos profundos que conduziram ao livro. Quaisquer que tenham sido os motivos, o resultado é um documento intenso, que proporciona uma leitura apaixonante. Diria também que se trata de um documento apaixonado em si mesmo, já que a substância destas memórias resulta em grande medida da própria flutuação dos seus afectos, escritos à distância, mas entrelaçados em registos pessoais, em correspondência (trocada sobretudo com o irmão Ivan ou com a cunhada Belle), ou em transcrições das diversas propostas performativas ou fílmicas. O tempo torna-se pela escrita de
YR não exactamente uma equação linear, mesmo que subjectiva, mas antes uma nuvem, ou se quisermos uma probabilidade construída de factos objectivos, qualquer coisa semelhante à gravitação de um electrão em torno de um núcleo. Que núcleo é este? Digamos que, para o leitor mais interessado nos movimentos estéticos dos anos 60 e 70, o núcleo será ocupado pelo pós-modernismo e pelo minimalismo nas artes performativas; para o leitor mais interessado no indivíduo, encontra aqui um sugestivo perfil psicológico de uma criadora contemporânea; para o leitor a quem interessam os contextos sociais, a obra pode funcionar como referência para o estudo de cruzamentos entre o movimento anti-racista e o movimento feminista com as correntes estéticas de então. O texto arranca em 1952, teria YR então 18 anos. Esta data funciona como um ponto intermédio para o movimento da escrita que avança e recua em ondulações intermitentes. Dos registos de YR não transparece uma infância e uma adolescência felizes. Na verdade, a obra, no seu conjunto, é perpassada por períodos de depressão que levaram a pontos críticos: por exemplo, à paralisação física que se seguiu a um conjunto de performances em 1963, ou a uma tentativa de suicídio em 1971. Não se julgue porém que se trata de um texto de profundidades psíquicas, uma espécie de visitação de fantasmas. Não, não é isso que Rainer faz. A escrita passa pelas coisas e pelas pessoas, identificando as coisas e as pessoas pelos seus nomes próprios, com uma velocidade e uma sinceridade a que a autora (antes de mais ela própria) não escapa. Este mecanismo torna a obra surpreendente – mesmo sendo esta uma característica comum a algum memorialismo – na medida em que transfere para o quotidiano a pesada matéria da História. Os nomes que se encontram nos manuais e que, por isso, são normalmente vestidos de autoridade, tornam-se aqui familiares, comuns e falíveis. Entre uma certa simpatia pelos anarquistas, que “herdara” do pai, emigrante italiano em San Francisco, à aproximação ao movimento feminista nos anos 70, YR segue um percurso fortemente marcado pela vida em New York, para onde viaja em 1956, na companhia do
pintor Al Held. O contacto que então faz com o método Stanislavsky é frustrante, sendo então acusada de “demasiado cerebral”. Digamos que YR manifesta uma incapacidade mimética, uma recusa em trabalhar na ilusão, opondo a esta uma forte presença cénica. A sua aproximação à dança é mais bem sucedida, tendo frequentado aulas de dança afro-cubana, e também a escola de Martha Graham, a partir de 1959, ano em que também é atraída pelo trabalho de Cage-Cunningham. Os conhecimentos sucedem-se então: Simone Forti e Robert Morris (com quem terá mais tarde uma ligação muito intensa), Anna Halprin, Trisha Brown, Robert Dunn, Steve Paxton, Yoko Ono e tantos outros. Em 6 de Julho de 1962, “A concert of dance” reúne muitos destes nomes na Judson Memorial Church. Espaço de experimentação, de partilha criativa, a Judson Church caracterizar-se-ia pela pluralidade de abordagens estéticas, mas também pela aproximação ideológica a uma esquerda liberal que pugnaria pelo fim da guerra do Vietname e pela igualdade de direitos entre todas as comunidades “raciais” nos Estados Unidos. YR descreve brevemente este ambiente, para revelar que, em 1964, o chamado Judson Group começa a fragmentar-se, em grande parte devido à entrada da Robert Rauschemberg, já então um artista mundialmente famoso, que traz com ele os críticos e os programadores; “the balance was tipped, and those of us who appeared with him became the tail of his comet”. Nas páginas seguintes descreve brevemente os percursos subsequentes dos companheiros do Judson Group e a aproximação mais intensa ao cinema, numa altura em que se sente sentimentalmente destroçada. Mas Rainer reconhece também nesta aproximação a influência dos melodramas de Hollywood, dos filmes de autor europeus e das obras cinematográficas de Maya Deren, Andy Warhol e Hollis Frampton e sobretudo a descoberta do movimento feminista. Talvez então, mais do que em qualquer outro momento, ela tenha compreendido o conselho que Martha Graham lhe dera: “When you accept yourself as a woman, you will have turn out”. (Cambridge & London, MIT Press, 2006, €48,47).
129
III
IV
V
VI
LIVROS
II
DIAS DO JUÍZO
I
VI I
YVONNE RAINER E TRISHA BROWN: A DANÇA COMO IMPULSO DO CORPO
Cúmplices num período fulcral para a história da dança contemporânea, as duas coreógrafas norte-americanas encontraram-se para uma conversa a propósito de Glacial Decoy, uma instalação de Trisha Brown, criada em 1979 com figurinos de Robert Rauschenberg. Uma conversa que serviu de pretexto para falarem do modo como concebiam o trabalho em dança, o lugar do corpo e as transformações a que este se sujeita durante o processo de trabalho. Ilustração para: Glacial Decoy, Robert Rauschenberg 130
Yvonne Rainer: Quando sabemos o tempo que te levou a escrita de Watermotor [solo criado em 1978] ficamos surpreendidos pela rapidez de gestação de Glacial De-
coy.
Trisha Brown: Watermotor foi a exploração de um território virgem; a hesitação fazia parte. O material de Glacial Decoy era-me mais familiar. E depois, ao longo de anos, senti-me frustrada pela lentidão com que o meu trabalho se desenvolvia. Decidi que este deveria sair com força, com o risco de me fazer a vida difícil […] YR: Quando lemos coisas sobre a génese de Locus [peça para quatro bailarinos, 1975], por exemplo, e quando sabemos como o espaço foi fixado, o trabalho foi claro. Estou curiosa sobre a estrutura de Glacial Decoy, mesmo que não seja necessário haver um conhecimento explícito. TB: Primeiro há as fronteiras da frase, depois o coração da dança... De cada vez que falo de dança acho que estou a mentir. É muito complicado mas vou tentar simplificar. Não revemos a segunda secção. A terceira parte é um dueto que exprime o centro da dança, e na sequência final, todas as secções são mostradas individualmente. O que faço num movimento retirado da sua unidade repercute-se nas frases e na peça inteira – isto para con-
cluir. A dança está saturada de movimentos escorregadios, de rupturas nos movimentos, o espaço, a direcção. Ela parte sempre para onde não esperamos. A minha dança é imprevisível, improvável, contínua. Neste contexto uma frase a quatro tempos torna-se um clímax. O meu trabalho fala da mudança de curso, de forma, de velocidade, de humor, de estado. A sua execução é tumultuosa, mas se a dinâmica do movimento é a certa, há um conforto. […] YR: Na tua dança, a energia que rastilha um impulso surge tão subitamente que podemos pensar que ela assinala o impulso inicial de uma frase, mas isso não chega. Na verdade o impulso surge constantemente de diferentes ritmos e, a nesse sentido, é imprevisível. Uma boa parte do movimento, determinado pelo peso do corpo vindo do movimento precedente, é transitório. Um membro que lançamos ou que fazemos relaxar é o motor da impulsão. TB: A queda é o seu contrário e o meio-termo. A ordem lógica do movimento (debruçar-se, levantar-se, etc.) determina muitas vezes a motivação. YR: E esse impulso desloca-se constantemente por todo o corpo.
surpreendente… Podemos dizer que tu estás no caminho de definir uma nova gramática da dança. TB: Depois de Watermotor o meu objectivo não é fabricar frases arbitrariamente. O movimento é fundado numa intuição física. É como o Steve Paxton [coreógrafo que fez parte do Judson Dance Group] disse, após um dos seus prodigiosos concertos de dança, que não sabia o que tinha feito. Eu trabalho um pouco da mesma maneira, mas tento saber aquilo que faço. Organizando o meu material, eu pressinto uma perda mas constato um ganho. Perco esses momentos abençoados de extraordinária sorte, essas coincidências magníficas. Mais alcanço alguns que voam, e esses guardo-os.
TB: Isso procede de uma espécie de distribuição democrática pelo corpo todo. Sou particularmente sensível ao que é deixado de lado, atrás do joelho por exemplo. Há uma fatalidade condutora: eu produzo um tilt, e a série de movimentos instintivos que se seguem no processo de criação coreográfica fundamentam uma frase que pode em seguida ser desenvolvida e alterada. É uma das minhas ferramentas de base. Sem cessar, altero o sentido do movimento A penetrando-o com um movimento B. YR: E no entanto A resiste… TB: O que alimenta qualquer coisa que vai encontrar a sua expressão no movimento F. YR: De tal maneira que, sob a forma de uma improvisação, na muito livre utilização do peso do corpo como gerador e movimento, detalhes de um virtuosismo louco que nascem e colocam em evidência a total mestria de cada forma particular da peça. Numa aparência flexível, descontraída, nada é deixado ao acaso. È de facto novo e
YR: Ao vermos, isso é certo, sentimos no Steve uma faculdade de conhecimento espontânea. Vemo-lo a fazer coisas imediatas, o que é característico da improvisação. O seu método deve muito a modelos da dança e do movimento. Referência talvez não seja a palavra mais correcta porque ele está verdadeiramente em acção, ele faz realmente fragmentos de acrobacia, de Tai-Chi, de [Merce] Cunningham, de Aikïdo, etc… E já as tuas referências – naquilo que eu entendo que ele restitui – são produtos anexos a uma direcção do trabalho, mais de consequências que de sentidos primários. Elas sobrevivem no fluxo. Isso é particularmente evidente em Glacial Decoy. TB: Por vezes a minha dança é metafórica, ela recorre à memória. Ora, aquilo que em 1941, digamos, foi uma tempestade, projectada através do espírito e devolvida pelo corpo, subsiste apenas como um ligeiro marulhar. Portanto a memória impregna a frase de realidade e modula a qualidade, a textura. O que quer que isso seja, no que respeita à interpretação, a lembrança deve ser perceptível no mesmo instante em que a acção o sugere. Sem reflexão restam-nos apenas explorações físicas. Faço também uma distinção entre gestualidade pública e privada. A minha dança contém uma e outra, mas o que é privado é suposto ser imperceptível ao olhar. Digo-o porque isso tem influência sobre a cor, a nuance e o aspecto global da excentricidade. YR: Quando usas o humor este é de ordem pública ou de uso interno? >>
131
III
IV
>> TB: De há dois anos para cá bani todo o humor do meu trabalho. Caminhar como um pato fazia parte das graças habituais, mas isso acabou. O humor surgia tão descomplexadamente no espírito que deveria trazer consigo qualquer coisa de falso. Há patos em Decoy, inclusive no título1, mas passam tão rapidamente pelo jogo que o humor não se sente senão subliminarmente. O que é que achaste dos figurinos de Glacial Decoy?
132
YR: Os figurinos introduzem uma outra dimensão… Não exactamente a dimensão da personagem mas a atracção de personagens criadas num outro lado e anteriormente, algures entre Les Sylphides [de Mikhail Fokine, 1909] e Primitive Mysteries [de Martha Graham, 1931]. E é o figurino que proporciona essa atracção. Há uma transformação recorrente, fugitiva, de um corpo movente à imagem vacilante de uma mulher. Isto porque o figurino está afastado do corpo. A cenografia do Bob [Rauschenberg] preserva essa qualidade plástica. A imagem reflectida nunca é a imagem fundida, una, homogénea, a visão também oscila, do movimento-enquanto-movimento, do corpo-sem-figurino, do figurino-sem-corpo, da imagem da mulher/bailarina, o que não é a mesma coisa que ver, ou não ver, o teu trabalho no contexto de uma obra feminina. A feminilidade em Glacial Decoy é uma substância, como no teu trabalho anterior, ao mesmo tempo que é uma sobre-impressão. A transparência dos figurinos fez-me lembrar, ao início, qualquer coisa de lascivo, mas depois disse-me: “isso acontece porque o trabalho não apresenta um corpo estático, porque não há um único momento de pose exibicionista”. Quanto muito estes figurinos seriam efeminados, no sentido de uma idealização. Mas é aí que se revela o talento do Bob, ao ter o olho certo para criar uma versão do tutu clássico para os teus movimentos. O estilo pessoal, único, que é o teu desde sempre; surpreendido pela fotografia, e por vezes muito próximo da dança clássica – sobre uma perna, o equilíbrio perfeito. A diferença fundamental é que uma parte do corpo está sempre em movimento. Não existem essas estruturas geladas, reconhecíveis, às quais aspiram o ballet e o Cunningham, nada dessas certezas plenas de uma força e tensão inacreditáveis e de uma onda de voluntarismo subjacente. Tu dizes frequentemente que não fazes movimentos que cobrem o espaço. Não sei como é que as tuas bailarinas o fazem, mas elas circulam. A única palavra que me parece adequada é “skitter”2. Elas afloram e salpicam o espaço. Não sei definir como mas em Glacial Decoy as bailarinas habitam a cena de um canto ao outro.
V
VI
LIVROS
II
DIAS DO JUÍZO
I
VI I
TB: Há tantos movimentos que te fazem deslocar! A marcha, o saltitar, o salto, o pulo, o deslize, o galope. Tento combiná-los a todos variando os tempos, as velocidades e as qualidades. YR: Talvez tenha perdido a minha capacidade de receber o movimento, a minha memória cinética. Envolvo-me tanto na contemplação das relações permeáveis entre as partes do corpo, que não chego a ver como se processa a deslocação. TB: Mas eu tento sem cessar desviar o centro da atenção. Quando 99% do corpo se move para a direita, eu faço sobressair algo para a esquerda para contrabalançar ou afastar, ou então para criar um reenvio de um ao outro, uma reverberação. A anulação é uma outra forma de levar à mudança. A anulação de um impulso provocado por uma pequena explosão de possibilidades. Para determinar o que se vai seguir, eu estudo dois pólos: a saída mais fácil, que é a progressão lógica ou o restabelecimento instintivo; e a mais difícil, que é quase sempre uma outra anulação que cria, por norma, o seu próprio fogo de artifício. Pela compreensão dos extremos abre-se perante mim o campo total de hipóteses de escolha. Trata-se, por assim dizer, de uma fragmentação aplicada, um delicado equilíbrio entre caos e ordem. Se a organização sob a forma de peça é demasiado lógica, ela uniformiza-se. Uma das soluções consiste em sobrepor uma dança à outra, o que produz uma acção e um detalhe mais preciso. No fim diríamos que uma dança foi colada nas fissuras de uma outra dança. […]
Diálogo originalmente publicado, em inglês, na revista October nº 102, volume 10, Outono de 1979. Tradução do francês a partir da versão de Christophe Mas, publicada na revista Pour la Danse n.º 125, de 1986, e editada por Jean-Marc Adolphe, a quem se agradece a cedência do texto.
1 Decoy é uma forma de, em calão, se dizer pato (duck) e significa quando empregada dessa forma o chamariz, a armadilha. 2 Termo que se refere ao voo rasante à água que alguns pássaros fazem.
RAINER E BROWN:
A DOCUMENTAÇÃO DE SI MESMAS As duas artistas estiveram presentes – únicas representantes da dança, ambas com reconhecidos investimentos no cinema e no vídeo – na Documenta 12, exposição que reuniu em Kassel, durante cem dias, artistas, debates e suficiente controvérsia para durar mais uns anos (até à próxima exposição, em 2012). Yvonne Rainer e Trisha Brown não escaparam à vertigem memorialista e, além de trabalhos recentes, revisitaram obras passadas, num exercício em torno do valor discursivo do documento ou da necessidade de inventar, de novo, sobre tópicos antigos. A 12ª edição da Documenta deixou-se atravessar por uma multiplicidade de eixos de avaliação e análise que, se deixou muitos desconcertados pela ausência de linhas de orientação, para outros tantos cobriu de pertinência o contexto expositivo quase árido concebido por Roger M. Buergel e Ruth Noack, libertando de constrangimentos o visitante para propor as interpretações que entendesse. Poucos terão ignorado, porém, o ímpeto documentalista observado em diversas obras, sob a forma de fotografias, murais, vídeos e demais registos de performances, “acções” ou intervenções ocorridas nos anos 60 e 70. Mas, também, sob a forma de revisitação dessas mesmas criações. Yvonne Rainer apresentou em estreia absoluta a nova peça, RoS Indexical (2007), re-concepção de A Sagração da Primavera encomendada pelo festival Performa, e também AG Indexical, with a Little Help from H.M. (2006), que revisita a peça de Balanchine & Stravinsky Agon, de 1957, usando uma inesperada banda sonora: a do filme A Pantera Cor-de-Rosa. Estes espectáculos puderam ser vistos apenas em três dias; já as cinco obras de Trisha Brown estiveram patentes durante todo o tempo da exposição. Duas curtas coreografias sucessivas – Accumulation e Floor of the Forest –, ambas de 1971, permitiam aprofundar o conhecimento sobre a sua estética, enquanto os desenhos (Geneva, Handfall) funcionavam sobretudo enquanto repositório desses movimentos fluidos num sedimento (com as mãos, em folhas de papel, ou no chão). Já o filme Roof and Fire Piece documenta à distância uma performance que teve lugar em Nova Iorque em 1973: ao longo de vários telhados, um grupo de bailarinos executa os mesmos movimentos num suceder sem descontinuidade.
133
II
III
IV
V
VI
VI I
MODELOS DE GOVERNANÇA DE “CIDADES CRIATIVAS”: UMA ABORDAGEM COMPARATIVA
texto Bruno Vasconcelos / Gustavo Sugahara / Miguel Magalhães / Pedro Costa
1. INTRODUÇÃO
134 134
Este texto visa discutir a multiplicidade de mecanismos de regulação e de formas de governança que têm marcado o desenvolvimento de projectos de Cidades Criativas nos anos mais recentes, um pouco por todo o mundo. O nosso objectivo é aprofundar o conhecimento sobre os mecanismos de governança das indústrias criativas, particularmente no que diz respeito à sua relação com o território. Através de uma melhor compreensão de tais dinâmicas, seremos capazes de sistematizar e classificar os modelos de governança das Cidades Criativas, no sentido de fundamentar e promover uma futura reflexão sobre uma estratégia de intervenção pública em Portugal. Na próxima secção é feita uma introdução aos recentes debates sobre Indústrias Criativas e Cidades Criativas, com o intuito de enquadrar conceptualmente a discussão. A secção três apresenta uma visão mais ampla acerca destes debates, articulando estes conceitos com diversas outros tipos de estratégias e experiências de desenvolvimento urbano com orientação cultural e ou criativa. Com base nesta concepção geral, a secção quatro discute de forma mais concisa as políticas para a criatividade e seus modelos de governança, através de uma análise comparativa e da sugestão de algumas tipologias básicas relativas às intervenções públicas voltadas para o tema em questão. Por fim, na secção cinco é apresentada uma breve reflexão sobre o contexto institucional português, com o objectivo de discutir a receptividade dos decisores políticos nacionais a este tipo de análise, e de sistematizar os principais desafios actualmente enfrentados pelas autoridades responsáveis pela intervenção a nível cultural e urbano, tendo em conta todo este debate sobre as Cidades Criativas.
2. INDÚSTRIAS CRIATIVAS E CIDADES CRIATIVAS Recentemente, têm ganho influência e popularidade, tanto no discurso académico como no político, novos conceitos como “cidades criativas” e “indústrias criativas”, sobrepondo-se a conceitos mais tradicionais e convencionalmente legitimados como indústrias culturais, actividades culturais e actividades artísticas. Contributos fundamentais quer de autores como Charles Landry (Landry, 2000), Richard Florida (Florida, 2002) ou Richard Caves (Caves, 2002) quer de agências e instituições como o Departamento de Cultura, Imprensa e Desporto (Department of Culture, Media and Sport – DCMS), ligado ao governo do Reino Unido, têm progressivamente marcado o policy-making e o debate científico com estas noções, desde os anos 90 à actualidade. Um número significativo de instituições públicas, quer a nível nacional quer a nível local/regional (muitas vezes no âmbito de parcerias mais amplas, associando-se a outros actores culturais e urbanos privados), tem posto em prática estas ideias em todo o mundo, dando grande visibilidade (mas também considerável diversidade) a estes conceitos. Quer no Reino Unido, onde se encontra o berço de muitas destas ideias, quer em países como a Austrália, a Nova Zelândia, o Canadá ou muitas outras zonas na Europa e Ásia Oriental, têm sido recorrentemente analisados e divulgados estudos de caso de sucesso, associados a operações de âmbito urbano e/ou cultural, relacionados com esta “euforia criativa”. Mesmo no universo das grandes instituições internacionais, estes conceitos têm sido progressivamente introduzidos e são actualmente usados e destacados quotidianamente (p.e, pela Comissão Europeia, OCDE, UNESCO...). No entanto, as noções de “cidade criativa” ou de “actividades criativas” não deixam ainda de ser relativamente ambíguas e estão longe de ser consensuais. Estamos
Este texto foi originalmente apresentado na XVI Conferência da RESER (The European Association for Research on Services), subordinada ao tema “Services Governance and Public Policies” e realizada no Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE), em Lisboa, em 28-30 de Setembro de 2006, tendo sido posteriormente publicado, em língua inglesa, na série de working papers do Dinâmia/ISCTE(Costa et al., 2006, On ‘Creative Cities’ governance models: a comparative approach, Dinâmia WP nº2006/54). Uma versão revista desse texto encontra-se em actualmente em publicação no Services Industries Journal (vol 28, nº3, April 2008).
ENSAIO
I
perante conceitos multifacetados, que reflectem as mais variadas e difusas concepções seguidas pelos seus utilizadores. Podemos efectivamente encontrar estas ou expressões semelhantes empregues como referência a uma grande variedade de conceitos teóricos, reflectindo as mais variadas abordagens e perspectivas sobre as mesmas questões culturais ou urbanas, ou mesmo, sendo o resultado de uma ampla diversidade de percursos evolutivos disciplinares (nos campos de economia cultural, do planeamento urbano, dos estudos de inovação, dos estudos culturais, da geografia, etc.). Nesta secção, pretendemos ilustrar brevemente toda esta diversidade conceptual e analítica, concentrando-nos em duas das expressões mais comuns usadas no discurso académico e político nesta área: as noções de “indústrias criativas” e de “cidades criativas” (sem esquecer no entanto que nenhuma destas abordagens, na sua multiplicidade, cobre todas as recentes perspectivas “criativas” – pense-se, por exemplo, na ideia de classes criativas). De facto, estes conceitos têm sido profusamente usados na acção política, particularmente em estratégias de desenvolvimento urbano. Com o intuito de promover o crescimento e a vitalidade das cidades, múltiplas iniciativas suportadas na ideia de “criatividade” têm vindo a ser planeadas e desenvolvidas, por exemplo, no âmbito de estratégias de desenvolvimento local, de operações de renovação e requalificação urbana ou de acções de desenvolvimento regional centradas em sectores inovadores ou menos convencionais. O reconhecimento de que o conhecimento e a inovação são matérias fundamentais para manter o potencial competitivo e atractivo nas sociedades contemporâneas mudou radicalmente a forma de pensar e de agir dos actores económicos e institucionais. A busca por “experiências” e “fórmulas” de gestão urbana bem sucedidas foi encontrando um terreno comum em torno da ideia de criatividade, ainda que o ambiente
onde essa criatividade possa emergir e desenvolver-se, ou os aspectos associados aos mecanismos de regulação e às suas formas de governança, possam ser o foco primacial dessas intervenções e o factor decisivo para o seu sucesso. As actividades culturais, criativas por natureza, tendem a ser um dos pilares destas concepções e a assumir um papel crucial nas estratégias de desenvolvimento, embora seja importante salientar que a criatividade pode emergir de outros campos e pode mesmo estar presente nas mais diversas actividades. Não obstante este cenário confuso e pouco claro em torno dos conceitos, claramente correlacionados, de “cidades criativas” e de “actividades criativas/culturais”, é claro para nós que por detrás desta diversidade conceptual, existem noções comuns de conhecimento e inovação associados a novos produtos ou actividades, novos actores ou instituições e novas formas de organização ou governança.
Tendo presente o acima referido, uma organização lógica possível para esquematizar esta discussão, é a defendida por Costa (2005), sugerindo cinco grandes origens para o recente grande desenvolvimento deste interesse pela criatividade, no que concerne à preocupação com a promoção da vitalidade e competitividade urbanas: a) A ideia de “Cidade Criativa”, tal como foi desenvolvida por autores como Charles Landry (2000), Peter Hall (1998), Ralph Ebert et al. (1994), entre muitos outros, e >> a progressiva articulação com a análise das Indústrias Criativas (através do estudo das indústrias culturais) e com múltiplas aplicações práticas ao nível do policymaking (ex. DCMS, no Reino Unido). Esta noção foi, adoptada, tanto por académicos como por planeadores >>
135
II
III
IV
>> urbanos e formuladores de políticas, em vários contextos, sendo usada não só como grelha analítica mas igualmente como referência estratégica e ferramenta de intervenção no desenvolvimento urbano. É frequentemente suportada na lógica de valorizar “boas práticas”, quer em casos directamente relacionados com actividades culturais criativas, quer em casos de soluções “criativas” de pontos de vista mais institucionais ou organizacionais. Tem sido progressivamente incorporada na agenda política em vários países (regeneração urbana, políticas de desenvolvimento local, etc.), como o Reino Unido, a Alemanha ou o Canadá, bem como ao nível das instituições europeias, conciliando campos disciplinares como o planeamento urbano, as políticas de desenvolvimento local, o urbanismo e a arquitectura, a gestão urbana ou a sociologia.
136
b) A noção de uma “Europa Criativa”, assumida por instituições de investigação internacionais (p. e. European Research Institute for Comparative Cultural Policy and the Arts – ERICArts, 2002; Council of Europe; etc), ou mesmo posições similares por instituições internacionais, assumindo “politicamente”, por exemplo, o lançamento de uma “Rede de Cidades Criativas” (UNESCO), adoptando uma noção alargada de actividades criativas, e dando particular atenção às especificidades das formas de governança. Conciliando algumas das preocupações precedentes com a obtenção de diversidade cultural (UNESCO, Conselho Europeu, etc.) e acrescentando outras perspectivas disciplinares (psicologia, gestão, etc.), assume abordagens ainda mais interdisciplinares que a noção anterior. O foco é aqui colocado nas ideias de governança e de gestão da criatividade artística, suportando-se numa abordagem empírica baseada em estudos de caso (em toda a Europa) que configuram um conjunto de exemplos de relações bem sucedidas entre criatividade artística, governança cultural, gestão inovadora e desenvolvimento urbano. É prestada particular atenção à actividade cultural associada a mecanismos de regeneração urbana, sustentada em condições especiais no que respeita à criatividade e resultante de “meios” e de formas de governança específicas. c) A ideia da existência de uma “Classe Criativa” (Florida, 2002; Florida e Trinagli, 2004), assumida como um recurso determinante para a competitividade territorial, considerando o seu papel crucial nos processos de desenvolvimento e regeneração urbana em muitas cidades. Esta perspectiva, ligando a criatividade das cidades à capacidade de atracção da “classe criativa” (com capacidade para dominar tecnologia, talentosa, e propensa à tolerância), distingue, com base empírica, as cidades “bem sucedidas”, tendencialmente cidades
V
VI
VI I
mais “abertas”, receptivas à diferença e solidariedade. Este polémico contributo, que tem sido muito criticado no que concerne a alguns aspectos metodológicos e conclusões secundárias, tem a importância fundamental de alertar para algumas importantes e significativas questões teóricas, em particular, para o ponto-chave da articulação da criatividade com as questões das competências e do capital humano. d) A consciência da especificidade das “Indústrias Criativas”, no âmbito da análise económica, particularmente através do contributo de Richard Caves (Caves, 2001) sobre as particularidades do funcionamento real destas actividades, entendido na amplitude do seu contexto institucional. Esta abordagem, originária do campo da economia (embora mais da economia industrial do que da tradição da economia cultural) e conciliável com outras abordagens, como a da “Economia Criativa” (mais relacionada com a importância dos direitos de propriedade – ex. Howking, 2001), baseia-se no desenvolvimento do conceito de “indústrias criativas”, enquadrando a análise da organização das indústrias culturais num contexto institucional mais alargado. As actividades culturais são analisadas em termos económicos, mas com um foco na componente criativa e nas especificidades dos bens e instituições culturais, tendo em particular atenção as relações (contratos) estabelecidas entre actores. e) A valorização dos aspectos associados à criação e à criatividade no campo da análise das actividades artísticas, mesmo no corpo conceptual “mainstream” da economia cultural (ex: Throbsy, 2001; Towse, 2004; Handke, 2004), com o reconhecimento da importância do estudo da criatividade artística e da sua incorporação nos produtos culturais. Esta mudança (ou, no mínimo, este crescente interesse) da economia da cultura pelos mecanismos de criação, recupera a herança da economia da cultura e articula-a com a análise da inovação, suscitando um novo interesse pelo estudo do valor criativo não apenas do lado da procura, mas igualmente do da oferta (sendo a provisão vista ao nível da produção de ideias e não apenas da produção física dos suportes e sua distribuição…). Apesar de toda esta diversidade de origens para este recente interesse pela criatividade e de toda a variedade de opiniões sobre a amplitude de tais conceitos, é um facto que isto se transformou numa questão fundamental nas sociedades contemporâneas. O impacto de todo este interesse revela-se na acção política, sendo bastante significativo em várias áreas, e tendo conduzido, nos anos mais recentes, a política cultural a novas
ENSAIO
I
arenas incluindo, entre outros aspectos (Costa, 2005): - um claro desvio para além das clássicas abordagens disciplinares (combinando cultura, território, inovação, etc.) - um maior foco da atenção para as questões da criatividade e da criação (claramente centradas na tradicionalmente mais esquecida primeira fase das cadeias de valor destes produtos) aquando do estudo e actuação sobre as actividades culturais; - uma crescente atenção dada às lógicas do comportamento das “pessoas”, do lado da oferta, e não apenas como “espectadores”, na perspectiva da procura (assumindo que as instituições não são “caixas pretas” e que o seu funcionamento necessita de ser mais estudado); - uma focagem clara no enraizamento territorial das actividades culturais e criativas, nomeadamente nos sistemas de produção territorializados onde a produção e o consumo culturais se tendem a desenvolver mais, com os seus actores específicos e formas de governança particulares; e, - a assunção da relevância fundamental dos aspectos imateriais e intangíveis (como as competências dos trabalhadores, a inovação, a articulação inter-institucional) como áreas fundamentais de intervenção. Curiosa e coincidentemente (ou não), todos estes aspectos reflectem uma clara aproximação às políticas
e estratégias de desenvolvimento regional/local e uma grande similaridade com as questões centrais no campo da promoção do desenvolvimento urbano. Isto poderá portanto ajudar a explicar todo este interesse pelas políticas de desenvolvimento urbano baseadas na criatividade... Em todo o caso e apesar de todas estas origens, estes conceitos foram-se desenvolvendo e tornaram-se progressivamente centrais na acção política nas áreas de promoção urbana e económica. Tendo em conta o nosso objectivo de discutir os mecanismos de governança em lógicas de desenvolvimento urbano baseadas na criatividade, importa estabelecer uma base conceptual para o nosso debate. Assim, neste amplo e desordenado espectro, optamos por nos concentrar na discussão dos dois conceitos mais recorrentes, Indústrias Criativas e Cidades Criativas, de forma a ilustrar esta diversidade e a enquadrar a nossa própria concepção. O conceito de “indústrias criativas” tem sido usualmente entendido como similar (ou por vezes como algo um pouco mais abrangente do que) à noção anglo-saxónica de “indústrias culturais”, isto é, as actividades culturais, entendidas numa perspectiva mais ampla do que tradição latina, incluindo as indústrias culturais mais estruturadas (coincidentes com esta última) e outras, desde as actividades artísticas mais convencionais e tradicionais ao design, ao artesanato ou ao património. Mas por vezes é também interpretado numa versão ain>>
137
II
III
IV
>> da mais ampla, incluindo actividades tão díspares como a programação de software ou a investigação científica, também indubitavelmente criativas, embora geralmente despojadas de sentido estético. Este problema da definição conceptual tem focado o debate nos limites entre “indústrias culturais” e “indústrias criativas”, bem como nas actividades que devem ser consideradas como criativas. Este último aspecto assume particular relevância, à medida que estas actividades se afirmam como preponderantes no desenvolvimento económico. Apesar da partilha do mesmo objecto representar um obstáculo à estabilidade de conceitos bem enraizados e universais de indústrias “culturais” e indústrias “criativas”, a maior parte da incerteza e falta de consenso em torno destas noções associa-se à identificação dos propósitos inerentes a cada um dos conceitos. Justin O’Connor definiu Indústrias Culturais como “as actividades que lidam es138 sencialmente com bens simbólicos (...). Tal definição inclui portanto aquilo a que se tem chamado “indústrias culturais clássicas” – rádio e teledifusão, imprensa, cinema, publicidade, estúdios de música, design, arquitectura, novos media – e as artes “tradicionais” – artes visuais, artesanato, teatro, teatro musical, concertos e espectáculos, literatura, museus e galerias” (O’Connor, 1999). Esta é aliás uma definição recorrente nas análises produzidas sobre este tema, que parte de uma diferenciação entre as actividades culturais, tendo em conta os seus modelos de financiamento: por um lado, as “indústrias culturais clássicas” são essencialmente financiadas via mercado; por outro lado, as artes “tradicionais” são financiadas pelo valor estabelecido num sistema institucional mais amplo; mas em última análise, em ambos os casos, todas elas dependem de um processo de valorização simbólica da arte. Throsby (2001), por seu lado, apresenta um modelo bastante abrangente de “indústrias culturais”, assumindo a centralidade das actividades criativas e culturais tradicionais as quais, misturadas com diversos estímulos e inputs, produzem um larga gama de novos produtos. Aqui podemos incluir várias indústrias que, em paralelo com a produção de bens culturais, criam também outros bens e serviços não-
V
VI
VI I
culturais (impressão/tiragem, TV e rádio, imprensa, audiovisual, multimédia). É também nos limites das indústrias culturais que se encontram ramos que operam fora da esfera cultural, embora ofereçam conteúdos culturais (turismo, publicidade, arquitectura, etc.). Assim, com as atenções centradas no desenvolvimento comercial e económico, as actividades culturais foram deslizando para a periferia deste modelo e o sector das indústrias criativas afirma-se agora como o centro das dinâmicas. Autores como O’Regan (2001) ou Cunningham (2001) trabalham também neste modelo conceptual, considerando as indústrias culturais como subsecção das indústrias criativas. A esfera das actividades criativas representa um centro de recursos (pessoas, talentos, ideias) reassumidos nos mais diversos usos e aplicações, envolvendo a criatividade em diferentes actividades que podem ser completamente distintas das actividades culturais. O’Regan (2001) considera as indústrias culturais no âmbito de grelha de serviços destinados às indústrias criativas. A cultura é portanto aqui uma “indústria de serviços” e a criatividade “uma aplicação”. Em muitas outras análises, as indústrias “culturais” e “criativas” são distinguidas pelo facto de as primeiras representarem um ramo com pouco peso económico e relativamente dependente do apoio público e de subsídios. Este aspecto ao nível das “representações” foi decisivo no aumento da popularidade junto dos diversos governos do modelo das indústrias criativas como factor-chave para o desenvolvimento económico. Outro foco de intensa discussão tem sido a necessidade de um levantamento minimamente consensual e de uma definição rigorosa das actividades a incluir no sector criativo. Este debate, que tem sido conduzido principalmente nos países pioneiros na aplicação destes modelos, como o Reino Unido, cobre diversos argumentos e perspectivas. Os sistemas de classificação foram sendo desenvolvidos em vários estudos de caso, aumentando os benefícios inerentes a um levantamento e mapeamento rigoroso do sector: aumento da legitimação social do sector das indústrias criativas, disponibilização de dados rigorosos sobre o sector, criação de condições para um melhor uso de todas as suas potencialidades. Contudo, o(s) âmbito(s) usado(s) na classificação das actividades como criativas (ou não criativas) tem-se revelado como um grande obstáculo a esta reflexão, constituindo a ausência de uma delimitação clara entre “indústrias culturais” e “indústrias criativas” uma dificuldade adicional a considerar. Por exemplo, o DMCS do Reino Unido apresenta uma classificação que identifica um grupo concreto de actividades no sector das indústrias criativas: arquitectura, mercado de arte e de antiguidades, artesanato, design,
ENSAIO
I
design de moda, cinema e vídeo, música, software de entretenimento, publicidade, televisão e rádio (usando uma definição que assume a relação entre recursos, competências e criatividade e imaginação dos indivíduos como factores comuns entre todas estas actividades, a qual gera crescimento, emprego e estimula a criação de conteúdos e a propriedade intelectual). Outro exemplo que mostra a diversidade de entendimentos sobre as indústrias criativas e realça a necessidade de adaptar o mapeamento das actividades criativas de acordo com o seu contexto territorial é o levantamento preliminar das indústrias criativas de Hong Kong (Centre for Cultural Policy Research, The University of Hong Kong, 2006), o qual inclui 11 grandes categorias sectoriais, que diferem dependendo das actividades e características sectoriais de cada território (tendo sido consideradas as actividades económicas que de alguma forma geram e exploram criatividade, talento e propriedade intelectual). Stuart Cunningham (2001) apresenta uma interessante grelha de análise, bastante distinta das anteriores, para definir categorias de indústrias criativas. Segundo esta análise, podemos encontrar cinco subsecções no sector das indústrias criativas: indústrias criativas (creative industries), indústrias dos direitos do autor (copyright industries), indústrias de conteúdos (content industries), indústrias culturais (cultural industries) e conteúdos digitais (digital contents). Cada uma representa diferentes actividades ou diferentes partes partilhadas de uma mesma actividade. Por exemplo, a música pode aparecer nas subsecções da indústria de conteúdos ou da indústria de direitos de autor, enquanto a consideramos uma actividade económica importante desenvolvida pelas editoras e pelos estúdios, ao mesmo tempo que constitui uma importante fonte de criação de valor na perspectiva das instituições dos direitos de autor. O recente relatório do National Endowment for Science, Technology and the Arts (NESTA) sobre “crescimento criativo”, sugestivamente intitulado “Creating growth: How the UK can develop world class creative business” (NESTA, 2006) assume o importante papel das indústrias criativas no desenvolvimento económico, ligando-o à inovação, a qual representa o factor-chave e uma ferramenta essencial para o novo desafio do acesso aos mercados mundiais. As indústrias criativas representam diversos dos sectores de maior crescimento da economia global, bem como uma fonte fundamental de competitividade. A inovação (nas suas diversas vertentes: criando novos mercados; renovando as cadeias de valor através das tecnologias digitais, explorando a diversificação, promovendo a rentabilização de propriedade intelectual, colaborando e explorando redes e novas formas de organização...) será portanto vital no processo de exploração de mercados progressivamente globais para os negócios na área criativa.
Perante toda esta complexidade, chegar a uma definição final e satisfatória para uma noção com “indústrias criativas” está longe de ser uma tarefa fácil. Em paralelo com definições mais generalistas e pragmáticas como “a convergência das artes, negócios e tecnologia”, uma definição simbólica que pode ser encontrada frequentemente sobre esta questão e que podemos assumir como a principal base conceptual para a discussão mantida neste texto é a seguinte: “aquelas indústrias que têm a sua origem na criatividade competências e talento individuais e que têm um potencial para criação de bemestar e emprego através da geração e exploração da propriedade intelectual” (UK Creative Industries Task Force, 1997). De certa forma, a combinação destas duas definições desenha um panorama que parece suficientemente abrangente para representar a diversidade de abordagens apresentadas. Se deslocarmos o objecto da nossa análise para o campo do conceito de “cidade criativa”, os mesmos problemas e a mesma diversidade ocorrem novamente. Na última década a noção de cidade criativa tem estado particularmente no centro das atenções, mas não é fácil identificar um campo conceptual comum que cubra toda a diversidade de interpretações e práticas que lhe estão subjacentes. Na verdade, como Hansen (2001: pp. 853) refere, o conceito de cidade criativa pode ser visto como o mais recente produto de marketing territorial, empregue na luta entre cidades para atrair investidores e promover a competitividade. Face ao seu uso generalizado, para alguns autores, a ideia de Cidades Criativas acaba até por perder a sua consistência e torna-se numa mera “marca” e não numa “atitude”. De modo a resumir as múltiplas abordagens ao conceito de “cidade criativa” que se têm desenvolvido, seja no campo da acção política, seja em análises mais académicas, sugerimos a seguinte tipologia, identificando três eixos de base que suportam cada construção conceptual: (a) uma centrando a noção de cidade criativa na ideia de criatividade como um instrumento ou como ferramenta para o desenvolvimento urbano; (b) uma segunda baseando a noção de cidade criativa na utilização de actividades/indústrias criativas (alargando as perspectivas centradas nas actividades culturais); e finalmente (c) uma terceira baseando o conceito de cidade criativa na capacidade de atrair competências criativas, isto é, recursos humanos criativos. No entanto, é importante notar que esta classificação é naturalmente uma construção teórica com fins expositivos específicos, sendo em muitos casos a distinção entre abordagens e a sua estrita ligação com a grelha de pensamento dos respectivos autores, uma tarefa incompatível e reducionista (por exemplo, para “ler” o mesmo autor, duas ou mesmo as três perspectivas definidas podem ser possíveis ou até complementares). >>
139
II
III
IV
>> O primeiro conjunto de contributos, no qual o conceito de cidade criativa é usado numa perspectiva ampla de planeamento da cidade, tem a sua principal referência no livro de Charles Landry (2000) intitulado “The Creative City: a Toolkit For Urban Innovators”. A procura de intervenções que possam instigar um “ambiente” criativo, num sentido lato, é o foco desta abordagem, a qual vai muito para além das actividades culturais, embora claramente associada ao enraizamento nas culturas e identidades locais das cidades. Por exemplo, soluções imaginativas para o sistema educativo local, para a mobilidade urbana ou mesmo para a recolha de resíduos podem ser incluídas nesta perspectiva de “cidade criativa”. Gerar um ambiente criativo e descobrir e manter processos criativos de gestão urbana será a chave para o sucesso, numa perspectiva centrada na criatividade como conjunto de ferramentas para planear e inovar nas cidades. Um segundo conjunto de contributos centra-se nos produtos culturais. Para autores como Pratt (2004) e instituições como o DCMS, entre muitos outros, as “cidades criativas” são aquelas que se associam a um certo dinamismo no sector da produção criativa. Esta é eventualmente a noção mais comum de cidade criativa, intimamente ligada ao conceito de indústrias criativas. Neste caso, a produção de bens e serviços culturais e de 140 actividades relacionadas são os centros da criatividade. O recente sucesso destes espaços urbanos é considerado um resultado de dinâmicas territoriais específicas ou de políticas que se basearam no crescimento de actividades culturais (ou outras actividades criativas), que reverteram em acréscimos da qualidade de vida, permitiram a regeneração ou a vitalização urbana e promoveram a competitividade. Finalmente, outra importante grelha de análise que suporta a actual retórica das “cidades criativas” relaciona-se com a capacidade de atrair talento e desenvolver competências inventivas. O trabalho de Richard Florida (2002), sugestivamente intitulado “The Rise of the Creative Class”, marcou esta abordagem, criando o rótulo de “classe criativa” para referenciar os recursos humanos altamente qualificados e inovadores, que estão na base da competitividade e vitalidade das mais dinâmicas áreas urbanas da actualidade. Efectivamente, a capacidade de uma cidade ser criativa e inovadora está decisivamente relacionada com a habilidade para preparar, manter e atrair esta nova “classe” social que domina os conhecimentos e as competências necessárias aos sectores mais avançados, criatividade-intensivos, que criam mais valor e promovem a competitividade nas economias contemporâneas. Independentemente de todas estas complexas questões conceptuais, necessitamos de lidar com a questão das
V
VI
VI I
actividades criativas e do seu papel no desenvolvimento urbano a partir de uma perspectiva pragmática e assumir neste texto um conceito que possa reflectir, de uma forma operativa, esta questão. Neste sentido, consideramos a previamente mencionada definição do UK Creative Industry Task Force, de 1997, que está relativamente estabilizada e é comummente aceite: “aquelas indústrias que têm a sua origem na criatividade, competências e talento individual e que apresentam um potencial para a criação de bem-estar e emprego através da geração e exploração da propriedade intelectual” (ver Marcus 2005). Paralelamente, defendemos uma abordagem ampla na análise e acção sobre as actividades criativas considerando as especificidades das dinâmicas existentes. É imperativo que esta análise represente uma abordagem mais complexa e multidimensional a estas actividades e ao estabelecimento de políticas nesta área. Neste sentido, a abordagem esquemática sugerida pela NESTA pode ser bastante útil. De facto, um importante resultado do recente relatório acima mencionado (NESTA, 2006), foi a apresentação de um novo modelo “refinado” para as indústrias criativas, com o intuito de ajudar a desenvolver novas lógicas de actuação em termos de políticas. Este novo modelo articula as actividades económicas criativas considerando quatro dimensões (ver fig. 1): Fornecedores de serviços criativos, Produtores de conteúdos criativos, Fornecedores de experiências criativas, Produtores de originais criativos. Esta torna-se uma ferramenta útil pois incorpora uma maior percepção das diferenças entre e dentro dos sectores e permite analisar as formas como o valor comercial é criado, como se localiza, ou como pode ser promovido. Combinada com o previamente apresentado conceito de actividades criativas, esta pode ser uma ferramenta poderosa para estudar e actuar nesta área tão difusa. De certa forma, este modelo acaba por sobrepor e integrar várias das definições discutidas nesta secção 2 e nesse sentido vamos considerá-lo para a análise subsequente realizada neste trabalho
ENSAIO
I
FIG. 01
3. AS CIDADES CRIATIVAS NO ÂMBITO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL BASEADAS EM ACTIVIDADES CULTURAIS A retórica de “cidades criativas” está intimamente relacionada com a emergência e afirmação de dinâmicas territoriais bem sucedida centradas no cluster das actividades culturais ou em estratégias políticas viradas para a promoção do desenvolvimento urbano, a regeneração urbana ou a competitividade territorial com base em actividades culturais. Em geral, está intimamente associada a estratégias deliberadas protagonizadas pelas instituições públicas ou por outros agentes visando a promoção da competitividade e do desenvolvimento urbano através das actividades culturais e criativas. Contudo, não se restringe a este tipo de iniciativas nem está directamente associada apenas a estas actividades. Por um lado, é evidente a existência de estratégias de “cidade criativa” que não estão centradas nas actividades culturais. Por exemplo, a promoção de clusters criativos ou a atracção de pessoas “criativas” em certas áreas conhecimento-intensivas específicas (como por exemplo a programação de software, a consultoria, a I&D ou o trabalho académico) tem sido bem documentada e defendida por muitos. Por outro lado, é igualmente claro que as actividades culturais têm sido usadas na promoção do desenvolvimento (territorial) sem relação directa com as estratégias de promoção de “cidades criativas”; frequentemente, têm sido igualmente constatadas situações nas
quais os próprios mecanismos de regulação do funcionamento destas actividades, espontaneamente, induziram o desenvolvimento territorial e a competitividade local, sem a existência de uma estratégia deliberada e concertada (sistemas de produtivos locais, clusters territorializados, dinâmicas de certos bairros culturais, entre outras). Nos parágrafos que se seguem pretende-se mapear e sistematizar brevemente algumas das múltiplas abordagens que têm vindo a ser propostas, ao longo dos últimos anos, para compreender e explicar o papel das actividades culturais na promoção do desenvolvimento territorial e no reforço das vantagens competitivas das cidades e das regiões. Considerando a grande diversidade de abordagens existente, sugere-se uma tipologia exploratória que possa ser útil para ajudar a clarificar as relações que têm vindo a ser estabelecidas entre as actividades culturais/criativas e as dinâmicas territoriais. Não pretendemos obviamente cobrir todas as perspectivas e pontos de vista que têm vindo a ser estabelecidos sobre esta temática mas simplesmente mapear de forma sintética os principais pontos de vista que alimentaram nos anos mais recentes o interesse sobre as actividades culturais enquanto fonte de desenvolvimento e factor de estruturação dos territórios. Convém salientar previamente que nos confrontamos aqui com uma variedade ainda mais vasta do que nas experiências associadas às questões conceptuais abordadas na secção anterior: algumas são explicitamente centradas no conceito de actividades criativas, enquanto outras não; algumas pressupõem a actuação dos poderes públicos, e outras não; algumas estão centradas na necessidade de haver uma acção explícita para a promoção do desenvolvimento, enquanto outras simplesmente assentam na análise das dinâmicas territoriais; algumas têm uma natureza essencialmente empírica, reportando o sucesso de estudos de caso específicos (p.e. operações de desenvolvimento, eventos culturais), enquanto outros configuram abordagens mais conceptuais ou analíticas a estas questões. Mesmo nos casos de acções e políticas específicas e explícitas, algumas são focadas para a intervenção directa sobre a cultura; outras são orientadas para o desenvolvimento local e regional; outras têm preocupações associadas a outros tipos de políticas (p. e. regeneração urbana e qualificação das cidades, inclusão social). Um bom exemplo que nos ajuda a perceber toda esta diversidade é-nos trazido pelo European Research Institute for Comparative Cultural Policy and the Arts (ERICArts, 2002), através da exploração empírica de um amplo conjunto de estudos de caso assentes em bem sucedidas relações entre criatividade artística, governança cultural, gestão inovadora e desenvolvimento urbano. Este projecto internacional de investigação concentrou >>
141
II
III
IV
>> a sua atenção sobre mecanismos de regeneração urbana baseados em actividades culturais, evidenciando em especial algumas experiências assentes em condições particulares no que concerne à criatividade ou resultantes de meios urbanos específicos e formas de governança particulares. Como resultado da multiplicidade de situações e casos identificados, foram exploradas quatro dimensões para explicar a diversidade das experiências de sucesso observadas um pouco por toda a Europa. Estes quatro eixos de análise permitem um entendimento do triângulo “território – ambiente – criatividade cultural”, em termos de toda a diversidade de situações implícita nos diferentes estudos de caso identificados, para cada uma das seguintes dimensões de análise: - Eixo I) As condições culturais: algumas experiências baseiam-se na abundância de oferta local; outras na escassez dessa mesma oferta endógena; outros ainda na presença de influências interculturais. - Eixo II) As condições territoriais: algumas experiências assentam na exploração das vantagens da aglomeração e da concentração; outras apostam na colaboração em rede e na inserção externa; outras ainda conseguem beneficiar da sua própria marginalização e do fechamento ao exterior. - Eixo III) As características na génese da iniciativa: 142 nalguns casos evidencia-se que a criatividade é resultado de um conjunto de fenómenos e dinâmicas que emergem “naturalmente”; noutros destaca-se claramente a presença de relevantes políticas pró-criativas; outras resultam de motivações culturais específicas. - Eixo IV) Os seus efeitos: algumas destas experiências revelam-se culturalmente enriquecedoras; outras funcionam como elementos fulcrais no desenvolvimento local; outras permitem essencialmente a valorização dos recursos territoriais. Este esquema interpretativo revela bem a necessidade de criar ferramentas conceptuais que nos permitam aprofundar o conhecimento acerca destas actividades e mecanismos, bem como todo o potencial ainda por explorar que poderá ser usado para ajudar a criação e implementação de políticas específicas visando a promoção do desenvolvimento urbano com base na criatividade. Considerando este enquadramento geral, podemos sintetizar as principais abordagens às dinâmicas territoriais e estratégias de desenvolvimento baseadas nas actividades culturais, com vista a contextualizar as abordagens associadas às “cidades criativas” neste vasto panorama. Como é possível observar na figura 2 e na tabela 2, podemos sugerir uma tipologia que nos permite distinguir quatro grandes grupos de perspec-
V
VI
VI I
tivas quando lidamos com dinâmicas territoriais baseadas na cultura. Um primeiro e mais estrito conjunto de abordagens (A), corresponde às acções explícitas que são promovidas com o objectivo de erigir a “cidade criativa”. Configuram intervenções explícitas visando a promoção do crescimento e vitalidade urbanas a partir da valorização da criatividade e da cultura, em qualquer uma das três perspectivas anteriormente referidas (isto é, usando a criatividade como ferramenta para o desenvolvimento urbano, concentrando as atenções no desenvolvimento das industrias criativas; ou, apoiando a atracção das classes criativas e do talento). Um segundo grupo (B), mais vasto do que o primeiro, inclui todas as perspectivas que olham para as actividades culturais e criativas como uma fonte de desenvolvimento urbano e assumem a sua utilização na definição de políticas que visam o desenvolvimento urbano ou regional. Por exemplo, podemos incluir aqui todos os tipos de experiências e dinâmicas relacionadas com a organização de grandes eventos culturais ou com a implementação de equipamentos culturais, bem como aquelas que assumem a relevância das actividades culturais nas operações de renovação urbana ou na acção explícita de agências de desenvolvimento local. Um terceiro grupo de perspectivas (C), mais abrangente do que qualquer um dos anteriores (e contendo-os a ambos), pode ser identificado pela consideração das actividades culturais e criativas como factores fulcrais para o desenvolvimento e competitividade dos territórios, independentemente da acção pública e da existência de políticas nesse sentido. Isto inclui portanto não apenas os exemplos anteriores, mas também a análise do papel dos clusters de actividades culturais no crescimento urbano, as suas dinâmicas territoriais, e o en-
FIG. 02
ENSAIO
I
raizamento territorial de sistemas produtivos locais ou meios inovadores baseados em recursos criativos e culturais, por exemplo. Por fim, um quarto (D) e ainda mais amplo conjunto de abordagens sobre a importância das actividades criativas e culturais no desenvolvimento territorial associa-se a um entendimento da cultura numa perspectiva mais vasta e generalista, englobando todas as questões relacionadas com a valorização urbana e regional com base na identidade e cultura locais, pressupondo e assumindo os aspectos endógenos de desenvolvimento na sua dimensão cultural. Isto é claro, por exemplo, quando nos deslocamos para análises centradas na identidade cultural (ou no património) como activo para a competitividade, para os aspectos associados à imagem do território e ao marketing urbano, ou para a afirmação da imagem da cidade nas representações dos seus habitantes e utilizadores.
Como é possível verificar na Figura 2, e como será claro face ao afirmado anteriormente, cada uma destas quatro categorias englobantes de abordagens diversas às experiências de desenvolvimento territorial assentes na cultura, pode ser cruzada com uma outra segmentação transversal: a utilização deliberada do conceito “criativo” como foco para a análise, ou o recurso à mais tradicional noção de “cultura”. De entre os que optam pela primeira destas duas hipóteses (os que mais nos interessam para os propósitos deste texto), alguns usam deliberada e especificamente a noção de “cidade criativa”, explicitamente afirmada como um factor de vitalização urbana. Na secção seguinte, iremo-nos focar neste subconjunto de abordagens (correspondente essencialmente ao bloco “A”) que explicitamente invocam o conceito de “cidade criativa”, com o objectivo de discutir as diversas formas de governança que têm vindo normalmente a sustentar estes tipos de experiências.
(continua no próximo número)
TABELA N°1 Principais abordagens às dinâmicas e estratégias culturais/criativas de desenvolvimento territorial – alguns exemplos. ABORDAGENS DE ANÁLISE ÀS ACTIVIDADES CRIATIVAS E CULTURAIS (AC)
PRINCIPAIS TIPOS DE DINÂMICAS DESCRITAS – ALGUNS EXEMPLOS
A) AC em abordagens explícitas de “cidades criativas”
Inclui a generalidade das iniciativas visando a promoção de “cidades criativas” ao nível local e regional (mas também nacional) - Usando a criatividade como ferramenta para o desenvolvimento urbano (p.E. Landry, comedia,…) - Centrando-se no desenvolvimento das industrias criativas (p.E. Pratt, dcms, nesta, …) - Apoiando a atracção das classes criativas e do talento (p.E., Florida, trimagli,…)
RECURSOS CULTURAIS/CRIATIVOS ASSUMIDOS NUM QUADRO DE UMA POLÍTICA EXPLÍCITA DE “CIDADE CRIATIVA”.
B) AC assumidas como um factor-chave para as acções de desenvolvimento urbano/regional ACTIVIDADES CULTURAIS/CRIATIVAS ASSUMIDAS NA DEFINIÇÃO DE POLÍTICAS COMO UMA PRIORIDADE PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO LOCAL/REGIONAL
C) Dinâmicas das AC como factores importantes para o desenvolvimento territorial DINÂMICAS DAS ACTIVIDADES CRIATIVAS/CULTURAIS COMO FACTOR-CHAVE PARA O DESENVOLVIMENTO E COMPETITIVIDADE , INDEPENDENTEMENTE DA INTERVENÇÃO PÚBLICA
D) Afirmação do território com base na sua identidade e cultura VALORIZAÇÃO DO TERRITÓRIO SUPORTADA NA SUA IDENTIDADE E CULTURA
143
(É assumida e estimulada a demanda da criatividade e dos seus impactos no desenvolvimento urbano) - Eventos e espaços culturais (capitais da cultura; festivais; exposições internacionais, …) - Papel das agências de desenvolvimento local na promoção cultural e revitalização urbana. - Operações de renovação urbana; regeneração urbana; revitalização das cidades (p.E., Temple bar; expo98) (P.E., Bianchini e parkinson; o’connor; wynne; mipc; ericarts,…) Mas também abordagens institucionais ao papel da criatividade no desenvolvimento (eu, unesco, ocde,…) - Dinâmicas localizadas ou sistemas produtivos locais assentes na cultura e criatividade (hollywood, …), - Bairros e comunidades culturais; - Localização intra-urbana das actividades culturais; - Clusters culturais; - Sistemas de inovação; - Meios inovadores baseados em recursos culturais - Cidades da arte - Distritos culturais - Equipamentos e instituições culturais emblemáticos, modelos de organização particulares (e.G, guggenheim; complexos museológicos) (P.E., Scott, hutton, maillat e camagni; gremi, costa, lazzeretti; santagata, …) - Identidade cultural (e património) enquanto recursos competitivos (diferenciação dos territórios com base nos seus activos endógenos) - Imagem do território e marketing da cidade - Afirmação do espaço urbano nas representações internas e externas dos indivíduos sobre a cidade