
8 minute read
LENTE DE AUMENTO
LENTE DE AUMENTO APRENDENDO A PROSSEGUIR:
PANDEMIA, GENOCÍDIO E A INSISTÊNCIA EM ACREDITAR EM DIAS MELHORES
Advertisement
Sou uma das pessoas que, devido ao privilégio da vida, pode fazer quarentena em casa. Estou aqui em tempo integral, trabalhando em regime “home-office” e compartilhando este mesmo espaço desde o dia 14 de março. Portanto, há praticamente 6 meses eu vivo uma rotina que muda pouco fisicamente, porém que se tornou intensa em sua dimensão virtual. Sinto que trabalho muito mais, já que sou professora e tive que passar por uma difícil fase de adaptação do modo clássico de dar aulas (saliva e lousa) para o tecnológico, que eu particularmente não sou fã, mas que entendo como algo importante que aconteceu na minha carreira. Sinto que também falo muito mais com as pessoas. Tenho a sensação de falar com gente o tempo todo pelo Whatsapp, Skype, Zoom, Google Meet, Teams e por aí vai. Até meus contatos com amigos que moram muito longe (em alguns casos, do outro lado do Oceano Atlântico) são mais constantes, em uma demonstração de que a necessidade de interação pode ter aumentado devido ao isolamento social. O humano é um ser coletivo por natureza, que precisa conviver com outras pessoas seja de que modo for. Talvez isso explique, ainda que superficialmente, esse aumento na comunicação virtual entre todos. Meus hábitos também mudaram, e como! Eu, que sempre fui cinéfila, não posso reclamar da quantidade de filmes, curtas e séries que ando vendo. Isso me permite viajar sem sair de casa e me expor à pandemia, ainda mais com a facilidade que se tem hoje em dia de acesso a materiais incríveis via Netflix, Amazon Prime, YouTube e por aí vai. Lembrem-se: eu falo a partir de uma posição privilegiada de quem tem acesso à internet e que pode se dar ao luxo de pagar por essas plataformas (sim, eu considero isso um luxo). No entanto, há um mês mais ou menos, resolvi rever um filme que eu considero uma obra-prima: Hotel Rwanda, produzido em 2004. Trata-se da história de um dos maiores genocídios que o mundo já viu, ocorrido em 1994, retratado com muito primor pelo diretor Terry George. Basicamente, o filme tem como perspectiva pessoas que vivem um genocídio e que possuem pouca margem de atuação para evitá-lo, mas que mesmo assim fazem a sua parte, ainda que isso não impeça o assassinato de milhares de pessoas tutsis. É uma história real em que foram massacradas mais de um milhão de pessoas. A temática do filme é, sem dúvida, bastante pesada, e por óbvio me deixou deprimida, ao ponto de me fazer chorar de tristeza pelo mundo em que vivemos. Isso, contudo, fez com que eu me questionasse se a nossa situação atual, em meio a mais de 140 mil mortos pelo Brasil afora, não poderia ser um paralelo com o contexto retratado no filme, afinal, as notícias indicam que há uma ingerência profunda por parte dos governos no combate à pandemia e que isso culmina na morte de milhares de brasileiros e brasileiras que não possuem condições de, como eu, se cuidarem, de ficar em casa e fazer a quarentena como é a orientação da Organização Mundial da Saúde (OMS). As camadas mais pobres da população, as menos escolarizadas, os marginalizados de sempre desse nosso país tão desigual estão totalmente expostos a esse vírus, a essa situação que parece não ter fim, e quando olhamos para fora das nossas janelas do privilégio, pouco podemos fazer para reverter esse perverso quadro. É possível, grosso modo, classificar todo o quadro atual de genocídio e afirmar que pessoas como eu, que se importam com o outro que está lá fora, estão assistindo isso acontecer, sem saber muito bem como lidar com essa situação toda. Como professora de Direitos Humanos que sou, entendo necessário tratar aqui do conceito de genocídio que temos tanto na lei brasileira quanto nos tratados internacionais. Comecemos pela lei brasileira n° 2889/56, sancionada na época do Pres. Juscelino Kubitscheck. Em seu texto, consta: “quem, com a intenção de destruir, no todo ou em parte, grupo nacional, étnico, racial ou religioso, como tal: a) matar membros do grupo; b) causar lesão grave à integridade física ou mental de membros do grupo; c) submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar-lhe a destruição física total ou parcial; d) adotar medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo; e) efetuar a transferência forçada de crianças do grupo para outro grupo” está cometendo o crime de genocídio. É praticamente a cópia do texto da Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio, de 1948, aprovada no âmbito das Nações Unidas (ONU). Aqui, portanto, temos um conceito que atrela a prática de genocídio a uma conduta dolosa, com intenção de eliminar ou destruir, ainda que parcialmente, algum grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Os milhares de mortos no Brasil podem não configurar um grupo único de pessoas, já que racialmente eles são brancos, negros e indígenas. No entanto, por atingir diretamente a população pobre que é em sua maioria composta por negros, há, assim, uma incidência maior da pandemia sobre eles. Algo idêntico podemos pensar sobre os indígenas, muito afetados pela Covid-19, como demonstram dados dos Estados do Pará, Amazonas, Amapá e Roraima, sem que fossem tomadas efica-
zes atitudes de proteção e combate ao vírus. Nesse caso específi co, seria possível afi rmar que de fato há um genocídio negro e indígena em andamento no Brasil. Esta terminologia já vem sendo usada nos estudos sobre a pandemia e seus impactos sobre negros e indígenas, para além das vítimas brancas. Portanto, pode-se dizer que não é exagero enxergar a real situação do país e classifi cá-la como genocídio, pois esse crime não se limita somente ao assassinato direto de pessoas, mas engloba também práticas passivas que levem à morte pessoas de determinados grupos, como é a terceira hipótese citada acima (submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar-lhe a destruição física total ou parcial). Deixar as pessoas a sua própria sorte, nesse contexto de pandemia em que há um vírus letal arriscando a vida de todos, é uma das formas de se praticar o genocídio. O agravante é que nem é possível dizer que os governos atuam sozinhos, já que segmentos da própria sociedade, em alguns casos formados por pessoas nem tão privilegiadas quanto eu, adotaram o discurso ofi cial do “deixa morrer”. Não há apenas um genocida, mas milhares, que assistem às mortes com diversos olhares que vão do impiedoso até o debochado e o indiferente. Esta conclusão me fez parar e pensar na minha posição diante desse massacre todo. Ver passivamente tudo isso me causa profunda dor, considerando que sempre fui uma pessoa coletiva e até otimista com dias melhores. Porém, atualmente, minha coletividade se expressa virtualmente por causa da quarentena e meu otimismo pela utopia de um mundo melhor se esvai, oscilando entre o “zero” e o pouco positivo que pode estar. Minha sensação de impotência diante dessa silenciosa tragédia que nos acomete e que nos anestesia todos os dias me fez questionar sobre como outras pessoas viveram experiências de genocídio, em que elas tinham plena consciência do que viviam, mas sabendo que muito pouco ou nada poderiam fazer para evitar. Busquei na internet algo que acalmasse a minha mente nesse sentido: como me preparar psicologicamente para atravessar esse doloroso período sem comprometer a minha saúde mental, mas ao mesmo tempo sem me tornar uma pessoa insensível e apática com a realidade. Encontrei uma entrevista com um sobrevivente de Rwanda, Philip Gourevitch, intitulada “We Wish To Inform You Th at Tomorrow We Will All Be Killed With Our Families”, para a ABC da Austrália, devido ao aniversário de 25 anos do genocídio. Nela, Philip narra que mesmo após os tribunais para julgamento dos responsáveis, ainda há traumas que não foram curados, pois o próprio tribunal representa viver novamente todo aquele momento. A lei faz justiça, mas não haveria justiça para aqueles que sobrevivem a um genocídio, não há reconciliação somente pelo fato de ter havido um tribunal que aplicou a lei, fazendo “justiça”. Essa reconciliação é lenta e ocorre de pessoa para pessoa, já que o olhar do sobrevivente acusa aquele que participou do genocídio ativa ou passivamente. Nessa parte, Philip entende que muitas pessoas agiram daquela forma em Rwanda devido ao contexto, sentindo-se autorizadas pelo governo, mas que se não fosse assim, provavelmente elas não teriam assassinado ninguém. Pois bem. Tenho essa mesma sensação. Olho com acusação para aqueles que não usam máscara, que defendem remédios sem comprovação científi ca, que classifi cam o vírus como “gripezinha” ou que são simplesmente indiferentes com a dor alheia. Mas também vejo que muitos não agiriam dessa forma se não fosse o contexto atual. O pior lado das pessoas está afl orado, diminuindo muito a visibilidade do lado bom. É isso que eu trato de reverter em mim para poder sobreviver a esse momento. A minha insistência em acreditar em um futuro e em dias melhores está em buscar ver o lado positivo no meio de tantas trevas. Não me reconcilia com ninguém, nem absolve ninguém ao meu olhar. Mas é a minha forma de resistência ver que somente nós, por meio do nosso melhor lado (o comunitário, o solidário, o virtuoso), poderemos fazer com que possamos contar essa história às próximas gerações sem qualquer tipo de remorso. Afi nal, pelo menos eu não ajudei a esse genocídio e nem fui indiferente.
Ana Claudia Santano é professora do Centro Universitário Autônomo do Brasil – UniBrasil.


>>> Gazetas Indicação de Filme
Hotel Ruanda (2004)
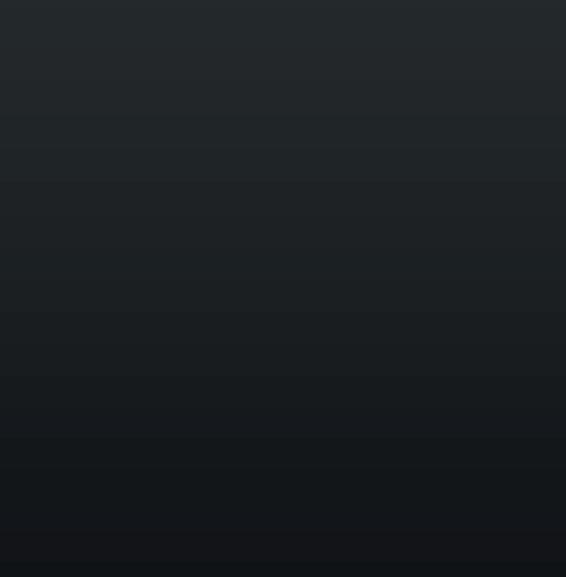
Baseado em fatos reais, o fi lme retrata a saga de um gerente de hotel que tenta salvar pessoas da etnia tutsi do genocídio perpetrado pela maioria hutu, após o assassinato do presidente que tentava um acordo de paz.











