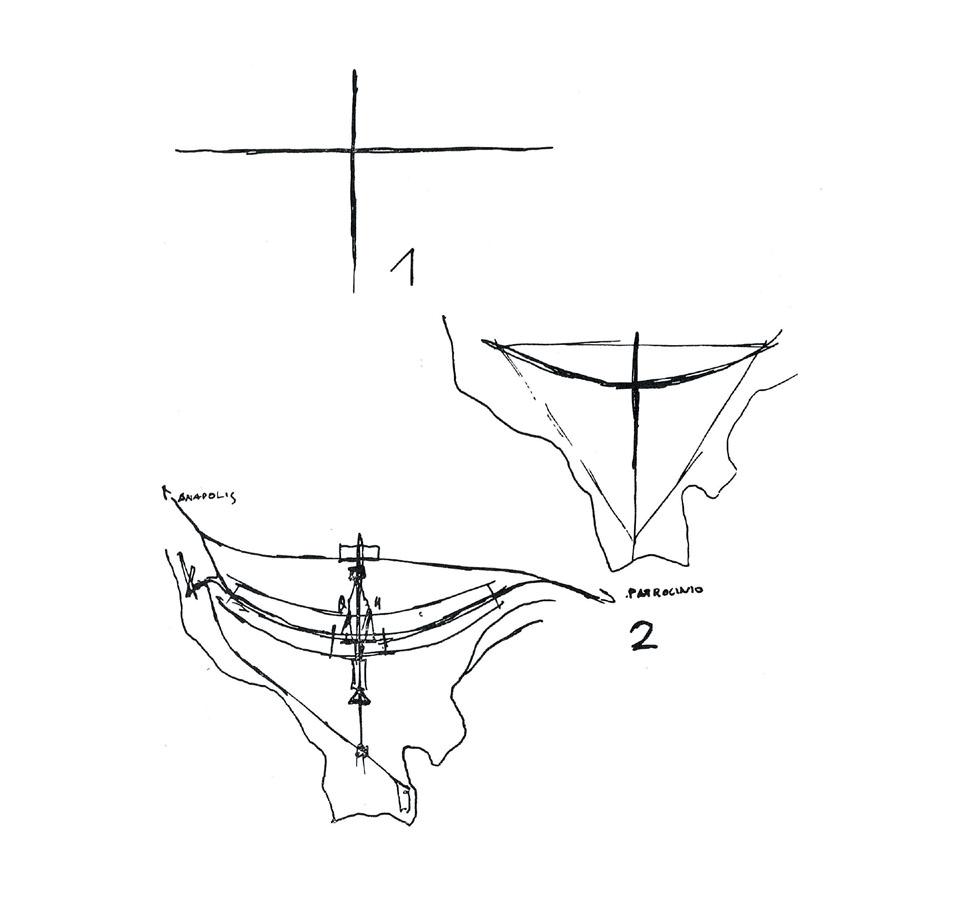19 minute read
O 'outro' na tekhne
3 Objeto Técnico
1. Bernard Stiegler, Technics and Time, 1: The Fault of Epimetheus (Palo Alto: Stanford University Press, 1998). Publicado originalmente em francês como La technique et le temps, 1: La faute d’Épiméthée (1994) (...) entre os seres inorgânicos das ciências físicas e os seres organizados da biologia, há de fato um terceiro gênero de ‘seres’: os ‘seres inorgânicos organizados’, ou objetos técnicos. Essas organizações inorgânicas de matéria dispõem de uma dinâmica própria se comparados com as dos seres estritamente físicos ou biológicos; uma dinâmica, além do mais, irredutível ao ‘agregado’ ou ‘produto’ desses seres - Bernard Stiegler1
Advertisement
Há um nome pelo qual ainda não chamamos o “dispositivo”, mas que permanece ainda fiel ao sentido que queremos dar ao termo: objeto técnico. Isto é, as coisas que em geral temos por “dispositivos” são mais comumente compreendidas como pertencendo à classe dos objetos técnicos.
Assim como foi feito no capítulo anterior, as próximas páginas dispensarão temporariamente a discussão tópica sobre a arquitetura para que, num segundo momento, seja possível retornar a ela com alguns pressupostos deslocados sobre as ideias de “monumento” e “objeto técnico”, com todas as implicações que elas sinalizam para a discussão arquitetônica.
Para o senso comum, o que parece definir um objeto técnico, diferentemente dos objetos tidos como “monumentais”, não é a capacidade de representar uma memória ou um significado anterior, mas unicamente a sua vocação para servir a uma produção, ou a um fazer em geral. E, como tudo aquilo cuja vocação é servir, o objeto técnico deve ser invariavelmente mudo; tal qual o servo, deve ser apartado de qualquer origem e qualquer intenção próprias.
O objeto técnico parece para nós desprovido daquilo que parece “animar” o monumento, isto é, da capacidade discursiva de produzir em nós um efeito cognitivo. O monumento nos permite conhecer no monumento, na memória que ele armazena e re-presenta. O objeto técnico, pelo contrário, não parece oferecer nada à cognição, não parece em si mesmo capaz de representar um significado, um conhe-
cimento ou uma memória: ele é um instrumento que permite, quando muito, mediar a busca por um conhecimento que lhe é externo e que pertence, sobretudo, a um porvir. Ele aparece para nós como um meio para certos fins.
Se o que geralmente entendemos por “monumento” é a expressão reflexiva de nós mesmos, de nossa história, do significado de ser humano, é porque o concebemos intencionalmente à nossa própria imagem: mesmo que se trate de um “objeto” e não de um “sujeito”, o monumento nos parece ainda assim uma espécie de objeto animado, falante. O monumento se torna, diante dessa perspectiva, não tanto um instrumento ou um produto de uma “técnica”, mas algo como um humanoide: a imagem de nós mesmos projetada na matéria. Uma imagem que, além do mais, conhece e fala como nós mesmos, que parece conservar memórias e intenções que são também as nossas, e com a qual estabelecemos uma relação de interlocução e autoconhecimento. Esse monumento é a matéria individuada e subjetivada: ele não é o meio para nada, mas um “fim” em si mesmo. Talvez por isso mesmo tenhamos nos acostumado a diferenciá-lo (junto com todos os outros objetos ditos “artísticos” ou “culturais”, isto é, humanoides), em uma relação opositiva e hierárquica, da categoria não-humana (não-humanoide) dos objetos técnicos.
O ‘outro’ na tekhne
O filósofo francês Gilbert Simondon, na introdução de seu seminal Do Modo de Existência dos Objetos Técnicos (1958), escreveu que a história da relação entre seres humanos e objetos técnicos se mostrou fundamentada numa profunda incapacidade de reconhecer o eu (humano) no outro (não-humano): A cultura se comporta em relação ao objeto técnico como o homem em relação ao estrangeiro, quando se deixa levar pela xenofobia primitiva. (...) Ora, esse estrangeiro ainda é humano, e a cultura integral é a que permite descobrir o estrangeiro como humano. A máquina é a estrangeira em que está encerrado um humano desconhecido, materializado e subjugado, mas que, ainda assim, permanece humano. (...) A cultura é desequilibrada, pois reconhece certos objetos, como o objeto estético, e lhes confere o direito de cidadania no mundo das significações, mas remete outros objetos, em particular os objetos técnicos, para o mundo sem estrutura daquilo que não possui significação, mas apenas uso, função útil2 Aqui, o domínio dos “significados” aparece, no senso comum denunciado por Simondon, dissociado do domínio das coisas que possuem função, que são úteis: uma relação de oposição que nos levaria a qualificar de forma distinta, por exemplo, os objetos técnicos e os monu-
2. Gilbert Simondon, Do Modo de Existência dos Objetos Técnicos (Rio de Janeiro: Contraponto, 2020), pp. 43-44
3. Aristóteles, Ética a Nicômano (São Paulo: Nova Cultural, 1991), p. 125. O trecho citado aqui apareceu para mim, originalmente, citado em inglês em Technics and Time (1994), de Bernard Stiegler. Para não incorrer em nenhuma imprecisão decorrente da tentativa de traduzir, do inglês, um texto ele mesmo traduzido previamente do grego, optei por recorrer à tradução portuguesa da Ética, feita por Leonel Vallandro e Geord Bornheim. mentos. De um lado, teríamos os instrumentos, aqueles meios nos quais as intenções pré-concebidas dos seres humanos são veiculadas em direção a um efeito produtivo também pré-determinado. De outro, teríamos os monumentos, os próprios “produtos” dessa veiculação; os objetos nos quais nós projetamos a nossa própria imagem e história; objetos de certa forma “humanizados”, animados pela imagem humana refletida neles. O objeto técnico estaria para a caneta como o monumento estaria para o papel-texto; como a ferramenta para a obra de arte.
Ora, mas não vimos anteriormente, a partir das palavras de Riegl, que o monumento é, também, um objeto essencialmente instrumental? Que ele tem uma clara função útil, a saber, a de “manter sempre presente na consciência das gerações futuras algumas ações humanas ou destinos”? Um papel contendo um texto não seria, tal qual a caneta, ao seu modo o veículo para a produção de efeitos ulteriores dos quais esse texto é, ele mesmo, o instrumento? De fato, o monumento está muito mais próximo do objeto técnico do que estamos acostumados a admitir. Mas é ainda compreensível que essa identificação seja, em geral, controversa (ainda mais se invertermos os seus termos, isto é, se dizemos que o objeto técnico é um monumento). Essa relutância parece se justificar pelo fato de que, por mais que o monumento seja também um instrumento, sua “instrumentalidade” nos parece ser de uma natureza completamente diversa da do objeto técnico. Eles parecem empenhar dois modos opostos de produção para os quais atribuímos diferentes valores morais.
A produtividade do objeto técnico, da forma como estamos acostumados a entender o sentido de “produção”, parece se explicar por um movimento em direção ao “fora”, ao novo, à categoria do possível. Não só pelo fato de que os objetos técnicos estão em relação de exterioridade e alteridade com os seres humanos, como porque eles mesmos, se considerados como instrumentos, estão orientados para a produção de uma “finalidade” externa, de um porvir. Esse entendimento têm sua razão de ser, e é conceitualmente correto: ele é traçável ao pensamento de Aristóteles, para quem “toda arte [tekhne] visa à geração e se ocupa em inventar e em considerar as maneiras de produzir alguma coisa que tanto pode ser como não ser”3 .
Por outro lado, o que é produzido no monumento, como vimos, é a imagem humana, a imagem do “eu”, do “nós”: ainda que ele seja também algo “externo” a nós, que pertença ao “fora” da vida orgânica, ainda que não seja um ser humano em si mesmo, ele significa o ser humano e lhe conserva a memória. Como toda reflexão (pensemos no espelho), o monumento olha de volta para sua gênese, para a sua “essência”. Esse é, talvez, o motivo pelo qual costumamos separar, da imensa massa de objetos “estrangeiros” que nos cercam, alguns objetos “especiais” com os quais nos permitimos identificar. O monumento,
ainda que envolvido numa produção, numa tekhne, é tido por nós como um instrumento do conhecimento, da episteme: pois o que ele revela não nos parece tanto pertencer à exterioridade das coisas “possíveis”, mas à categoria das coisas que interiorizam, que nos remetem de volta a uma “origem”.
No primeiro volume de Technics and Time (1994), Bernard Stiegler observa que a oposição histórica entre os conceitos tekhne e episteme, iniciada na filosofia clássica, explica a longevidade desse preconceito generalizado em direção aos objetos técnicos. Na origem de sua história, a filosofia separa tekhne de episteme, uma distinção que, até os tempos Homéricos, ainda não havia sido feita. A separação é determinada por um contexto político, no qual o filósofo acusa o Sofista de instrumentalizar o logos como retórica e logografia, isto é, simultaneamente enquanto um instrumento de poder e uma renúncia do conhecimento (...). É na herança desse conflito – no qual a episteme filosófica se lança sobre a tekhne sofista - donde todo conhecimento técnico é desvalorizado – que a essência das entidades técnicas é concebida4 Stiegler observa que, para Aristóteles, o objeto da tekhne (diferentemente dos seres vivos) não contém o princípio de sua gênese e de seu movimento em si mesmo; ele é inerte, e por isso mesmo qualquer produção (poiesis) que ele possa empenhar só pode ser causada por algo externo a ele (um produtor), para um desígnio ao qual ele serve de meio e com o qual ele não se confunde. “Nenhuma forma de ‘autocausalidade’ anima os seres técnicos. Em razão dessa ontologia, a análise da técnica é feita em termos de meios e fins, o que implica necessariamente que nenhuma dinâmica própria pertence aos seres técnicos”5. Além disso, esses objetos, por não possuirem o princípio da gênese em si mesmos, estariam por isso mesmo sempre isolados de sua origem, de um produtor do qual eles se diferenciam e se afastam, e cuja essência eles não compartilham.
Se haveria alguma verdade na atividade da tekhne, portanto, não se trataria do objeto de um conhecimento real (episteme) do qual se ocupam os filósofos, mas de uma verdade aparente (dóxa), um simulacro desvinculado de sua origem e desprovido de “dinâmica própria”. O conhecimento técnico, ao se associar a esses simulacros, a esses objetos “órfãos”, de nada valeria ao conhecimento científico: ele não serviria à busca da verdade original (aletheia) porque dependeria de objetos inteiramente dissociados dela. O conhecimento técnico em nada serviria aos filósofos, mas apenas aos interesses dos falseadores da verdade, responsáveis (conscientemente ou não) por instrumentalizá-la para fins mundanos.
Essa oposição entre tekhne e episteme teve em Platão um dos seus primeiros e mais importantes promotores, para quem ela apareceu sob o problema da escrita. Derrida, em A Farmácia de Platão (1985),
4. Stiegler, B. (1998), p. 1. T.M.
5. Ibid., loc. cit. T.M.
6. Jacques Derrida, A Farmácia de Platão (São Paulo: Iluminuras, 2005), p. 23
7. Ibid., p. 34
8. Id. (1991), p. 354 atribui ao filósofo grego a ideia de que a escrita seria incompatível com a verdade (aletheia) – e aliás responsável por falseá-la – na medida em que o texto escrito, ao se afastar de sua origem (ao comunicar o “querer-dizer” de seu autor em sua ausência, mas também ao empregar o graphein, o signo-marca, que é por excelência a re-presentação de uma realidade ausente), se degradaria, transformando-se em mito: um veículo para uma memória “órfã”, anônima e ilegítima. O estatuto desse órfão que assistência alguma pode amparar recobre aquele de um graphein que, não sendo filho de ninguém no momento mesmo em que vem a ser inscrito, mal permanece um filho e não reconhece mais suas origens (...). À diferença da escritura, o lógos [a “fala”] vivo é vivo por ter um pai vivo (enquanto o órfão está semimorto), um pai que se mantém presente, de pé junto a ele, atrás dele, nele, sustentando-o com sua retidão, assistindo-o pessoalmente e em seu nome próprio6 Não seria possível recorrer à escrita sem abdicar, portanto, da presença de toda origem, de toda possibilidade de episteme. A fala (lógos), por outro lado, por mais que, ela mesma, uma forma de “representação”, não obstante ocorreria na presença de sua instância geradora, do “sujeito que fala” e do qual ela não se dissocia jamais: o lógos é o veículo privilegiado da aletheia, é a forma original de apresentação de um “pensamento divino já formado, um desígnio decretado”7 .
A fala não se dissocia do sujeito que fala, do ser vivo que é o receptor e o mediador da ideia (eidos) divina: ela está sempre referenciada num interior do qual ela nunca se separa completamente, pois a fala só permanece viva enquanto se fizer presente a sua origem, o seu “pai”.
A escrita, por outro lado, promove um “parricídio”: confiante de poder conservar a verdade e a memória de sua gênese mesmo estando dissociada dela, ela profana e abdica de sua origem, tornando-se inútil ao conhecimento.
Como vimos nos capítulos anteriores, com Derrida, o processo histórico de especialização do signo (ou se quisermos, símbolo) – sua progressiva instrumentalização, sua capacitação para servir a um uso social, ou seja, seu desenvolvimento como escrita – é precisamente o caminho pelo qual ele se distancia cada vez mais de seu referente. Ele desfaz, por assim dizer, seu vínculo significante com uma origem “real” (sua verdade, aletheia).
O signo escrito, externalizado (tornado uma memória auxiliar, objeto técnico), para que seja capaz de “comunicar qualquer coisa aos ausentes”8, deve se ausentar a si próprio da realidade originária daquilo que ele comunica. Ele pode apenas comunicá-la de forma débil – não mais dizer a verdade do que se vê (ou do que se intui), mas apenas escrever o que se ouviu, escrever o que já foi escrito, e assim por diante. Em outras palavras, para lançar-se sobre o
futuro, para tornar-se instrumento, o signo deve progressivamente se ausentar de sua memória viva (mnéme), de sua origem e seu lastro na realidade.
A oposição ontológica entre a fala e a escrita se justificaria, portanto, nos diferentes estatutos que elas fazem de uma origem: ou então, nos diferentes tipos de memória (mnéme) a que cada uma delas recorre. A memória à qual recorre o sofista, o produtor do discurso escrito, seria descrita por Platão como hypómnesis, uma memória menor, re-presentação órfã de uma apresentação original; o simulacro inautêntico da memória psíquica e interior conservada pela anamnese, a “verdadeira ciência” da qual se ocupa o filósofo.
A hypómnesis, a memória protética promovida pela escrita, não é para Platão apenas ilegítima, órfã, mas verdadeiramente perigosa, parricida. Ele explica o motivo, no Fedro, por meio de Sócrates, quando este narra para Fedro o mito do deus egípcio Theuth.
Theuth, tendo descoberto o “remédio” (phármakon) definitivo para a perda de memória – a escrita – vai até o rei Thamous (mensageiro e representante dos deuses, ele mesmo a personificação do lógos) na intenção de convencê-lo a ensinar, para todo o Egito, o conhecimento da escrita. “Eis aqui, oh, Rei, um conhecimento que terá por efeito tornar os Egípcios mais instruídos e mais aptos a se rememorar: memória e instrução encontram seu remédio”9. No que o Rei, rejeitando a descoberta de Theuth, lhe diz que o seu phármakon não é em nada um remédio, mas na verdade um veneno10: Pois este conhecimento [o da escrita] terá, como resultado, naqueles que o terão adquirido, tornar suas almas esquecidas, uma vez que cessarão de exercer sua memória: depositando, com efeito, sua confiança no escrito, é do fora, graças a marcas externas, e não do dentro e graças a si mesmos, que se rememorarão das coisas. Não é, pois, para a memória, mas para a rememoração que tu descobristes um remédio [phármakon]. Quanto à instrução, (Sophías de), é a aparência (dóxan) dela que ofereces a teus alunos, e não a realidade (alétheian)11 Mas, contraditoriamente ao que antes parecíamos supor, é na escrita – na tekhne, e não na episteme – que nos deparamos com o monumento. O que Platão disse a respeito da escrita, ele diria tanto dos objetos técnicos como de qualquer monumento. Qualquer forma de exteriorização promovida pela tekhne, seja ela escritura, monumento, instrumento ou qualquer outra coisa que se separe de sua origem (conservando dela, quando muito, a “aparência” da memória) para atender a um fim instrumental, é igualmente profana.
“O sofista vende, pois, os signos e as insígnias da ciência: não a própria memória (mnéme), mas somente os monumentos (hypomnemata)”12. “Monumento” não seria, se não, um dos nomes da escrita, do
9. Platão, Fedro; apud. Derrida, J. (2005), p. 21 10. Como Derrida aponta, a palavra phármakon, do grego, pode significar tanto “remédio” como “veneno”. O emprego que Platão faz do termo para descrever a essência da escrita, embora tenda para o sentido negativo, expõe essa ambiguidade: a escrita, embora se apresente como “remédio” para a memória, como um instrumento para conservar o conhecimento dos seres humanos para além da sua morte, promoveria no entanto o efeito contrário; ela não só tornaria os homens menos aptos a exercitar a memória, como os afastaria cada vez mais do conhecimento da verdade, que só poder ser apreendida pela anamnese, pelo contato direto com a essência (eidos) das coisas. 11. Platão, Fedro; apud. Derrida, J. (2005), p. 49 12. Derrida, J. (2005), p. 54
13. Ibid., pp. 55-6. Grifo meu “objeto técnico”, da memória artificial. Mais à frente, Derrida sintetiza o que queremos dizer: O que Platão visa, então, na Sofística, não é o recurso à memória, mas (...) a substituição da memória viva pela memória-auxiliar, do órgão pela prótese, a perversão que consiste em substituir um membro por uma coisa (...). O limite (entre o dentro e o fora, o vivo e o não-vivo) não separa simplesmente a fala e a escritura, mas a memória como desvelamento (re-)produzindo a presença e a rememoração como repetição do monumento: a verdade e seu signo, o ente e o tipo. O “fora” não começa na junção do que chamamos atualmente o psíquico e o físico, mas no ponto em que a mnéme, em vez de estar presente a si em sua vida, como movimento da verdade, se deixa suplantar pelo arquivo, se deixa excluir por um signo de re-memoração ou de com-memoração. O espaço da escritura, o espaço como escritura, abre-se no movimento violento dessa suplência, na diferença entre mnéme e hypómnesis13 Voltemos ao início. O que queríamos era justamente promover uma espécie de identificação do monumento em direção ao objeto técnico. O que antes tínhamos por um objeto nobre, humano (pois constituído à nossa própria imagem e memória), aparece sob a ideia clássica de tekhne como hypómnesis, um objeto profano, não-humano.
Mas essa perspectiva, aberta pelo recurso à Platão, não é propriamente a constatação de uma identificação. Não identificamos o eu no outro, o humano na máquina, como quis Simondon. O que ela promove é muito mais o “desmascarar” de um impostor, de um falso-eu (a prótese, o signo do eu) a sua deportação de volta para o domínio do outro. Não há identificação nessa perspectiva, não há a derrubada do muro que divide tekhne e episteme: nesse sentido, dizer que o monumento é um objeto técnico é simplesmente expropriá-lo para o polo exterior do dualismo episteme/tekhne, que permanece ainda intacto.
Se queremos, com a ideia de “monumento”, desfazer o dualismo entre episteme e tekhne (donde humano/não-humano, interior/exterior), é preciso que o monumento não apenas possa também transitar de volta para o campo da episteme, mas que possa trazer consigo o objeto técnico. Não basta que o “monumento” seja também objeto técnico: é preciso que o objeto técnico possa ser também “monumento” : que tekhne e episteme sejam uma coisa só. É preciso, para além de colocar os signos do eu (os objetos técnicos, re-presentações) no campo exterior do outro, identificar como esses mesmos signos são o lugar mesmo da identificação, da identidade entre eu e outro.
Mas como observou Stiegler, o histórico problema da alterização dos objetos técnicos parece ainda longe de ser pacificado. Pelo contrário, quanto mais esses objetos se multiplicam ao nosso redor, mais opacos e estranhos eles nos parecem (lembremos de Derrida, para quem iterar significa tanto reproduzir e multiplicar como alterizar,
produzir “outros”). O problema do phármakon pareceu, na história do pensamento da técnica, apenas se reatualizar. A cada nova “promessa” operada nas constantes e sucessivas iterações da tecnologia, é feito soar o alarme platônico do afastamento da origem, da desumanização operada pela tekhne.
Mas se em Platão, escreve Stiegler, “a tecnicização é o que produz a perda da memória”14 – donde por séculos a questão da tekhne teria despertado muito mais a preocupação e o desdém dos filósofos do que a atenção do debate público – a modernidade traria contornos muito mais graves à oposição tekhne/episteme.
Com o advento das revoluções industriais e das subsequentes guerras mundiais, a realidade da “tecnologia moderna” mostrava-se substancialmente diferente da tekhne que havia sido problematizada até então pelos filósofos: A reflexão filosófica defrontava-se agora com uma expansão técnica tão abrangente que todas as formas de conhecimento eram mobilizadas e atraídas para o domínio da instrumentalidade, em relação ao qual a ciência, tendo seu estatuto epistêmico e seus fins determinados pelos imperativos da crise econômica ou da guerra, se encontrava cada vez mais sujeita15 Esse aparelhamento da episteme pela tekhne trazia ainda consigo, na esteira da evolução sem precedentes da tecnologia moderna, um novo “arquétipo” do objeto técnico, até então desconhecido pelo debate filosófico e substancialmente diferente dos tradicionais instrumentos da tekhne: a “máquina”. A máquina era ontologicamente irredutível à tekhne no sentido clássico, segundo a qual seus objetos não possuiriam um princípio de ação em si mesmos. Ela não era mais uma simples ferramenta, um objeto que só poderia ser animado pela vontade humana, por um princípio cinético externo a ela. Enquanto a “ferramenta” seria descrita por Simondon como o modo de existência mais “primitivo” do objeto técnico – sua interface produtiva com o humano, o “portador de ferramentas”, consistindo numa espécie de “simbiose instintiva”16 – a máquina possuía um novo modo de existência. Ela era, como o ser humano, em si mesma uma portadora de ferramentas, um “indivíduo-máquina”.
Não tardou para que entre os humanos e esses novos seres começasse a se configurar, numa paisagem cada vez mais organizada pelas máquinas, novas relações de alteridade. Não se tratava mais de um outro servil, inerte até segundas ordens, mas de um objeto que em nada parecia depender da vontade humana. A ideia moderna de “máquina” teria dado origem, segundo Simondon, à representação mitológica do robô: a projeção da imagem humana no indivíduo técnico, uma forma ambígua de alterização que poderia motivar tanto um “tecnicismo descomedido, que não passa de uma idolatria da máquina”17, quanto a ideia de um inimigo hostil e usurpador.
14. Stiegler, B. (1998), p. 3
15. Ibid., p. 2
16. Simondon, G. (2020), p. 40
17. Ibid., p. 44. “O homem que quer dominar seus semelhantes invoca a máquina androide. Então abdica diante dela e lhe delega sua humanidade. (...) Transformada pela imaginação nesse duplo homem que é o robô desprovido de interioridade, a máquina representa um ser mítico e imaginário”.