 Emanoel Amâncio Tradição
Heitor Feitosa História
Stênio Diniz Cultura
Chico Palmeira Música Jefferson Albuquerque Cinema
Emanoel Amâncio Tradição
Heitor Feitosa História
Stênio Diniz Cultura
Chico Palmeira Música Jefferson Albuquerque Cinema
 Emanoel Amâncio Tradição
Heitor Feitosa História
Stênio Diniz Cultura
Chico Palmeira Música Jefferson Albuquerque Cinema
Emanoel Amâncio Tradição
Heitor Feitosa História
Stênio Diniz Cultura
Chico Palmeira Música Jefferson Albuquerque Cinema
Jornalismo, memória e história
O jornalismo está incontestavelmente ligado ao jogo da memória, localizando o leitor no tempo e no espaço através de suas múltiplas narrativas. São vários tipos de jornais, muitos modos de narrar, modos que envolvem também múltiplos contextos históricos. Identidade jornalística e memória, assim, têm uma relação direta.
O projeto “Memórias Kariri” que chega, agora, à terceira edição, tem o objetivo de mostrar o Cariri do passado e do presente. Neste número, a revista passeia por personagens comuns, mas singulares no horizonte da nossa história, muitos parecidos com outros que povoam essa rica região.

Como Chico Palmeira, 66 anos, de Santana do Cariri, agricultor desde criança, resolveu trilhar pelo mundo da música. Aprendeu sozinho a tocar sanfona, violão, baixo, guitarra, bateria, teclado, cavaquinho e zabumba. Depois de muitas experiências, hoje destina seu tempo ao ensino de instrumentos musicais.

Já seu Emanoel Amâncio, 102 anos, também agricultor, sabe muito das coisas da roça e do Cariri. Ele gosta de esquecer das coisas desagradáveis, mas conta com humor muitos casos, incluindo, quando criança, um fantástico encontro com Lampião e Padre Cícero.


O cinema também está presente nesta edição através do cineasta cratense Jefferson Albuquerque. Ele foi diretor do célebre documentário Dona Ciça do Barro Cru. Jefferson fala sobre as suas lutas pelo cinema do Ceará desde os anos 60, dos primeiros festivais, da sua atuação com grandes diretores brasileiros e dos problemas enfrentados até hoje pelo cinema cearense.
A história da colonização do Cariri é contada pelo pesquisador Heitor Feitosa, atual presidente do Instituto Cultural do Cariri (ICC). Ele esclarece o processo de colonização da região desde a Casa da Torre, empreendimento da família Garcia D’Ávila, na Bahia, donos de quase todo o Nordeste no período do Brasil Colônia. Uma saga de guerras, banditismo, escravidão e extermínio dos índios.
O mestre Stênio Diniz guarda segredos da sua arte que já ganhou o mundo. Tipógrafo, xilógrafo, desenhista, pintor, dramaturgo, intérprete e poeta, Stênio tem um baú de histórias. Das bienais à perseguição que sofreu pela Ditadura Militar; das suas idas a Europa, principalmente Alemanha, ao Cari-
Índice
ri e da sua visão de mundo como um dos artistas mais premiados do Brasil.
Confira também um ensaio fotográfico sobre a menina Benigna Cardoso, de Santana do Cariri, considerada santa popular pelos caririenses. Ela foi assassinada ainda criança, depois de resistir a uma tentativa de estupro. Anualmente, no dia 24 de outubro, acontece uma romaria realizada pela Igreja Católica em homenagem a sua história de vida.
O conjunto das matérias jornalísticas apresentadas por esta revista representa um importante fragmento da memória do Cariri. A concepção do jornalismo, enquanto complexo da história-memória, produz relatos significativos como documento do passado.
Boa leitura!
Chico Palmeira
66 Benigna: Romaria, fé e resistência Heitor Feitosa

24 Jefferson Albuquerque
Expediente
Expediente
Texto e fotografia: Anna Carla de Morais
Breno Árleth
Caio Botelho
Iara Meneses
Joedson Kelvin
Natália Oliveira
Professor orientador: José Anderson Sandes

Projeto gráfico: Isaac Brito Roque
Diagramação: Paulo Anaximandro
Edição 3
Juazeiro do Norte, Novembro 2018 Revista experimental do projeto “Memórias Kariri” vinculado à Pró-reitoria de Cultura da Universidade Federal do Cariri.
José Anderson Sandes Professor OrientadorChico Palmeira Chico Palmeira
Agricultor,
professor e músico

Palmeira tem 66 anos e reside na cidade de Santana do Cariri, Ceará. Desde criança, possui envolvimento com a música e uma variedade de instrumentos. Durante sua vida, foi um profissional da área musical, viveu diversas experiências enquanto artista e continua difundindo conhecimentos para outras pessoas, na sua casa e em toda a região do Cariri. Ele guarda uma história de dedicação e amor à música regional. Aprendeu sozinho, de ouvir e olhar, a tocar sanfona, violão, baixo, guitarra, bateria, teclado, cavaquinho e zabumba.
Chico
Qual o seu nome completo?
Meu nome completo é um nome que eu sempre me repudiei. Eu gosto de usar é o meu nome de guerra: Chico Palmeira. Não gosto de usar o meu nome completo em nada que se refira a vida artística, em matérias que fale de mim como artista.
E de onde vem o nome “Chico Palmeira”?
No começo da minha vida artística, eu saí de Santana do Cariri com nove anos de idade para uma cidade chamada Palmeira dos Índios, já tocando violão. Então, lá em Palmeira, que é uma cidade de porte muito elevado, eu fui muito visto pela família Sampaio, que lá são os donos da rádio Sampaio. Quando eu cheguei lá tocando violão eu tive proveito na música, participei de vários conjuntos, que nesse tempo não se chamavam de bandas. Conheci pessoas formadas em música. Aí, deixando a rádio Sampaio, com 14 anos de idade, eu já sabia tocar sanfona, participei de muitos shows radiofônicos de lojas, aqueles shows em frente de loja, nas Casas Bezerra Gomes, nas Casas Paulistas, nas casas Gecunhas. E foi lá que eu criei essa fama, ganhei esse nome. Chico Palmeira. Meus pais também são naturais de lá.
E a vida artística aqui no Cariri, como começou?
Depois dos anos 70, eu voltei pro Cariri, e fui sanfoneiro no pé da serra e ocupei a super banda Quente Som daqui de Santana do Cariri. Depois a banda Santana Som, isso eu ocupei tocando dó, ré, mi, no dia 29 de dezembro, de 1978.
Como era o contato do senhor com a música durante a infância?
Ah, na época da infância não tinha estrutura musical, não tinha oportunidade. Mas, aí eu comecei tendo algum aproveito depois que passei a tocar em bandas, aprendi a cifrar, aprendi sobre partitura. Mas, na infância eu só sabia tocar violão.
Seu Chico, mas quais foram as principais influências para que o senhor tivesse essa vontade de aprender a tocar instrumentos?

A minha influência vem da minha genética. Vem do meu pai. Meu pai tocava pife, flauta, zabumba... aqui em Santana, numa fazenda no sítio Baixio, todo mundo gostava de ir ver tocando o filho de Zé Palmeira, com 9 anos de idade tocar, tocava o pife, tocava zabumba, fazia uma festa e o pessoal ia dançar nesse tempo. Só sei que na minha infância pra onde o meu pai ia, eu estava presente.
Por que foi o violão o primeiro instrumento que o senhor aprendeu a tocar?
Porque foi o primeiro que surgiu em casa, um violão comum, chamado caveira de pau, nessa época ninguém podia comprar instrumentos, né? E apareceu o violão nas mãos do meu irmão mais velho, Espedito. Meu pai
comprou para o meu irmão, aí quando eu vi ele afinar o violão pela primeira vez, ele começou a passar o violão pra mim, e comecei logo a tocar. Aí quando depois ele comprou a sanfona, eu passei dele, e ele se aquietou, né? (risos) e passou a ser só cantor.
Então o senhor aprendeu a tocar o violão com seu pai ou com seu irmão mais velho?
Aprendi com Deus. Aprendia vendo. Aprendia ouvindo aqueles discos de carnaúba. No tempo isso era chamado de cópia, o que hoje é chamado de ensino e aprendizado. Mas na época era chamado cópia. Naquela época a gente copiava, porque não existia conhecimento, porque na região não existia nenhum lugar que a gente pudesse ir pra alguém ensinar a tocar alguma coisa. Tinha aqueles que sabiam tocar e a gente ficava olhando para onde iam os dedos. Ninguém sabia dizer o que era “sol”, o que era “lá maior”, não sabia dizer essas coisas. Eu aprendi essas coisas vendo. Teve até vezes que eu passava mal, lá em Palmeira dos Índios, quando alguém me perguntava as coisas e eu não sabia explicar da forma certa.
Seu Chico, nessa época em que o senhor ia conhecendo e aprendendo a tocar os instrumentos, tinha outras pessoas que também aprendiam?
Ah, tinha aqueles que tinham o interesse, que também aprendiam como eu, só vendo, porque não tinha a parte educativa como hoje. Mas também não era todo mundo que aprendia, porque o que eu digo é que a música é pra quem tem o dom. Eu me acho uma pessoa que tem esse dom, porque da sanfona e do violão, eu cheguei a tocar o baixo, a guitarra, a bateria, o teclado, o cavaquinho. Até porque com a estrutura que eu encontrei em Palmeira dos Índios me ajudou a montar uma sala de expansão na minha própria casa.
De fato, quantos e quais são instrumentos o senhor sabe tocar?
Baixo, guitarra, bateria, sanfona, teclado, violão, cavaquinho, zabumba, saxofone... e tantos outros que me falham a memória.


Tem algum que o senhor sabe tocar, mas não sabe ensinar?
Não, até porque é o seguinte... Nessa literatura aí, as armações dos instrumentos é que ensinam o professor a ensinar, só três claves instrumentais são suficientes, a clave de lá, a clave de fá e a clave de sol ensinam o professor a ensinar até aqueles instrumentos que ele não sabe tocar. Qual o instrumento que o senhor mais gosta de tocar? E qual o senhor é o mais difícil de tocar?
Olha, eu sou um pouco vaidoso, eu gosto de todos os instrumentos. Mas o que eu gosto mais é do violão, por dois motivos. Um é porque foi o primeiro que eu aprendi, e outro é porque eu gosto de mulher (risos). Sobre o instrumento mais difícil de se tocar, não existe isso. Como eu disse, tudo depende do dom e da determinação da pessoa. Certo, então não existe um instrumento que é mais difícil de tocar, tudo depende da determinação da pessoa?
Depende da determinação, não existe um instrumento mais difícil, na música não tem dificuldade, nem facilidade, o que existe é vocação… a perfeição do músico, aí
quando ele tem a perfeição. O professor não tem como tocar ou ensinar sem conhecer música. Porque ele não tem diálogo, aquela coisa que eu dizia quando falei das claves. Conversando e observando é que se aprende, é que se ensina, é que vai repassando para os outros.
O que foi que mais motivou o senhor começar a ensinar outras pessoas a tocarem instrumentos?
Olha, o que mais me fez fazer isso foi a minha possibilidade e a razão de não ter aqui na minha terra e por amor a minha terra, eu passei a ensinar outras pessoas a tocarem. Se eu não tiver grandes oportunidades, não quer dizer que outras pessoas também não poderiam ter.
O senhor ensinou em outros lugares ou deixou isso ligado só a Santana, outras pessoas de outra cidade podiam aprender?
Não, não... eu já ensinei a pessoas do Crato, do Juazeiro, principalmente quando participava dos programas de rádio na Vale do Cariri AM, que hoje é a Verde Vale. Eu tinha o prazer de fazer um programa nordestino, quer dizer, fui parceiro do programa, chamado Sombra do Juazeiro. Através da rádio Vale do Cariri AM. Daí as pessoas passaram a me conhecer e a me procurar. Também já
ensinei a gente de Nova Olinda e de vários distritos daqui de Santana.
É... para o senhor, qual a maior importância de ter ensino da música aqui na região do Cariri?
Bom, a importância é o seguinte, é dando que se recebe, né? E como diz o povo, o velho ditado, morre o homem e fica o nome.
Você pretende parar de tocar e ensinar música um dia, existe algo hoje que lhe desmotiva?
Não, não pretendo parar de tocar e nem de ensinar, apesar de hoje com o meu senso da música, eu acho mais maneiro tocar do que ensinar. Quem quiser saber o que é ensinar, vai ensinar. Quem quiser saber o que é a vida de professor vai ensinar, e o professor musical ele é mais, ele tem mais pesadelo que o professor educativo que ensina matérias de português ou matemática ou qualquer outra. Todo mundo quer ver é feito, hoje é muito comum um professor ensinar. Agora se um professor de música não ensinar e o povo não aprender, fica dizendo “aquela desgraça é professor, não sabe”… aí tem que ter um quebra de cabeça, pois é muito pesado ensinar.
Outra coisa, quando eu tô ensinando uma coisa e você não tá aprendendo aquele pânico fica em mim, hoje eu
tenho um pânico, acho bom ensinar a pessoas que tem dedicação, leva a tarefa pra casa e traz direitinho e tal. O senhor já foi homenageado por um balneário do Crato. Conte essa história. O senhor fazia shows nesse balneário?
Eu tive o prazer de ter um balneário no Crato que colocaram o nome de Chico Palmeira, isso foi praticamente nos anos... esses anos que eu tô dizendo que ocupava em rádios da região do Cariri. Eu com um programa, participando do programa, um programa alegre, cheio de brincadeira, cheio de fofoca e muita audiência, no Cariri e no Exú, eu ganhei o carinho do dono desse balneário que hoje infelizmente não existe mais, mas isso me mostra que o meu nome em vida ficou. Nesse tempo, inclusive, até Luiz Gonzaga foi ouvinte do nosso programa. O senhor já teve algum contato direto com Luiz Gonzaga?
Tive contato direto com Luiz Gonzaga. Ele apresentou Chico Palmeiras, sanfoneiro do Ceará e o cantor Maranhão do Exu, pra ir fazer a missa, fazer a abertura da missa de Raimundo Jacó, em Serrita, Pernambuco. Então ele foi quem fez o contrato. Ele era ouvinte do programa da gente, né? E já me conhecia tocando carnaval, porque
eu toquei carnaval em Exu. Ninguém nunca tocava Asa Branca, mas em carnaval, se tava o rei do baião, só tocava Asa Branca, eu fui um copiador do rei do Baião. Aí quando ele foi ouvinte da gente, na rádio Vale do Cariri, nos anos 80, ele escalou a gente lá pra fazer esse trabalho lá em Serrita, que é um trabalho histórico.
É... a arte de fazer música e ensinar música, sempre foi a única renda do senhor?
Olhe... Eu sou agricultor. A pessoa que vive em Santana do Cariri disser que não é agricultor, é mentiroso. O meu pai trabalhava numa firma agrícola de Valdemar Ferreira, fibra, corda... Eu no tempo de pequeno trabalhava com ele e adquiri uma coisa muito prejudicial, eu não tenho uma visão perfeita hoje porque no tempo de eu garoto, eu carreguei muita fibra lá do motor, e adquiri esse problema na visão. Mas até hoje, a agricultura é minha fonte fixa de renda também. Isso quando o inverno também é bom.
Ao mesmo tempo em que o senhor e o pai do senhor trabalhavam, vocês também faziam música?
Era trabalhando de dia e de noite tocando, brincando.
O senhor pretende parar um dia de ensinar música?
Parar, a gente vai ter que parar, um dia a gente vai ter que parar, não sei quando, tocar vai ser o negócio que vai mais adiante porque quando não puder tocar um instrumento, eu toco outro mais maneiro, mais pequeno, que a tendência da gente é ficar velho e sem forças, né?
presentar, só que eu não conheço ainda, não tenho conhecimento disso, eu queria… Quando eu ensino aos meus alunos, as primeiras matérias que eu costumo ensinar são as que perguntam “o que é música?” Como se divide a música? É… “quantos compassos tem a música? Quanto vale uma nota semi breve ou um compasso?” Porque isso foi o que eu tive a honra e mérito de levar até a ordem de músicos do Brasil, e até o momento presente ainda não vi um músico meu inscrito, a não ser alguém que esteja ocupando outras bandas por lá que por um motivo qualquer tenha feito isso, mas os daqui não tiveram, não procuraram, porque tem o costume de pegar a cópia da aprendizagem que é como capítulo de novela, cada dia é uma tarefa, aí pega, leva pra casa, quando lê aquilo ali, que decore ou não decore, pega e rasga. Não aprendeu e lá pra um futuro pode até dizer não que eu não sabia de nada. A maior honra que eu tinha era de ver um aluno meu chegar com a carteira dos músicos e dizer: “ó, professor, aqui”. Pra você que tanto ensinou e ainda hoje ensina e que vive de música por todos esses anos, qual o seu maior aprendizado?
Eu sou assim, é aquela coisa que eu fico pensando, no céu vai quem merece, no mundo vale quem tem, eu não tenho dinheiro, mas tenho essa oportunidade, essa possibilidade que Deus me deu de aprender, fazer e ensinar algo que eu gosto.
Então, o que motiva o senhor a não desistir dessa arte aqui na região?
Eu não desisto dessa arte. Não só aqui na região, mas no Brasil, em qualquer lugar que me chamar eu vou, como já estive em alguns lugares daqui mesmo, Tocantins, Araguaiana.
E por que o senhor não desiste?
Não desisto porque gosto e hoje não vejo uma profissão que não seja essa. Hoje não é muito produtiva materialmente, materialmente que eu digo é no lucro, na renda, no capital, não tem muita produção, mas é a minha vontade, é a minha vontade de ser assim. Eu sou assim, é aquela coisa que eu fico pensando, no céu vai quem merece, no mundo vale quem tem, eu não tenho dinheiro, mas tenho essa oportunidade, essa possibilidade que Deus me deu de aprender, fazer e ensinar algo que eu gosto. Eu me orgulho com isso, essas coisas faz com que a gente vá mais adiante, mais motivado.
Depois de todos esses anos qual o maior ensinamento que o senhor tem prazer em passar para os seus aprendizes?
Sempre, o meu prazer de passar para os meus alunos, é a vontade de, um dia, quando eu partir daqui, eles me re-
O que eu aprendi, foi o que ensinei, tanto aprendi como ensinei. Ensinando é que a gente se mexe, né?
Seu Chico Palmeira, qual foi o seu maior sonho realizado?
Foi o rádio. Sabe porque foi? É porque todo começo são flores, o rádio foi no começo, eu quando vi o rádio, no meu tempo não tinha televisão, só assistia a Voz do Brasil no rádio, a coisa que eu mais achava bonito era a voz da rádio globo, da rádio do Rio de Janeiro, a rádio nacional de São Paulo, e eu já como criança, lá nas zonas rurais, eu achava bonito isso, o rádio é lindo, é bonito ser locutor, é bonito. Quando eu entrei na música que a música me levou ao rádio, eu me senti feliz, inclusive muita felicidade quando eu ocupava “A hora do fazendeiro” lá na rádio Sampaio, em Palmeira dos índios, eu me sentia muito feliz quando tocava sanfona lá no programa “A hora do Fazendeiro” na rádio Sampaio, assim, dando prosseguimento, toquei na rádio Vale do Cariri AM, conforme falei. Também toquei na Rádio Santana FM de Santana do Cariri, por mais de 12 anos, fiz um programa exclusivamente meu. Cheguei a trabalhar duas horas de programa na rádio Santana FM, aqui na cidade Santana do Cariri, e todo mundo conhece o programa “Festa na Roça”, tá até arquivado no computador.
O senhor foi empresário de duas bandas, a Quente Som e a Doce Desejo. A experiência como empreendedor foi positiva?
Dirigi, eu fui superintendente dessa banda “Quente Som”, a super banda Quente Som. Foi essa a banda, a primeira, que ocupei nos anos 70. Trabalhando como administrador nessa banda, eu vi que deveria comprar um equipamento e ser dono da minha própria banda. Depois, eu trabalhando achei bom e disse “vou ser dono

de banda”. Aí comecei a comprar e investir nela. Inclusive comprei três quartos dos equipamentos, dessa banda e, quando foi em 2010 para 2012, criei outra banda, a Doce Desejo, que eu pude chamar de minha, a banda de Chico Palmeiras, já formada com meus alunos, com instrumentos, com tudo montado. Cantor, cantora, tudo. A Doce Desejo era completa.
O que o senhor acha da música regional hoje no Cariri? Como você enxerga a música na região do Cariri hoje?
A nossa música regional nunca vai morrer, porque isso foi uma cópia que essa música eletrônica tirou dela. Olhe, eu vou fazer só uma comparação, eu vou comparar a banda Magníficos, Calcinha Preta com Aviões do Forró. Porque ele me desculpe mas é questão de gosto, é um ponto de vista né? Então você prestar atenção, o próprio aviões, se alguém dissesse assim “eu quero Calcinha Preta”, ele cantava porque é um bom cantor, o Xand né? Então tem outras músicas forró romântico, Limão com mel, que também é, já faz parte da grande música, agora quando parte pro forró eletrônico, a batedeira , do jeito que aviões faz, não estou denegrindo a qualidade dele, porque Chico Palmeiras faz também. No tempo que eu mais ganhei dinheiro, foi no tempo que eu com música de forró eletrônico, coisa que não valia nada. Então foi no tempo que eu ganhei dinheiro, cheguei a crescer meu saldo bancário, que eu tocava música desse tipo porque é a questão do povo, se o povo quer, chego no palco e digo “Vocês querem forró pé de serra? Não”. Eu estava preparado com metal, três sax, trombone, pistolete, pra tocar bomba, mas também tava preparado pra tocar música delicada de Fábio Carneirinho, Dorgival Dantas, de Epitácio Pessoa, Ildelito Parente, Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Sivulca, de muitos outros que a gente não tem palavras pra dizer, então tava praparado pra tudo, preparado, ensaiado com tudo. Agora falando de sentimento, Seu Chico Palmeira, qual a importância da música e do saber música tem na sua vida?
A importância da música foi a minha profissão, o meu ganha pão, a gente mesmo como agricultor, ti-
nha uma profissão, nessa época dava pra ganhar o meu pão e ajudar a família, como eu fiz, trabalhei e ajudei os meus pais. Foi um dos presentes da música.

O que mais gosta de fazer como musico? Tocar ou ensinar as pessoas a tocarem?
De ambas as partes. Gosto de tocar e gosto de ensinar, tocar alguns instrumentos conforme falei, violão, quando eu estou assim... romântico, no meu silêncio eu pego o violão e vou fazer uns acordes. Quando eu tô me lembrando dos meus ídolos, como trio nordestino, pego a sanfona e toco forró, e assim por diante. Depois de realizar alguns sonhos, o senhor ainda tem algum sonho que não realizou e deseja compartilhar?

Olha, se eu for dizer o meu sonho que eu desejo realizar... o pessoal diz que tudo que se sabe não se diz né? (risos), é um sonho bíblico, religioso, é bíblico... Prefiro não compartilhar porque é o seguinte: às vezes as coisas agradam a gente e desagrada outras pessoas, coisas que desagradam eu não pretendo bater na tecla. Seu Chico, e o que mais te agrada? O que mais te deixa feliz?
O que mais me agrada é a minha inspiração e o que me deixa mais feliz é a vontade de publicar o que tem no coração pra fora, soltar pra fora, e a gente só publica se for através da música ou através da revista, como essa.
Stênio StênioDiniz Diniz

Aventuras de um mestre da xilogravura
OCariri possui o maior número de Tesouros Vivos do Estado: são 40 - incluindo 13 já falecidos e cinco grupos. Entre eles, Stênio Diniz: tipógrafo, xilógrafo, desenhista, pintor, dramaturgo, compositor, intérprete e poeta popular. Ele também é Mestre da Cultura chancelado desde 2008 pela Secretaria de Cultura do Estado (SECULT), em virtude do seu trabalho dedicado a manter, desenvolver e propagar as tradições culturais cearenses. Nesta entrevista, ele fala de seu processo criativo, bienais, ditadura militar, arte e vida.
Filho de Maria de Jesus da Silva Diniz e neto do editor e poeta popular José Bernardo da Silva (dono da Tipografia São Francisco atual Lira Nordestina), José Stênio Silva Diniz nasceu em 26 de dezembro de 1953, na Terra do Padre Cícero - Juazeiro do Norte.
Nascido e criado em meio a papéis, a trajetória do mestre perpassa por diversas artes, como o desenho, a pintura, a música, e principalmente pela xilogravura – para ele, uma das artes plásticas mais potentes. Ele afirma que as outras técnicas foram adquiridas naturalmente com o passar do tempo. Não que tivesse a pretensão de virar artista. Sobre o número de xilos que já cortou, não sabe responder com precisão, mas calcula que já tenha cortado mais de mil.

Entre capas de cordéis e álbuns, o mestre também já desenhou (em xilo) alguns rótulos e marcas para empresas da região. Já chegou a talhar xilogravuras de grandes tamanhos com 50cm, 60cm e 90cm. Também redesenhou capas de cordéis considerados clássicos como “A Chegada de Lampião no Inferno”, “Pavão Misterioso”, “Juvenal e o Dragão” e “Proezas de João Grilo”, que registram o imaginário regional e espetacular da cultura nordestina.
Quem vê esse homem humilde que traja roupas simples não faz ideia que por trás do semblante pacato
e discreto mora um artista que, apesar de ter vivenciado inúmeras fases de crise e de desafios, é possuidor de alto prestigio internacional. Pouca gente sabe que ele até já entregou tapetes para o presidente General Ernesto Geisel, em 1976, na 5ª FEARTE (Feira Nacional do Artesanato) em Gramado – RS, em nome do Estado do Ceará. Com 65 anos incompletos, voz branda, cabelos brancos e pele enrugada, ainda conserva a doçura e a leveza de uma criança. Dono de uma trajetória de vida digna de respeito e orgulho, é espirituoso e “linguarudo assumido”.
A sua modesta casa/ateliê no bairro Pio XII, em Juazeiro do Norte, mais parece uma biblioteca e até mesmo uma galeria de arte, tamanha a quantidade de livros, revistas, documentos, recortes de jornais, matrizes, telas, além uma infinidade de trabalhos inéditos com a arte já finalizada - só esperando publicação.
Em suas telas, molduras e matrizes - piracemas, pássaros encantados, pavões, personagens que parecem emergir de um mundo fantástico, às vezes lúdicos, outros um tanto assustadores. Grandes ou pequenas, as gravuras falam através de seus traços sinuosos e do contraste entre o preto e branco.
Stênio respira arte o tempo inteiro. Como se fosse uma “poesia visual cotidiana”, ela transita entre uma obra e ou-
Texto e fotos: Natália OliveiraPrimeiros passos na xilogravura
Com dez ou doze anos começou a imprimir em uma máquina impressora que era movida a pedal. Em 1970, quando a ditadura militar assolava o país e a Copa do Mundo deixava os brasileiros ainda mais eufóricos, Stênio já era um adolescente entre 16 e 17 anos, quando sofre um duro golpe com a morte de seu pai, José de Sousa Diniz – o Diniz, que desenvolvia um trabalho importantíssimo na gráfica – o de atender os pedidos, embalar e viajar o país inteiro com as encomendas. Logo após esse fato, ele corta e imprime a sua primeira gravura. Mas não foi tão simples assim. Ele relata de forma bastante humorada como tudo aconteceu:
- A vontade de fazer gravura veio de dentro de mim. Eu tinha um tio chamado Lino que fazia gravura, ele e a esposa Maria Iraci. Então pedi a ele:
- Tio Lino, me dê essa madeira (porque já havia uma madeira lixadinha no ponto de fazer uma capa de cordel) pra eu fazer uma gravura. Ele olhou pra mim e disse:
- Não. Você não sabe, rapaz. Não vou lhe dar minha madeira não.
Stênio Diniz trabalha em seu ateliê: “O que faço é real. É um realismo mágico”
tra. Tudo que ali se encontra possui muito amor envolvido, é carregado de sentimentos e lembranças - algumas doces, outras nem tanto. São as memórias do mestre. Talvez seja por esse motivo que o lugar é tão agradável.
O mestre acorda cedo para satisfazer seus dois primeiros vícios: café e telejornal. Logo após esse ritual, ele senta à escrivaninha segurando ainda a xícara de café, entre um trago de cigarro e outro ele conta o início de sua trajetória.
“Comecei a trabalhar aos cinco anos de idade, juntando papel de uma máquina impressora na Tipografia do meu avô, durante dois anos”, relembra. A alfabetização foi tardia. Justamente por isso, na época em que devia ter ingressado na escola, o menino-mestre já trabalhava. Então, só aos sete anos iniciou o processo de alfabetização com uma professora chamada Toinha, próximo a Igreja do Socorro. Essa fase de sua vida ele lembra de uma forma descontraída e emocionada também.
O ensinamento era das antigas mesmo, do tempo da palmatória e dos caroços de milho. Quando indagado se levou muita palmada, a resposta é pronta: “Demais, não. Porque eu num era besta de tá apanhando. Uma lapada você vai, mas na segunda...”, diz gargalhando.
- Lembro como hoje quando eu tive que escrever o alfabeto, foi uma novela muito grande. Eu lembro porque era uma dificuldade. Eu já com sete anos, junto dos “meni-
nin” de cabeça boa... e eu só naquela de juntar papel feito idiota... eita trabalho ruim..., brinca.
- Eu confundia o G com o J. Eu dizia G, J, e o H eu metia no meio. A professora: - como é Stenio? E eu tahtahtah...
- Meu filhinho, você ainda não aprendeu?
- Não, professora.
- Quando ela dizia: vamos lá pra frente, você vai levar dez “bolos”. Vixe! Chega o sangue...., relata com ar de assustado.
Aquele momento parecia uma eternidade. Com os olhos rasos d’agua, ele conta nas mãos relembrando: “uma..., duas... e eu num chorava não. Choro hoje quando eu lembro. Eu tinha um choro preso. Era a primeira vez que eu levava uma lapada de alguém. Eu nunca tinha apanhado (não com aquela idade), vim apanhar mais tarde do meu pai”, completa.
Sobre o período de infância, o artista vai às lágrimas e diz: “esses tempos de infância eu num esqueço, não. Tenho saudade desse tempo porque foi tudo tão... tão... lírico. O tempo, as coisas, como Juazeiro era naquela época... quando dava meio dia o comércio fechava. Ninguém via um pé de pessoa no meio da rua. De noite não tinha energia em casa, era a luz de lampião...”, esses tempos trazem boas recordações para ele.
música ufanista que era utilizada pelo regime militar em eventos cívicos. Então, ele fez uns cinco meninozinhos, sendo que um estava à frente com a bandeira do Brasil. Ele afirma que estava muito envolvido pelo espírito que a ditadura queria que os brasileiros tivessem - o amor à pátria. Essa gravura já não existe mais.
Já no ano de 1976, com o seu espírito empreendedor, Stênio cria a Cooperativa Artesanal do Cariri – a COCADA. Com sede na Rua São Pedro, o objetivo era contribuir para a organização e para a valorização do artesanato. A cooperativa cumpriu com sua função social durante três anos. No entanto, um conflito entre o prefeito de Juazeiro na época, o médico Dr. Ailton Gomes e Stênio - o presidente da cooperativa, culminou no fechamento da COCADA. O artista foi perseguido e por isso teve que se evadir da cidade, temendo represálias.

Música e Censura na Bienal
Jamais tive a preocupação de definir o que sou. O importante é ser autêntico no que sou. A minha palavra não vale. O que vale é a minha produção
Foi aí que Stênio esperou que desse meio-dia (hora do almoço onde o comércio fechava, todos os funcionários saiam e na rua não ficava um pé de ninguém) como a casa em que morava era vizinha a gráfica, ele aproveitou o momento, entrou lá sem que ninguém o visse, pegou a madeira que estava no escuro e se dirigiu para os fundos da gráfica, onde era mais claro, fez um desenho e “meteu o pau” a cortar.
“Quer dizer que eu deixei de almoçar. Na hora do almoço eu disse: num tem almoço aqui não, tem é eu fazer! (a gravura), diz. Quando o tio Lino chegou de tarde já mostrou a madeira cortada e impressa.
- Aqui tio Lino, o senhor disse que eu não sabia. Está aqui o resultado! Tá impresso. Ele olhou e disse:
- É. Você fez bem.
- Mostrei para o meu avô – ele viu que eu tinha talento e disse:
- Vá em Mestre Noza e fale pra ele que lhe arranje algumas tábuas de imburana pra você fazer várias capas.
O jovem artista precisou da indicação do avô para que o Noza lhe desse a madeira. A partir dali ele começou e não mais parou. De fato, foi uma traquinagem que valeu muito a pena. É tanto que em 1972 realizou a sua primeira exposição individual em Brasília, na UNB, durante a Bienal de Arte do Brasil.
E qual foi a tal gravura que ele cortou? Ele conta que na época havia uma dupla cearense chamada Dom e Ravel que cantavam a música “Eu te amo, meu Brasil”, uma
Por ser também cantor e compositor, além de Milton Nascimento, ele destaca o Gonzaguinha como a sua principal influência musical. “Ele foi um dos caras que mais me tocou o sentimento. Porque era um cara extraordinário: cantor, compositor, pensador, e um lutador contra o sistema. Por isso me identifico com a musicalidade dele, afirma.
O mestre ainda relata o encontro emocionado que teve com o ídolo:
- Era meados de 77, Ditadura Militar, fui ao show do Gonzaguinha no Rio de Janeiro. Ele cantou uma música para a seleção brasileira. E o que deixou a plateia arrepiada, inclusive ele próprio, foi a performance de Gonzaguinha. Pois a letra dizia: [...] noventa milhões em ação / pra frente Brasil do meu coração”. Mas ele cantava recuando, andando para trás.
Ao final do show foi até o camarim conhecer e conversar com o Gonzaguinha. Comprou o disco dele, falou de onde vinha, o convidou para ir a Recife e até propôs uma parceria com o ídolo. Ele autografou o disco e lhe disse o seguinte: “O mundo é uma bola. A vida é um jogo. Eles nos fazem de bola. Nós somos a bola. E nós temos de ser os zagueiros, e não permitir que eles façam o gol”.
Essas palavras jamais saíram da cabeça de Stênio. Visivelmente emocionado, com os olhos marejados, ele relata que foi a partir daquele encontro, ainda em 1977, que teve a ideia de desenvolver um trabalho para a 14ª Bienal Internacional da Arte de São Paulo.
Foi um trabalho baseado na Ditadura, intitulado “Prisão e Consequências”. Nesse trabalho, Stênio faz uma denúncia contra a Fundação Bienal de São Paulo. Ele res-
salta que o objetivo do projeto era criticar as prisões arbitrarias e as atrocidades cometidas pela ditadura.
Só que no projeto que agradou a cúpula da Bienal, era um esclarecimento para que os nordestinos não saíssem do Nordeste para o Sudeste porque seriam presos. Além disso, a exposição tinha a participação do poeta popular Patativa do Assaré, que escreveu um cordel intitulado “Emigração”. O projeto foi aprovado, mas na prática… O artista produziu painéis com pessoas se contorcendo de dor, bocas bem grandes e abertas.... segundo ele, a lapada “comia de esmola”, gemidos, gritos... tudo isso pra evidenciar o clamor da sociedade da época.
Durante a exposição o artista foi intimidado duas vezes por agentes da Polícia Federal. Temeroso, abandonou a exposição e voltou para a sua terra natal. E quando o evento acabou, Stênio relata que armaram uma suposta emboscada para lhe pegar. Ele já estava em Juazeiro quando recebeu a ligação de um homem se dizendo alemão
e professor da Universidade de São Paulo. Esse homem estava disposto a comprar todos os painéis que ele havia exposto durante a Bienal.
Pelas suas contas, o artista receberia um bom dinheiro. Cinco painéis de 3m x 2,5m (já que o preço de uma obra de Bienal não é pouca coisa), imagine o valor que seria? Pensou ele. Então combinaram de se encontrar lá.
Stênio não pensou duas vezes, pegou o avião e foi pra São Paulo. Foi direto pra Bienal. Só que chegando lá, ao entrar no elevador, o ascensorista lhe advertiu duas vezes:
“Se eu fosse você, eu não ia não”. Ele não sabia, mas assim que ele deixou a Bienal, colocaram uma fita preta na porta da sala dele para que ninguém entrasse. Então pensou ligeiro: “plano montado”, e já no meio do caminho, ele falou pro ascensorista: “meu amigo, desce”.
“A Bienal até hoje me deve todos aqueles painéis. O que fizeram? Não voltei pra buscar, e quando fui tinha uma arapuca pra mim”, diz. É bem provável que se tivesse
insistido, aquela teria sido a última viagem de sua vida. Certamente ele não estaria vivo pra contar essa história, e o mundo não teria conhecido um grande artista.
De Juazeiro do Norte para o mundo Desde 1985, o artista se desdobra entre a produção no Cariri e viagens ao exterior. A primeira delas aconteceu através de um convite extraoficial feito por um professor da Universidade de Colônia, na Alemanha. Ele veio a Juazeiro do Norte com um grupo de estudantes, conheceu as xilogravuras de Stênio e o convidou para fazer uma exposição lá.

De três meses, a estadia se transformou em quase dois anos com passagens por Portugal e França. De lá pra cá não parou mais. Mestre Stênio coleciona mais de cem exposições individuais e coletivas. Sobre viagens, já foi à Alemanha treze vezes, duas para a Bélgica, quatro vezes para Portugal, duas viagens para a Holanda, cinco para a
Áustria e duas vezes para a França – nesta, ele revela que foi um tempo de drama, pois chegou a dormir debaixo da ponte e de escadarias, mas nem por isso a experiência deixou de ser proveitosa.
A viagem cheia de altos e baixos gerou o cordel intitulado “A incrível aventura de um cearense na França”. Nesse cordel, mestre Stênio versa de forma bastante cômica e com riqueza de detalhes sobre o período em que morou fora do Brasil. Durante o período que viveu no exterior, o artista se manteve por meio de turnês: tocava e cantava na companhia de um amigo, também artista, chamado Luciom Caeira. Também ministrava oficinas de artes para as crianças (como faz até hoje).

E como conseguia se comunicar em outra língua que não a portuguesa?
“No início sempre tinha intérprete, mas com o passar do tempo fui aprendendo o alemão”, responde. A cada viagem, ele aprende um pouco mais. Juntando palavras
“Quando se faz muita xilogravura, você não muda o traço, evolui. São estágios. Hoje você faz um cachorro ou uma pessoa de uma forma, mas daqui há dez anos faz de outro jeito”
esparsas, observando conversas alheias para aprender verbetes. Nunca fez curso de línguas e já foi detido em Frankfurt, na Alemanha, por errar a conjugação de um verbo. “As oficinas que ministro é noventa por cento sozinho. Também não dou chance de muita conversa (risos). É a prática. Tenho mais amigos lá do que aqui no Cariri”, enfatiza. A Alemanha é o seu país favorito no exterior. Tanto é que a maior parte de suas matrizes se encontram em museus e universidades de lá.
No ano de 1988, em mais uma de suas ações empreendedoras, Stênio funda a AMAR – Associação dos Artistas e Amigos da Arte, que também funcionava na Rua São Pedro. O intuito da associação era acolher os artistas que não faziam parte do Centro de Cultura Mestre Noza. A AMAR era uma associação de muito prestígio e importância, na época.

Stênio sempre foi antes de tudo, um ativista social, um empreendedor, um educador. Ele propaga uma pedagogia que se alie ao ensino das artes. Inclusive, chegou a fretar um ônibus do próprio bolso, para que 80 crianças do bairro Mutirão, hoje Parque Frei Damião, pudessem participar de suas oficinas de desenho, pintura e xilogravura.
sou um seguidor porque não tenho a capacidade que ele tinha de ser primitivo, rustico... quisera eu...se eu tivesse aquele traço eu seria muito feliz, mas sou feliz com o meu traço mesmo”, rir desconcertado.
Nesse quesito o artista é um tanto rebelde. Diz não trabalhar com parâmetros e nem obedece a nenhuma escola. Comenta porque no início de seus trabalhos era muito fã do pintor holandês Vincent Van Gogh, que pertence a escola modernista europeia. Ainda revela que quando se faz muito a xilogravura, você não muda o traço, evolui. “São estágios. Hoje você faz um cachorro ou uma pessoa de um jeito, daqui há dez anos tu vai tá fazendo de outro jeito diferente”, completa. O mestre é um artista plural – é capaz de se reinventar e modificar as características e o estilo.
Jamais vou fazer uma coisa que não contribua para o meio em que vivo. Não escrevo sobre todo e qualquer tema. Não perco tempo escrevendo besteira. Se for um cordel que possa contribuir para a educação, eu faço
“Jamais tive a preocupação de definir o que sou. O importante é ser autêntico no que sou. A minha palavra não vale. O que vale é a minha produção”, diz. O artista busca uma certa individualidade, sem padrão nem repetições. E continua:
- Jamais vou fazer uma coisa que não contribua para o meio em que vivo. Não escrevo sobre todo e qualquer tema. Não perco tempo escrevendo besteira. Se for um cordel que possa contribuir para a educação, eu faço. Como o cordel intitulado “As Reformas Ortográficas” que versa sobre o novo acordo ortográfico aprovado em 2009.
Quando indagado sobre suas influências artísticas, a resposta é uma reflexão: “antes de você pensar, sonhar ou querer, só o tempo é quem vai dizer se determinado artista te influenciou o não. Uma coisa é você gostar, outra coisa é influenciar. É bem diferente”. Um artista que Stênio destaca como uma de suas influencias, na vida, é o pintor espanhol já falecido, Salvador Dalí. E afirma nem ter muito a ver com ele, pois Dalí é surrealista, e ele não, é realista. “O que faço é real. É um realismo mágico”, diz.
Sobre Mestre Noza – o artista esclarece que não teve influência do traço dele não. “O que eu tenho é agradecimento por ele ter me dado a madeira. Porque o traço dele é uma coisa única. Admiro o trabalho de Noza, mas não
Tanto que, nos anos de 1975 e 1976, o seu traço que vinha da mais pura escola da gravura popular, sofreu uma rigorosa transformação – em parceria com a gravadora sobralense Mariza Viana (1951-2005), quando o artista passou a abordar temas realistas. Daí surgiu um intrigante trabalho com propostas sociais, onde as imagens ganhavam movimentação e cortes sinuosos e entrecortados na madeira. Logo após essa experiência, o mestre começou a abordar temas como a política, a ditadura e anistia aos presos da década de 70. A sua gravura adquiriu um lirismo, tamanha a ligação e o engajamento por justiça social.
Para escrever cordéis, ele diz que é só quando lhe atinge o sentimento. Como o cordel sobre gramática, porque sabe que trará alguma contribuição. Prefere relatar fatos de grande repercussão e comoção nacional como a morte de Tancredo Neves (1º presidente civil eleito em 1985 após a ditadura militar), relatando o drama por ter sido um fato importante para a história do país.
Outro tema relevante, foi a queda do avião da TAM, em julho de 2007, que vitimou 221 pessoas. Esse acidente também foi relatado pelo mestre no cordel - “O desastre com o avião da TAM (A maior tragédia da aviação brasileira). Em 2010, escreveu o cordel “A vida de Patativa do Assaré contada em versos por Stênio Diniz”, para homenagear seu grande amigo já falecido.
Mas todas as suas produções não são com o objetivo de vender, de ganhar dinheiro, isso ele garante. Entre os cordéis que já produziu, outro que merece destaque é o folheto intitulado “A vida do Padre Cicero e a Independência de Juazeiro do Norte – no encanto do cordel”. O livreto de 64 páginas foi produzido para homenagear Juazeiro do Norte no seu centenário. Segundo o autor, o texto foi es-
crito de uma forma que possa ser encenado teatralmente, ou seja, o texto é adaptado para o teatro.
Mestre Stênio também releva que viver de arte no Cariri não é nada fácil e que poderia ser bem melhor. Segundo ele, não existe intimidade entre os artistas e as secretarias. Que não há parceria, troca ou desenvolvimento de projetos. Como se os órgãos de cultura fossem separados dos artistas.

Ele percebe uma desvalorização dos artistas locais e a falta de investimentos em políticas públicas, que não há nenhum projeto do meio artístico articulado com o meio acadêmico/estudantil, e aproveita para fazer uma crítica:
- Os responsáveis pelas instituições que mexem com cultura estão ali para atender a demanda dos artistas e para fazer com que a cultura local e regional funcione.
Ele aponta que deve ser feita uma espécie de radiografia para saber como se encontra [a cultura local e os artistas], o que melhorar e como melhor utilizar. “Infelizmente, quer queira quer não, aqui é tudo muito parado, a arte é pouco utilizada e muito pouco difundida”, acrescenta.

Sobre o Cariri, ele afirma categoricamente: “gosto do lugar que nasci. Não gosto é do jeito que os caririrenses são/atuam. Poderia ser diferente. É uma terra de romaria, de gente simples, mas para o trabalho com arte, é lá fora. Lá é que te tratam como artista, te respeitam, reconhecem e valorizam”.
O mestre também fala sobre o futuro da arte na região: - Acabar, não acaba não. Porque Juazeiro é um polo, um centro de produção cultural. Acho que é a falta de valorização da própria terra, e não é culpa das pessoas, de uma forma geral, porque elas usam tudo por modismo. Se a Rede Globo colocar umas esculturas “X” em uma cena/ novela, logo logo tu vai ver o mercado inteiro cheio delas com todo mundo querendo comprar.
Para ele, é preciso ter a preocupação de melhorar e de dar sentido as coisas, não somente o lado comercial/rentável. É um processo de criação. Se não tem criatividade, é uma coisa automática. Segundo ele, a arte demonstra a personalidade do artista. Ele também diz que a criatividade não pode ser estática: “se eu fizer cem estátuas iguais não é criatividade, é capacidade de reprodução”, diz.
O artista preza sempre pela capacidade criativa: “Se o público/cliente for mais exigente, os fabricantes vão ca-
Os responsáveis pelas instituições que mexem com cultura estão ali para atender a demanda dos artistas e para fazer com que a cultura local e regional funcione
prichar mais. Por exemplo, não é porque é cordel que é legal, que é bacana. Tem muitos cordéis que você lê do começo ao fim e não sabe qual a justificativa da pessoa pra ter escrito aquele cordel, e com a gravura é do mesmo jeito, enfatiza.
Sobre a sua obra, o renomado gravador pernambucano Jota Borges, diz que é diferente das demais [a gravura] - é irreprodutível. Recentemente, o mestre foi homenageado pelo cordelista e gravador fortalezense Otávio Menezes que escreveu o cordel “Mestre Stênio Diniz: Tesouro Vivo do Ceará”.




Para Cosmo Brás de Lemos, gravador e caricaturista, a obra de Stênio é mística e bem trabalhada. Já o pesquisador Gilmar de Carvalho, o define como minucioso, que subverte os cânones de uma xilogravura dita popular e parte para o onírico, com forte poesia visual. Portanto, é imprescindível para a memória do Cariri, e quiçá do Brasil, o conhecimento e o reconhecimento do Mestre Stênio Diniz.




Ocineasta Jefferson Albuquerque tem uma longa história sobre o cinema do Cariri e do Brasil. Nascido em Crato, em 47, participou dos mais importantes movimentos do cinema da sua geração, marcada, principalmente, pelos anos de chumbo. Autor de vários documentários sobre cultura popular – como o premiado Dona Ciça do Barro Cru -, Jefferson trabalhou com grandes nomes do cinema nacional. Nesta entrevista ela narra algumas de suas muitas aventuras e desventuras no campo que abraçou como profissão de fé desde adolescente: o cinema.
Como foi a sua infância no Crato?
Até quatro anos de idade morei em Fortaleza. Quando meus pais voltaram para morar no Crato a família foi residir na rua Cel. Nelson Alencar, próximo à praça da Estação. Morávamos no mesmo quarteirão da Rádio Araripe, que tinha um grande auditório e que se chamava também Cine Araripe. Foi ali neste cinema que assisti o primeiro filme em tela grande, numa sala escura. Ainda tenho na memória essa emoção. Tudo parecia muito real naquele filme de bang-bang. Não lembro o nome, apenas me recordo. Quando saiu o primeiro tiro, me escondi atrás das poltronas de madeira. Não sei quem me levou ao cinema, possivelmente a nossa babá. Depois assistir a filmes de animação neste cinema virou rotina. Os filmes da Disney: A Bela e a Fera, Branca de Neve e os Sete anões, O Gato de Botas. Recordo-me também de filmes mexicanos com o Gato Félix. Não sei até quando durou o Cine Araripe. Nem me recordo muito da cidade. Meu mundo se restringia da Praça da Estação (depois Juarez Távora) até a Igreja e São Vicente Ferrer. A visão da Chapada do Araripe com seu paredão que abraçava a cidade também me marcava, assim como as feiras da segunda-feira pelas ruas do centro da cidade. A casa dos meus avós na rua Dr. João Pessoa, em frente a casa da Dona Benigna Arrais e próximo a Usina de Beneficiamento de Algodão da família Arrais, eram marcantes desta época. Depois nos mudamos para nossa casa da Rua Santos Dumont, antiga rua Formosa. A casa era quase um sítio. Nos fundos da casa corria com suas águas ainda limpas e permanente, o rio Granjeiro. Era um rio cheio de pedras, onde tomamos muitos banhos. Nossa casa era a última da rua que terminava no Cine Moderno. Havia um curral com algumas vacas, galinhas no chiqueiro e muitos pássaros. Foi nesta casa que iniciei os estudos, no Externato 21 de Junho, no mesmo prédio da Escola de Comércio do Crato.

Quais eram os cinemas do Crato naquela época?
Na minha infância lembro do Cine Araripe, ou Cine Rádio Araripe. Depois, o Cine Cassino, o Cine Educadora e teve um período que Dede França criou três cinemas populares, com cadeiras de bodocó, no final da rua Santos Dumont, esquina com Almirante Alexandrino; outro no
Fotos: Arquivo pessoal
bairro da Misericórdia, que se chamava Cine São José; outro no bairro Vermelho, com o nome de Cine São Francisco. Era a época mágica do cinema. O melhor da época era o Cine Educadora, com cadeiras com almofadas, logo a seguir o Moderno e o Cassino. O Cine Educadora tinha um programa de discussões, recomendações e críticas sobre os filmes um tanto moralista, já que era da Igreja Católica, que colocavam em um painel no Café Crato, na Praça Siqueira Campos. Todo o point da praça acontecia antes e depois das sessões de cinema do Cassino e do Moderno. A vida noturna girava em torno dos cinemas. Quais os filmes que mais lhe marcaram na época?
Assim de nome dos filmes lembro de poucos. Adorava comédias, as chanchadas da estúdio da Atlântida Cinematográfica. Filmes com Grande Otelo, Oscarito, Zeze Macêdo, Eliana, Cyl Farney. Mistura de comédias com musical. Também alguns filmes de cowboy, filmes mexicanos. Depois uma leva de filmes como os espanhóis com Pablito Calvo, Marisol, Sarita Montiel. Ria muito com a caipirice do Mazzaropi também. Os filmes da Sissi com Romy Schneider, faroestes do Sergio Leone, como “Era uma vez no Oeste”. Muitas comédias com Rock Hudson e Doris Day. Sempre gostei de musicais, não perdia também nenhum com o Elvis Presley. Naquela época, sonhava em ser ator de cinema, não imaginava outra coisa para o meu futuro a não ser ator. De títulos lembro da chanchada “Aguenta o Rojão”, “O Pagador de Promessas”, “Deus e o Diabo na Terra do Sol”, “Vidas Secas”, que foram os primeiros que vi que mostravam o sertão. Neste período, o que valia eram os nomes dos atores, não dos diretores. Enfim, bastava ser um filme, já gostava de assistir, fazia o possível para não perder nenhum. Como tinha que pagar ingressos, conseguia dinheiro vendendo jornais e revistas usadas e garrafas de vidro para a Mercearia do Zé Honor, na esquina da Santos Dumont com a Rua Bárbara de Alencar. Além de ter um estacionamento de burros e cavalos no quintal de casa, que dava para o rio Granjeiro, nas segundas-feiras.
Já vigorava a indústria cultural com filmes de Hollywood?
Claro, era o período de ouro do cinema americano. Além dos filmes, dos grandes astros como
Elizabeth Taylor, Marilyn Monroe, Ava Gardner, Glenn Ford, Errol Flynn, Rock Hudson, Debora Kerr, Kirk Douglas, entre outros tantos; e os europeus que esta indústria absorvia com Ingrid Bergman, Sofia Loren, Marcelo Mastroianni. Existiam revista especializadas como “Cinelândia”, “Filmolândia” e as revistas semanais como “O Cruzeiro”, “Manchete”, “Globo,” “Alterosa”, sempre com capas e destaques para os astros e estrelas de Hollywood. Mas à distribuição era bem mais democrática. Víamos nestes cinemas o melhor do Neo Realismo italiano, da Nouvelle Vague, do cinema de Ingmar Bergman. Com o cinema europeu já se destacavam os nomes dos diretores Roberto Rosselini, Roger Vadim, Antonioni, Pasolini, Goddard, François Truffaut, Luis Bañuel, Carlos Saura, entre tantos.
Como e quando resolveu fazer cinema e qual o principal motivo? Você saiu do Crato já para fazer cinema?
Fui terminar o curso científico em Salvador, no Colégio da Bahia, o Colégio Central. Já no Cientifico, o colégio fazia uma boa experiência, havia o curso só com as matérias que cairíam no vestibular de Arquitetura. Assim passei logo a seguir do terceiro ano, no vestibular de Arquitetura da UFBa. Ainda estudando no Colégio Central, a Universidade da Bahia oferecia um curso de alguns meses sobre cinema, com Guido Araújo e Walter da Silveira. Um curso de extensão universitária. Assim, logo que passei no vestibular me inscrevi no curso. Era mais teoria e muito sobre história e crítica de cinema. Desde antes, já assistia muitos filmes e passei a ver mais ainda, até como tarefa do curso, para depois escrever e discutir sobre eles. Logo a seguir, veio o movimento estudantil de 1968, a luta contra o acordo MEC-USAID, e, aos poucos, apressadamente fui me engajando no movimento, no diretório da Faculdade de Arquitetura. Veio a morte do Edson Luís, as greves, as passeatas. Desde aí me dediquei com afinco à politica estudantil, onde optei por seguir a linha maoísta da Ação Popular, a famosa AP. Greves e passeatas. Viagens para encontro da ENEAU (Encontro Nacional de Estudantes de Arquitetura e Urbanismo), em Porto Alegre. Veio o encontro da UNE, Congresso de Ibiúna, não fui, mas meus companheiros do diretório, o presidente e o vice foram e a seguir presos e jubilados. Eu como Secretário-Geral do Diretório, que já atuava na clandestinidade, assumi a presidência. Fui a um Encontro em Brasília, na UnB, assisti a invasão da UnB, tive que sair de Brasília escondido em um porta-malas de um carro, já que estava também hospedado no apartamento da Colina, onde morava o Honestino Guimarães, que a repressão deu sumiço. Daí veio o Ato 5. As coisas pioraram, o medo se instalou na juventude universitária. A partir dai também já atuava nou-
tro campo sem ser só o movimento estudantil. Neste período nem lembrei de cinema. Você chegou a ser preso por causa da militância estudantil?
Depois do curso da Bahia, com Guido Araújo e Walter da Silveira e de ver que era impossível continuar na Bahia, graças as perseguições na universidade, já em 1969 e 1970, vendo amigos e companheiros sendo presos, torturados, vim para o Ceará. Nesta época, criaram o curso de Arquitetura da UFC, vim arriscar uma transferência em Fortaleza. Durou pouco a esperança. A casa da minha tia, na AvenidaVisconde de Cauipe, no Benfica, foi cercada e fui levado preso para a Polícia Federal. Sem mais nenhuma condição para continuar no Ceará, meu pai em contato com políticos amigos me mandou para Brasília. Um dos meus sonhos era conseguir a transferência para o curso de Arquitetura e Urbanismo da UnB. Con-
seguimos a transferência e me deparo com um curso diferente, moderno, dinâmico, pela escola fundada por Niemeyer e Darcy Ribeiro. Na UnB muitas matérias opcionais ligadas as artes eram oferecidas no curso de Arquitetura. Assim me matriculei no curso de Oficina de Cinema e Teatro, com Wladimir Carvalho. Comecei a fazer teatro, criamos um grupo de teatro da Universidade de Brasília. Um dos colegas da época, Aurélio Miquiles, resolve fazer um filme em que trabalho como ator. O filme se chamava “BRAS Ilha”. Foi depois confiscado pela Policia Federal, por dizerem ser subversivo. Como ator também atuei na peça Circus, uma criação coletiva do nosso grupo que passou a se chamar GLUPUS, com alguns componentes que vinham de experiência com o José Celso Correia Martinez, do grupo Oficina. Fizemos cursos com Amir Haddad, com Tereza Raquel e com o Teatro de Danças de Nova Ior-
que, Nicolau Alvin. Depois dessa experiência e de passar uma temporada entre Bolívia, Peru, Chile (de Allende) e Argentina, senti a valorização da Cultura Popular, principalmente no Chile. Volto a Brasília e com colegas do GLUPUS planejamos trabalhar numa adaptação de um folheto de Cordel - “Os Sofrimentos de Marisa no Reino das Sete Espadas”. Partimos, então, para uma séria pesquisa e estudos sobre literatura de Cordel e sua influência na cultura erudita do Brasil: no cinema, no teatro, na literatura, nas artes plásticas, na música. E organizamos a Semana de Literatura de Cordel na UnB, em 1973. A Semana de Literatura levou o cordel para Brasília. Mas você esqueceu o cinema?
A semana foi realizada com sucesso. Durante exibição do filme, “Deus e o Diabo na Terra do Sol”, de Glauber Rocha, no Auditório da Reitoria lotado, o filme foi proibido e confiscada a cópia.

Pouco tempo depois, nossa casa e de diversos outros artistas, fotógrafos e jornalistas de Brasília foram invadidas, muita gente presa e torturada pela ditadura de então. Fui para Belo Horizonte, com o colega Alexandre Ribondi, e não pude voltar para Brasilia. Vim para o Cariri, para a Chácara dos meus pais no CRAJUBAR, divisão de Juazeiro do Norte com Barbalha, na atual Lagoa Seca. Foi neste exiílio dentro do próprio país que o cinema volta a me envolver. Entro no grupo de “Artes Por Exemplo”, no Crato, ao lado de Antônio Rosemberg de Moura (agora Rosemberg Cariry), Jackson Bantim, Pedro Ernestro Alencar, Abidoral Jamacaru, Múcio Duarte, Célia Teles, Socorro e Zulene Sidrim, Geraldo Urano, José Roberto França, Wilson Dedê (atual Secretário de Cultura do Crato), entre outros. Pedro Ernesto havia ganho uma câmera Super 8, última novidade na época; Rosemberg tinha uma história “A

Profana Comédia” e resolvemos fazer um filme sem pensar em limites de tempo. Juntamos esta turma, com a minha pouca experiência, mas era o único que já havia trabalhado com cinema, e realizamos o filme. Depois de montado por mim em Fortaleza com um amigo que tinha uma pequena moviola de super 8, trouxe para o Crato, exibimos para a turma, mas faltava sonorizar. Levei para São Paulo para editar o som na HELICON. Ninguém tinha dinheiro e depois um dizia que o filme era dele; o outro também, saindo da proposta de criação coletiva. Aí como eu também não tinha dinheiro, o filme foi ficando lá sem ninguém pegar...e nunca mais ninguém viu o filme.… Como se deu a sua aproximação com o primeiro time do cinema brasileiro naquele momento?
Em 1975, Helder Martins, junto com o diretor de produção Cacá Diniz, chegam a Juazeiro para filmarem o longa-metragem “Padre Cícero”, com grande elenco. As primeiras sequencias já haviam sido rodadas em Baturité e Fortaleza, a fase de formação do Padre Cicero no Seminário. Estavam sem Cenógrafo e Figurinista, o que trabalhou na etapa de Fortaleza havia saído do grupo. Como eu havia estudado arquitetura na UnB e tido um pouco de experiência pratica e teórica, fui convidado para assumir a Cenografia e o Figurino. Aceitei na hora e me dediquei 24 horas na produção. A equipe era de primeira. José Medeiros como diretor de fotografia, Antonio Luis Mendes e Walter Carvalho como assistentes de fotografia. Cacá Diniz, um dos maiores diretores de produção do Rio de Janeiro, no comando da produção. E um grande elenco com Jofre Soares, Ana Maria Miranda, Dirce Migliacio, Cristina Aché... Esta foi minha primeira experiência profissional. O
filme foi um marco e uma escola na profissão de muitos de nós que participamos do filme. Também tive uma ponta como ator, mas me encantei em me envolver na produção. Neste momento me decidi a ser um profissional de cinema. Quando o filme acabou fui embora com a equipe para o Rio de Janeiro e, pela mão de Cacá Diniz, às portas se abriram para mim e pude trabalhar daí para a frente com grandes diretores, alguns vindos do Cinema Novo, com elencos de astros e estrelas que eu era fã quando adolescente. Veio Hector Babenco, Roberto Santos, Leon Hirzman, Luis Fernando Goulart, Luís Carlos Barreto, Marisa Leão e a nova geração do cinema paulista - Aloisio Raulino, Hermano Penna, Djalma Batista, Francisco Ramalho Junior, José de Anchieta; Tizuca Yamasaki, Fábio Barreto, Alberto Graça e com Pedro Jorge de Castro, que também foi um grande mestre, além de outros. Ainda no Cariri, Marcos Marcondes, o Matraga, e o Hermano Penna, vieram fazer um Globo Repórte para a TV Globo, que antes era produzido pela Blimp Filmes, de São Paulo. O nome era “Juazeiro do Padim Ciço”, com direção do Matraga e fotografia do Hermano. Fui chamado para fazer a cenografia e figurinos da parte ficcional e ajudar na produção. Rosemberg Cariri veio depois, era iniciante e produzi e trabalhei nos seus três primeiros longas acumulando funções. Aprendi muito com grandes fotógrafos e grandes atores. Boas equipes. Na Globo tive a experiência de trabalhar com uma grande equipe e a direção de Tizuca Yamazaki, amiga desde Brasilia e Maria Sena, parceira de outros trabalhos e amiga irmã; depois ainda na Globo com o Grisoli. Observava e aprendia com todos, me entregava com afinco em cada produção, indo de Cenógrafo e Figurinista a Diretor de Arte; a Assistente de
Produção e Assistente de Direção. Este foi meu grande aprendizado, na prática. Virei um operário do cinema brasileiro, com muito orgulho. O seu primeiro filme- Dona Ciça do Barro Cru , de 1981/82, remete a Cultura Popular, sempre uma preocupação sua. A partir daí você fez vários outros curtas e documentários. Fale dessa fase. Fui criado no Crato em contato direto com as manifestações populares, folclóricas da cidade, com grande admiração e influência do meu tio J.de Figueiredo Filho, grande estudioso da cultura popular da região, que escreveu livros como “O Folclore no Cariri”, “Folguedos Infantis do Cariri”, “Patativa do Assaré” e tantos outros. Sou também neto de escritor e poeta José Alves de Figueiredo. Meu pai era um grande aficcionado também das nossas manifestações populares. Lá por casa passavam os Irmãos Anicetos, Patativa do Assaré, até Luís Gonzaga para um cafezinho na feira do Crato. Morávamos na rua da feira, exatamente no calçamento que vendia cerâmica de barro, panelas, brinquedos e onde Dona Ciça do Barro Cru vendia seus bonecos. Costumava trocar os burrinhos, galinhas e outros animais de barro cru pelo prato de almoço para Dona Ciça. Nossos brinquedos eram todos da feira, caminhões e carros de flandre, baladeiras, panelinhas de barro. No filme Dona Ciça do Cariri todo este
Fui criado no Crato em contato direto com as manifestações populares, folclóricas da cidade
universo da nossa cultura popular está presente. Quando pensei em fazer curtas-metragens, a primeira ideia foi sobre Dona Ciça. Estava em um Festival de Cinema em Brasília, quando foi lançado o primeiro Edital da Funart para produção de dez Curtas sobre a Cultura Popular Brasileira. Morava em São Paulo já nesta época. Pensava em colocar esta ideia, amigos cineastas paulistas me desanimavam, diziam que era coisa para figurões. Estava já quase no último instante para encerrar às inscrições, quando meu grande amigo Armando Lacerda me estimulou a inscrever Dona Ciça. Sentou comigo na Sala de Imprensa, no Hotel Nacional e datilografou o projeto. Inscrevemos e, entre uns 600 projetos inscritos, ganhamos. Um dos inscritos era o de Glauber Rocha, que não ganhou...rsrs. Depois que recebi o telegrama de confirmação, foi fácil arranjar parceiros. amigos com equipamentos e trabalho. Aí na fotografia veio o Hermano Penna. A Morena Filmes, de Sérgio Resende e Marisa Leão, viraram co-produtores, com os equipamentos e a empresa deles; o Armando Lacerda e o amigo jornalista Carlos Augusto Gouveia, além do Jimmi com o som direto. Armando com seus contatos conseguiu as passagens com políticos de Brasília e viemos para o Cariri. Basicamente foi enquadrado como produção paulista, mas era bem mais que isto, haviam cariocas, paulistas, brasilienses e caririen-


ses. Como tínhamos poucos negativos, tudo foi muito bem planejado. Hermano Penna foi uma peça fundamental, o grande parceiro deste projeto e de outros.
E os demais documentários ligados a cultura popular?
A seguir, no Cariri, veio “Músicos Camponeses” e “Patativa do Assaré - Um Poeta do Povo”, estes já bem mais caririense quanto à equipe. De fora, mas caririense, só o Hermano Penna e a técnica de som, a Lia Camargo. Daqui Valmi Paiva, Rosemberg Cariry, Jackson Bantim, José Roberto França. Estes dois filmes não tinham grana quase nenhuma durante a produção. As latas de negativo, 16mm eram apenas 6, ou seja 60 minutos. Três compradas com grana do pai de Cristina Prata e as outras como cachê de apresentações de teatro de mamulengo que Renato Dantas escreveu e nós dois apresentamos na semana da criança nas indústrias que existiam na época no Cariri, a CECASA, a Usina de Açúcar e a Fábrica de Papel. O pagamento equivalia a uma lata de negativos. Os Músicos Camponeses foi um documentário muito bem planejado, até com story board com fotografias. As imagens 2 por um, ou seja apenas duas tomadas para cada cena. Esta fase foi também a mesma que produziu “O Caldeirão da Santa Cruz”, de Rosemberg. Éramos sócios na produtora Cariri Filmes, Nação Cariri Filmes. Cinema é uma arte cara, principalmente no passado. Como eram financiados seus filmes?
Governo de Goias, com produção do Evaristo e Waldir Pina de Barros.
Na época também começaram os festivais de cinema – Brasilia, Gramado – até hoje em cartaz. Qual a importância deles para os novos cineastas daquela época? E hoje?
Realmente é sobreviver, escapar das necessidades básicas. Momentos muito bem pagos, outros mal pagos, outros a trabalhar por amor
Realmente muito cara. Mais ainda fazer no Nordeste, onde nem equipamentos existiam. Tive financiamentos da FUNARTE, do FNDE (Fundo Nacional do desenvolvimento da Educação, do MEC), apoio das prefeituras do Cariri, Crato e Juazeiro do Norte. Passagens aéreas com os deputados em Brasília, como Lúcio Alcantara, Iranildo Pereira e o Senador José Lins de Albuquerque. Do governo do Ceará, nesta fase inicial, nada. O Cariri não recebia nada da cultura do Estado. Mas o mais importante eram as parcerias com os amigos do Cariri e os de Brasilia, Rio e São Paulo, que emprestavam os equipamentos e o fotógrafo vinha sem salário, só pela viagem e por comprar a ideia da produção. Sergio Resende, Hermano Penna, o grande parceiro, Armando Lacerda, a Blimp Filmes e Morena Filmes. Para a montagem contava com a Embrafilme e os prêmios do CONCINE. Isto na fase em que filmei com negativos. Já os filmes que fiz em Goiás o patrocínio era do
Os festivais que existiam na época eram as vitrines e a certificação que tínhamos para os filmes serem reconhecidos e exibidos e premiados. Fora estes de Gramado e Brasilia, existia a Jornada de Cinema da Bahia, esta a melhor mostra para os documentários e filmes de novos diretores de cinema do Nordeste, do Brasil. Foi o mais importante de todos, o mais cobiçado fora do circuito comercial. A Jornada era comandada por Guido Araújo, que havia sido meu primeiro professor de cinema. Também existiu o Festival de Cinema de Penedo, Alagoas. Depois o Festival de Cinema do Rio, O FestRio, que era o internacional, a Mostra de Cinema de São Paulo. Paricipei destes festivais. Ganhei alguns prêmios. Hoje são dezenas de Festivais por todo o país. Só no Ceará tenho conhecimento de uns três ou quatro. Tem no Maranhão, em Natal, em Recife, Tiradentes e por ai vai. Cheguei a participar como Secretário-Executivo dos I e II Festival de Fortaleza do Cinema Brasileiro, com a coordenação de Pedro Jorge de Castro; da Coordenação da Mostra Itinerante a Mostra de Video Ambiental do Caparaó, MoVA; do Festival de Jericoacoara de Cinema Digital auxiliando o grande amigo Francis Vale e coordenei o Primeiro Festival de Cinema e Vídeo do Norte-Nordeste , no Cariri, pela URCA. Primeiro e único. Os festivais são importantes por ser um espaço, vitrine para a exibição de novos filmes, lançamentos de novos diretores. Mas ao mesmo tempo criou uma espécie de ditadura quanto ao tempo dos filmes e também uma preocupação dos diretores em fazer filmes para festivais, muitas vezes esquecendo do grande alvo, que é o público. Por que o cinema brasileiro ainda não emplacou? Tivemos três momentos de bilheteria - o primeiro com a chanchada, o segundo com a pornochanchada (anos 80) e a partir de dois mil com as comédias da Globo Filmes. Como você analisa essa linha do tempo?

O Cinema brasileiro hoje em dia e desde muito sempre teve filmes de boa qualidade, mas não interessa levar a grande massa filmes que fazem pensar. Só a ideologia norte-americana pode ser divulgada, a nossa amordaçada pela não distribuição, pela competição desleal. Tive uma experiência quando era Secretário de Cultura de Barbalha, de exibir filmes brasileiros nas vilas e área
rural do Município. O povo gostava, se encontrava nestes filmes. Filmes que não foram exibidos nas grandes salas, como o “Tigipió”, de Pedro Jorge, “Luzia Homem”, de Fabio Barreto; “Asa Branca- Um Sonho Brasileiro”, de Djalma Batista. Como é sobreviver de cinema no Brasil? Realmente é sobreviver, escapar das necessidades básicas. Momentos muito bem pagos, outros mal pagos, outros a trabalhar por amor. Verbas difíceis e sofridas para se conseguir. Trabalhei também em filme da Boca do Lixo, em São Paulo, como “Aventuras de Mário Fofoca” ,com Adriano Sturdart como diretor, onde se preocupar com cenografia elaborada - era frescura do povo da Embrafilme. Mas sobrevivi virando empresário de outras áreas em alguns períodos, sempre abandonando a empresa pelo cinema. Fui dono de uma loja e restaurante natural em São Paulo, um dos donos do Restaurante Jardim, entre Juazeiro e Barbalha, o famoso Resto Jardim, junto com o companheiro Robert Stirling e, por último, nossa parceria também de uma Pousada na Vila de Itaúnas, Espirito Santo, fronteira com a Bahia. Fui Secretário de Cultura, Turismo e Esportes, de Barbalha, durante o mandato de João Hilário e Ermengarda Santana, a mãe de Camilo Santana; funcionário da SEAMA, Secretaria de Estado do Meio Ambiente, no Espirito Santo, Secretário de Meio Ambiente de Conceição da Barra e prestador de serviços na SECULT-ES, durante os anos da Mostra de Vídeo Ambiental do Caparaó, MoVA. Assim é sobreviver de cinema para quem não se rende aos esquemões do Eixo Rio/São Paulo e das panelinhas do cinema, aqueles produtores que se aliam a qualquer governo para estarem sempre ganhando as verbas do estado, nos diversos estados como Ceará, Espirito Santo, Brasilia, Minas etc. Viver de editais também é meio difícil, se você é o proponente, não pode se pagar… Esta é a coisa mais gritante de defeito dos editais estaduais em geral. E o diretor, o proponente, vai viver de que?
Você foi diretor de arte, cenógrafo de filmes importantes, como Lúcio Flávio, Eles Não Usam Black Tie, entre outros...
Todas estas experiências foram graças ao “Padre Cicero”, o filme. Este trabalho com o Helder Martins e o Cacá Diniz me abriu os caminhos, principalmente o Cacá Diniz. Estes dois filmes que você citou, fui indicado por ele. Foi muito gratificante meu trabalho com dezenas de diretores como Hector Babenco, Leon Hirzman, Roberto Santos, Luis Fernando Goulart, Hermano Penna, José de Anchieta, Sergio Bianchi, Tizuca Yamazaki, Djalma Batista, Aloisio Raulino, Pedro Jorge de Castro e muitos outros. Cada um com seu estilo próprio de dirigir. Me refiro a estes porque valorizavam o trabalho do Diretor de Arte, do Cenógrafo. Trocavam ideias, aceitavam sugestões, orientavam. Construíamos juntos o trabalho, éra-
mos uma equipe coesa, com grandes diretores de fotografia, parceria indispensável para um bom trabalho. O diretor, o diretor de fotografia e o diretor de arte trabalham em conjunto. Tudo que aparece na tela é fruto do trabalho deste trio. Diretores de fotografia como Lauro Escorel, José Medeiros, Antonio Luiz Mendes, Pedro Farkas, Walter Carvalho, José Tadeu, Miguel Freire são além de grandes fotógrafos, grandes parceiros na equipe. Claro que um bom diretor de produção e um bom produtor-executivo são essenciais para uma produção, assim como os técnicos de som, os assistentes de direção, os assistentes de cenografia e figurinos. Enfim toda equipe, desde o boy de set ao contra regra, os maquinistas e eletricistas, devem estar unidos e trabalhar com amor a um projeto. É muito fácil distinguir as ovelhas negras de uma equipe, eles atrapalham, espalham a discórdia… Melhor ainda é quando se tem a presença forte do roteirista como Gianfrancesco Guarniere , de Eles Não Usam Black Tie e de Dias Gomes, na mini-série “O Pagador de Promessas” interagindo vez ou outra com a equipe. Com os novos diretores a minha experiência contribuiu muito, assim como a proposta e a direção de talentos como Nirton Venâncio, do Francis Vale, da Alvarina Sousa e Silva.
E a experiência com “Tigipió”, do professor Pedro Jorge de Castro?
Depois já em Brasília soube que o Pedro Jorge de Castro, que fizera o curta “Brinquedos Populares do Nordeste”, iria fazer um longa-metragem no Ceará, “Tigipió”. Fui convidado por ele para embarcar nesta aventura, nesta produção, como Diretor de Produção e Diretor de Arte. Vim para o Ceará e entrei em contato com o Eusélio Oliveira, para sediar a produção na Casa Amarela. Não o conhecia direito, só de nome e pelo seu temperamento forte. O Pedro Jorge me apresentou a ele. Na formação da equipe cearense convidei alguns do Cariri: Renato Dantas, Walmi Paiva, Gil Granjeiro. De Fortaleza, tivemos o Valter Marques, Carlito e seus assistentes para a maquinaria, elétrica e still Nirton Venâncio. De Brasília vieram a continuísta Erika Bauer; Marcelo Torres para minha assistência de produção e diretor de Set e Miguel Freire como diretor de Fotografia. O elenco foi formado por Regina Dourado e José Dumont, era todo cearense, com B.de Paiva como o grande protagonista. Esta equipe foi mais uma escola de cinema para todos. Os conhecimentos acadêmicos de cinema e de direção, o Pedro Jorge nos passava com segurança, eu tinha já a prática da produção e da arte. Foi um belo trabalho e o resultado muito bom. A partir deste filme Pedro Jorge nos envolveu em projetos maiores em favor da criação de um polo de cinema no Ceará. Após o filme conversávamos e pensávamos juntos no que viria depois, conversas que incluíam também
o Eusélio Oliveira. Daí nasceu o Seminário de Cinema e Literatura.
Qual a importância desse seminário para o cinema cearense?
A idéia inicial do Seminário de Cinema e Literatura foi do Pedro Jorge de Castro que, na época, era consultor da CAPES/MEC. Havíamos acabado de produzir “Tigipió” baseado na literatura, no caso um conto do Herman Lima, muito bem-adaptado pelo Pedro Jorge. O Eusélio entrou na produção representando a Universidade Federal do Ceará, que apoiou logisticamente . A CAPES/MEC foi quem bancou praticamente o grande encontro. O reitor era o Paulo Elpídio de Meneses, que era tio dos meus primos, cunhado do meu tio Antônio de Albuquerque e Souza Filho e com quem tínhamos bom acesso. Fiquei na secretaria-executiva do encontro que tinha a grande força também do Pró-reitor de Extensão, professor Marcondes Rosa. Também trabalhou nesta produção o Nirton Venâncio. Pedro era o coordenador geral. Fez os primeiros contatos com os cineastas e os escritores, que me passava a seguir para dar continuidade às negociações e as programações. Ele que foi à luta pelas passagens, hospedagens. Esta foi a primeira vez que no Ceará se reuniram tantos cineastas de grande renome do cinema brasileiro. Foi neste Seminário que foi discutida a criação de um Polo de Cinema no Ceará, com um abaixo-assinado de todos os presentes. Solicitando ao Governo do Estado, a Universidade e a EMBRAFILME apoio para sua criação. Um documento histórico. Todas as pessoas jovens futuros cineastas do Ceará participaram. Os jornais deram grande cobertura. Aqui estavam o Alex Viany, o Luis Carlos Barreto, Walter Lima Junior, Roberto Farias, Márcio de Souza (escritor) Alguns movimentos anteriores haviam acontecido já com o Francis Vale, o Regis Frota, o Nirton Venâncio, Rosemberg Cariry, com a criação da Associne, a criação da ABD-CE, o Panorama do Cinema no Ceará, em 1981, dos quais eu também participei. Mas formalmente, com o aval de grandes nomes do cinema brasileiro de então, num encontro nacional, era um fato inédito. Também tivemos o I e II Festival de Fortaleza do Cinema Brasileiro, extinto no período da Violeta Arraes na Secretaria de Cultura e depois veio o Cine Ceará. Qual sua interpretação deste período?

O I e o II Festival de Fortaleza do Cinema Brasileiro foi praticamente coordenado pela mesma equipe do Seminário de Cinema e Literatura, veio quase como uma consequência do Seminário. Pedro Jorge era o Coordenador Geral, eu o Secretário-Executivo e atuava na Produção também; o Nirton Venâncio na Assessoria de Imprensa, Liloy Boubli na produção e uma equipe da UFC também foi cedida para apoio. A sede do Festival era em uma sala da UFC, cedida pela Pró-Rei-

toria de Extensão. O professor Marcondes Rosa teve uma atuação bem importante nestes dois festivais. Nos dois tiveram destaque filmes cearenses e de cearenses, como “O Rei do Rio”, do Fábio Barreto como longa e “Patativa do Assaré - Um Poeta do Povo”, nosso filme, como curta-metragem. Naquele período, quase todos atores e diretores, técnicos cearenses ou filhos e netos que atuavam no cinema e moravam e atuavam em outros estados, principalmente no eixo Rio/São Paulo, foram convidados, alguns homenageados e junto com os diretores e técnicos, e critica local, discutiram políticas e estratégicas para a criação do Polo de Cinema no Ceará. Com a chegada de Violeta Arraes o foco e o grupo foi mudado e o festival deixou de existir para predominar o que ela pensava, sob forte influência de Luiz Carlos Barretos, e uma turma do Ceará que não aceitava a liderança de Pedro Jorge.

Violeta Arraes também pensou o polo de cinema...
Sim, da forma dela, mas também sonhava grande para transformar o Ceará num grande Polo de Cinema. Logo que chegou realizou um encontro internacional sobre Comunicação, Cinema e outras Mídias, não me recordo o nome do encontro, embora também tenha participado da produção deste encontro. No primeiro mês da gestão dela atuei quase como chefe de gabinete, mas tive que retornar ao Rio, onde morava, não compensava financeiramente e também pela politicagem que já se iniciava entre os grupos de Fortaleza pela aproximação com ela, uma pessoa conhecida e respeitada no meio intelectual brasileiro e até internacional. Ela trouxe prestigio e visibilidade ao cargo de Secretaria de Cultura do Ceará. Realizou o FestRio , Festival Internacional de Cinema do Rio de Janeiro, que, naquele ano, não conseguiu apoio lá para sua realização e mudou temporariamente para o Ceará, sob a batuta do Luís Carlos Barreto. Você então deixou o Ceará e os debates sobre o polo de cinema?
O Seminário foi a primeira vez que no Ceará se reuniram tantos cineastas de grande renome do cinema brasileiro. Foi nele que discutimos a criação de um Polo de Cinema no Ceará

No início sim, mas depois me envolvi com muitos trabalhos no Rio e São Paulo e não participei mais. Já não me sentia parte do processo. Pedro Jorge e eu fomos excluídos neste período. Não sei dizer se culpa minha por ter me desligado totalmente da turma ou por falta de convite.
Mas você continuou a trabalhar em cinema?
No governo Cid Gomes começou a fase dos Editais. Estava de mudança para o Cariri, para onde retornara para a produção de três médias
metragens ambientais, como parte de um projeto maior, sobre a Chapada do Araripe. “A Chapada do Araripe - A Formação dos Fósseis”, “Chapada do Araripe - Uma Questão Ambiental” e “Chapada do Araripe - Uma Visão do Futuro”, com uma equipe exclusiva do Cariri, com Jackson Bantim, Catulo Teles, Fernando Garcia, Valmi Paiva, também através da Lei Rouanet, parcialmente, com apoio do Deputado José Arnon Bezerra e do então Secretário de Agricultura do Ceará, Camilo Santana, e apoio logístico da URCA, através do reitor Plácido Cidade Nuvens. Depois, participei e ganhei de um edital prêmio, onde produzimos, adaptado de um conto do grande escritor caririense José Flavio Vieira, “O Cinematografo Herege”, uma comédia com atores exclusivos do Cariri e depois em outro edital “Uma História da Terra”, também com equipe local, um documentário sobre a Ocupação pelo MST, do Sitio Caldeirão e o Assentamento 10 de Abril, ambos médias metragens. Também orientei como resultado de Oficinas de Realização Ambiental, dentro do Projeto Audiovisual de Educação Ambiental da Chapada do Araripe, a produção de dez filmes de curta metragem feito pela garotada de Barbalha, Juazeiro do Norte e Crato, junto com as ONGs Instituto de Ecocidadania Juriti, Sociedade Zaila Lavor e Grupo Carrapatos, do Crato. Acompanho o trabalho do Ythalo Rodrigues, do Batata, do JL Oliveira, do Jackson Bantim, da Adriana Botelho, da turma do Berro por quem tenho grande admiração. Quanto ao cinema do restante do Estado pouco sei. Sempre sei das produções do Petrus Cariri, um grande talento, do seu pai Rosemberg Cariry, do Joy Pimentel, do Emanuel Nogueira, Marcos Moura e Clébio Ribeiro. Aqui vai uma crítica aos editais de cinema da Secult, que co-produzem os filmes, mas depois engavetam, não fazem uma mostra dos trabalhos produzidos nos editais, não os distribui pelo interior. Falta uma maior politica de divulgação e distribuição dos filmes realizados no Ceará. Sãos os festivais realizados no estado que exibem os filmes que se inscrevem neles e morrem por aí. Estou muito mais por dentro do cinema pernambucano que do cearense, aliás não perco um filme pernambucano que passa no Rio.
E o Cine Ceará?
Só participei uma vez como júri do início deste século, quando ainda o Francis Vale estava junto com o grupo do Wolney Oliveira. Nada sei, nunca fui convidado, não faço parte da patota. Aqui cada grupo tem seu festival, rsrs. Como eu participava do de Jericoacoara, fui excluído do Cine

Ceara. Mas tem seu importante papel no cinema cearense atual, não resta dúvidas. Você foi um longo parceiro do cineasta cratense Hermano Penna...
Sim, com o Hermano, meu amigo irmão, temos uma longa parceria, desde o tempo do “Juazeiro do Padim Ciço”, o Globo Repórter da Blimp Filmes, passando por meus primeiros curtas que ele fotografou. Foi co produtor, do filme “Fronteira das Almas”, que fizemos em Rondônia e São Paulo. Ainda temos planos de trabalhar juntos. Sempre nos encontramos em São Paulo. Atualmente estou envolvido em dois projetos aqui no Espirito Santo, aonde moro. “Senhoras do Dendê”, documentário sobre o uso do dendê nos quilombos do Norte do estado e sua importância nas religiões dos afro descendentes, como resultado de uma Oficina com a garotada do Quilombola do Angelim e Linharinho, em fase de edição. Também do documentário ambiental “Rio Itaunas - Sempre Vivo”, para uma campanha em defesa da Bacia Hidrográfica do rio Itaúnas, quase na fronteira da Bahia com o ES e Minas Gerais. E encaixado em alguns projetos que estão a concorrer em editais da SECULT-ES. Tenho projetos, roteiros de longas metragens, mas dado a temática que envolve à época da ditadura militar, na atual situação politica nacional, parece difícil… Também tenho um outro que ainda vou fazer no Cariri, baseado em outro conto do Zé Flavio. Você sempre foi um amante do meio ambiente. O que o levou à militância? Não fui, ainda sou e sempre serei um amante e militante das causas ambientais onde quer que esteja. Sou um ambientalista-cineasta. Quando Secretário de Cultura de Barbalha, aconteceu no Rio de Janeiro, a ECO 92.O mundo inteiro no Rio para discutir e apresentar soluções para os grandes problemas ambientais do planeta Terra. Já estava nos meus planos participar, independente da função que ocupava. Já tinha uma preocupação muito grande com o que vinha ocorrendo de devastação na Chapada do Araripe, na FLONA do Araripe. Observava a situação do rio Grangeiro, do rio Itaitera, do rio Salamanca e do rio Salgadinho, que morriam a olhos vistos. Logo após a Eco 92, de volta ao Cariri, com alguns amigos militantes das causas ambientais, criamos a Fundação SOS Chapada do Araripe. Eu, Abidoral Jamacaru, Adilberto, Renato Dantas, Ana Claudia Ribeiro. Trouxemos para Barbalha e a área de influência da Chapada uma Exposição chamada Ecos da Eco 92, com cartazes ambientais de todo o mundo, em Crato, Barbalha, Jardim, Exu, Santana do Cariri. Quando voltei a morar no Rio me engajei em movimentos ambientalistas e depois ao vir morar no Espirito Santo, em São Mateus e depois na Vila de Itaúnas, fui convidado por um amigo que era gerente do Parque Estadual de Itaúnas a trabalhar no Parque, sendo contratado, na época
do governo do PT de Vitor Buaiz, pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Daí passei a coordenar o programa de Educação Ambiental do Parque e seu entorno. Comecei a trabalhar usando o cinema ambiental, explícito ou não com a garotada e a comunidade de Itaúnas. Neste momento também passei a fazer cursos de especialização em Educação Ambiental e em Planejamento de Unidades de Conservação. Com essa luta e este trabalhos começamos a participar do movimento pela criação do primeiro Comitê de Bacia Hidrográfica do Estado, sempre usando o cinema nas mobilizações pelos oito municípios da Bacia do Itaúnas no extremo norte Capixaba. Criado oficialmente, o Comitê que defendi no Conselho Estadual de Meio Ambiente do Estado, em Vitória. Então fui eleito seu primeiro Secretário-Executivo, representando o poder público. Este meu engajamento nesta luta me levou a chefia do Meio Ambiente no município de Conceição da Barra. Sempre usando
filmes nas mobilizações. Ajudei a criar a SAPISociedade dos Amigos do Parque de Itaúnas e fui o seu terceiro presidente, assim que sai da Secretaria. Produzi depois na época dois filmes, um “O Parque Estadual de Itaúnas” e a “Mata Atlântica,” um documentário e Mosaico Capixaba, um ficção para a Petrobras. Coordenei o Projeto De Olho no Ambiente, da Petrobras em Vitoria e fui consultor de um projeto dos Corredores Ecológicos, da Mata Atlântica. Dai quando participava como concorrente no I MoVA- Mostra de Video Ambiental do Caparaó -, fui convidado para coordenar o MoVA Itinerante, pela Secretaria de Estado da Cultura do Espirito Santo. Neste trabalho nos onze municípios do entorno do Parque Nacional do Caparaó, orientei através de Oficinas de Realização Audiovisual, na produção de mais de 40 curtas-metragens, durante quatro anos, até retornar ao Cariri. Até hoje estou envolvido com a SAPI e o Comitê de Bacia do Itaúnas. A SAPI mudou o nome para Sociedade dos Amigos Pró Itaúnas e está produzindo o filme que estamos fazendo, junto com a Kika Gouveia.


A UFCA está estruturando um curso de audiovisual. O que acha da ideia? Tenho participado e acompanhado desde o início o esforço de alguns professores da universidade, como a Adriana Botelho, o José Anderson Sandes, além do Ricardo Salmito. Acho uma grande ideia, até por ser uma proposta além do cinema, abrangendo outras mídias digitais. Outro dia estive aí na Universidade, junto com o Pedro Jorge de Castro para uma conversa sobre a criação deste curso, que foi muito produtiva. Vi a grande participação de alunos interessados, do empenho também do Elvis Pinheiro, da turma do Berro e outros novos cineastas do Cariri. Uma das preocupações é com o mercado, mas atualmente, nesta era digital, existem mil possibilidades. Quando chegamos já no aeroporto vimos uma grande TV com produções locais, anúncios produzidos no Cariri, isto também em vários outros lugares. Na região existem duas estações de TV, várias produtoras de comerciais. Acredito que será um grande curso.

Emanoel
EmanoelAmâncio Emanoel Amâncio
O inesquecível encontro do agricultor Emanoel Amâncio com Padre Cícero e Lampião
Emanoel Amâncio, 102 anos, é agricultor e sabe muito dessa vida. Da roça e da cidade. Nesta conversa com neta, Maria Iara, aluna do curso de Jornalismo da UFCA, ele abre o coração. Mas não tanto. Preserva alguns segredos. Nem para a neta? “Não, nem pra você”. Mesmo assim, ele fala sobre trechos da sua vida, incluindo seu encontro com Lampião e Padre Cícero, na década de 30 do século passado, em Juazeiro do Norte. Leia trechos da entrevista.

Avistei de longe aquele senhor de barba branca, sentado na calçada sobre uma cadeira de balanço e com os pés estendidos apoiados numa outra cadeira. Trajava uma simples camisa azul clara e uma calça de tecido fino na cor preta. Nos pés, estavam as suas botas. No rosto, estavam os óculos escuros e no colo um chapéu na tonalidade meio marrom. Foi como o vi naquela tarde de domingo, na cidade de Mauriti, distrito de São Miguel. Era o meu bisavô - Emanoel Amâncio Furtado Leite. Cumprimentei-o, dizendo:
— Sua benção, vovô!
Fui visitá-lo com intuito de conversar sobre suas memórias. Viajar no tempo por meio de suas lembranças. De início, confidenciei que iria conversar sobre a vida dele. Como um velhinho sincero, adian-
tou:
— Eu vou responder, mas se não der me perdoe.
A partir disso, ofereceu uma cadeira para sentar e, aquele final de tarde, deu espaço a momentos de lembranças moldados por aventuras, enfrentamentos, perdas e ganhos. Tudo das lembranças do senhor Emanoel.
Dando início à conversa, pergunto.
— Se lembra o ano em que nasceu?
— É, é preciso dos documentos. Não tô mais alembrado, não. Agora quer que eu vá buscar os documentos lá dentro de casa? Tenho 101 anos e agora
tô caminhando para 102 anos. Só não sei se me levanto dessa cadeira.
De fato, conseguiu lembrar a sua idade, mas não da data do nascimento. Eu fui quem o lembrei do ano do seu nascimento, 16 de maio de 1916.
Sobre a família, a raiz de um homem, relatou:
— Meu pai se chamava Amâncio Furtado Pereira e ele trabalhava na roça e no campo, plantando a batata, a macaxeira e a mandioca. O caba não passava fome, não.
Logo depois, deu risadas ao recordar de tamanha fartura.
— Já minha mãe chamava Maria Pereira Leite. Era dona de casa e cuidava dos filhos.
De estudo, não aproveitou nada. Ele conta:
— Meu estudo foi um gibão e uma peneira.
E sobre a idade que começou a trabalhar? Silêncio. Viagem no pensamento para recordar o momento em que começou a ter maiores responsabilidades. Só depois de alguns minutos, falou:
— Com 20 anos. Brocando mato, plantando arroz, feijão e milho. E tem uma coisa, eu me dei bem, porque era no tempo que o caba ajudava um ao outro, mas hoje sabe quem me ajuda. Quer saber quem é? Deus. E quando não tava na roça, tava no campo tomando de conta das coisas. Mas eu não ia pra roça ser peão não, que eu não tinha tempo, quem ia

eram os trabaiadores. Lutava com cinco cabas. Dava a cada um deles um chapéu de couro que Dodô do Bonito fazia (artesão que confeccionava sandálias e chapéu-de-couro) e mais cinco pares de alpercata, e eles me ajudavam a guardar feijão para nós comer. Nas idas a Juazeiro, ele destaca o encontro com Padre Cicero Romão.
— Ia para Juazeiro com as alpargatas no pé fazendo lepo, lepo, lepo. Só tinha vereda, não tinha estrada, não. Eu tô com 101 anos. É por que o mundo mudou. No tempo que fui pra Juazeiro só tinha trem e eu não quis pegar, que eu ia com um carneiro, ó o tamanho. Tinha feito uma promessa. Levei para dar ao Padim Ciço. Quando cheguei lá mandei procurar o guarda para saber se eu podia dormir com o carneiro; ele disse que podia e que não precisava ter cuidado que ninguém vinha pegar o carneiro, não. Fiz uma promessa, não sei como era que eu tava. Mas eu não vou contar a promessa, não. Você conhece o caba que trabaia com o cão, você conhece? O cão tá naquele canto que Jesus botou e só sai no dia do juramento. Fui mais compadre Germano pra Juazeiro pagar a promessa. Ficamos hospedado numa barraca que não tinha nada. Só os poder de Deus e meu Padim Ciço. Dormi numa barraca e o carneiro bem assim (faz um gesto demonstrando presença do carneiro ao lado da barraca). O carneiro gordo podia até com um

homem. Ai eu disse a dois romeiros: ô nego, será que os caba carrega esse carneiro? E eles disseram: se carregar, nois toma.
Seu Manoel passa as tardes de domingo sozinho na sua varanda relembrando do tempo que a casa era cheia de pessoas, das fartas plantações
Eu encontrei Padim Ciço na casa dele. Cheguei lá, entrei, tomei a benção e me ajoelhei. Padim Ciço estava numa rede na varanda com couro pro caba se ajoelhar. Ajoelhado, ele botou a mão na minha cabeça e disse “ô meu filho, tô recebido do carneiro”. Botou a mão na batina assim (no bolso) e me deu um tubo num papel bem grosso sem mostrar o dinheiro. Fui contar o dinheiro em casa. Ele me deu 10 mil réis e eu podia ter comprado uma casa no Juazeiro. Taria tão bem hoje. Eu fiz uma promessa e fui valido. Num tem o cão? Quiseram me pinicar, mas não me pegaram, graças a Deus. Passei no Juazeiro três dias assistindo as missões dele. A mãozinha dos romeiros, ó (mão balançando). Voltei pra casa com quatro dias. Achei foi bom o Juazeiro.
Depois disso, sorriu lembrando dos momentos rememorados. E do encontro com Lampião.
— Foi o seguinte, eu vou contar e você pode escrever. Lampião chegou ao Gravatá (sítio de Mauriti) e pai tinha 20 tarefas de baixio e era vereda por todo canto. Lulu e Senhô (cabras de Lampião) disseram: “Me diga uma coisa, você tem coragem de dá de comer a nós aqui essa semana?”. Meu pai disse que tinha. E eu levava o almoço lá para eles comer. Me lembro bem dos nêgo. Agora, era nêgo pra conversar de considerar.

Contando nos dedos, ele nomeou os cinco homens que acompanhavam Lampião.
— Nêgo Massa, só num virou xerém, mas já morreu. Pretinho. Mané Valdivino. São três, é? Paulo. João Novato, nêgo homem e não bulia com ninguém, mas tirava leite do gado. Se a vaca fosse valente, ele tirava o leite dela. É cinco caba que eu vi. Lampião respeita Senhô Pereira (um fazendeiro poderoso) e Lulu Padre. Lampião dizia: “vocês tão fazendo muita festa pra nós”. Aí pai dizia: “carneiro gordo pra nós comer tá os montes e se faltar tem as ovelhas”.
Diante da idade avançada, seu Manoel apresenta apenas fragmentos da memória quando se refere a Lampião.
— Lampião fazia assim ,“ô primo vei”, mandava o recado por um caba chamado “criança” (homem de confiança do cangaceiro). Numa carta pedia uma ajuda. No dia que o caba pedia uma ajuda, ele tava. Ajudamos.
Veio bem, umas duas vezes. Ele caiu nessa luta por causa de um chocalho. O vaqueiro tirou e colocou noutra vaca. Aí quando botou o chocalho na vaca e foi puntá Senhô e Lulu que já tava, o vaqueiro disse “meu patrão, a vaca não tá com chocalho, tiraro da vaca”. Tiraro, a amarra era nova, dava duas voltas no olho do peixe. A chuva caía no chão num engiava, não. Ele foi na casa do Rico e ele chamava baião, e ele disse: “eu sou baião de dois” e “Por que você diz isso?”, “Por nada, pode ficar ciente que eu sou baião de dois”. E eu não sei o que ele fez não.
— Lampião dormia dentro duma mata fechada de num sei quantas tarefas. Ele pediu uma ajuda de dinheiro a Padre Lacerda, e ele disse a Lampião: “Vá trabaiá”. Lampião disse ao Padre Lacerda que podia esperar por ele que ia trocar bala um dia com uma noite. Disse que vinha trocar bala mais Padre Lacerda e foi.
E Lampião trocou bala mesmo com o Padre Lacerda? Pergunto.
— Padre Maranhão tinha um nêgo muito disposto e pediu: “Sucupira, você vai levar essa carta a Lampião” E Sucupira foi. Na carta, Padre Maranhão pediu para Lampião: “Faça isso não meu afiado, atenda meu pedido”.
O Lampião fazia assim, "ô primo vei", mandava o recado por um caba chamado criança
Em resposta, Lampião falou o quê?
Sobre a hospedagem do cangaceiro, meu avô contou:
— Já tava feito, mas eu vou passar mais um pedacinho. Lampião desistiu do tiroteio. Pegou um tocador pra ir pra fazenda Araticum e tocar lá. Chegou lá nos vaqueiro Zé de Viagem e Mané Gonçaives. Foi e disse “cadê André Cartaxo (dono da fazenda)?”. E os vaqueiro dissero que ele num tava lá. Lampião falou perguntando dos dez bois que ele tinha dentro duma manga (tipo um cercado) e os vaqueiro dissero: “tem dez bois, agora escolha um, mate e vá comer”. Botaram o forró e balançaram. Botaro pra correr o caba que eles levaro dizendo: “Vá simbora que você já tocou demais e quanto é sua viagem?”. O tocador foi tocando apulso ou ia ou morria.
Depois de contar a história de Lampião, deu risada da situação. E continuou a contar os acontecidos: — Do Crato, mandou perguntar “Ô André Cartaxo, eu matei um boi dos teu e queria conversar com o senhô, quanto foi o boi?” Foi o que ele mandou dizer. E André Cartaxo respondeu falando que podia era matar os dez que cá num vinha, não. Aí é homi! Adepois Lampião mandou pagar o boi. Era homi, nêga, homi é homi.
Sobre a morte de Lampião, ele relatou: — Não. Eu não me lembro, não.

E assim, seu Manoel passa as tardes de domingo. Sua memória é fragmentada, a importância é o registro linguístico. Sozinho na sua varanda relembrando do tempo que a casa era cheia de pessoas, das fartas plantações (batata, macaxeira, arroz, feijão, milho), dos filhos e até da mulher – Estela Pereira Leite. Ela o deixou e foi morar no Rio de Janeiro, depois de mais de vinte anos de casado. Ficou por lá durante 30 anos, voltando para Mauriti em 2014, quando tinha mais de oitenta anos. Dona Estela morreu em 2015. Talvez, seja ela o maior rancor da vida de seu Emanoel. Depois da partida da mulher, sua filha, Geusa, cuidou dos dois irmãos mais novos e do pai. Geusa morreu no ano passado. Agora, uma das netas, Silda, cuida do seu Manoel. De uma coisa ele não abre: gosta de viver sozinho na sua casa no distrito de São Miguel, em Mauriti.



Já minha mãe chamava Maria
Pereira Leite. Era dona de casa e cuidava dos filhos. De estudo, não aproveitei nada. Meu estudo foi um gibão e uma peneira
Heitor HeitorFeitosa Feitosa
Feitosa
Os primeiros donos brancos do Cariri
Como a maioria dos cratenses, Heitor Feitosa Macêdo é um entusiasta da memória de seu povo. Na infância, cresceu ao som da oralidade. As lendas e mitos regionais que lhe foram contados pelos seus antepassados, despertaram nele a precoce curiosidade e questionamentos sobre a veracidade do que ouvia. Em consequência, aos 16 anos iniciou suas pesquisas. De lá para cá, mais de 20 anos de estudos que percorrem da história oficial à história oral. Advogado e atual presidente do Instituto Cultural do Cariri (ICC), Heitor já soma ao seu currículo de historiador importantes descobertas e reviravoltas sobre a história do Cariri cearense. Nesta entrevista, esclarece muitos pontos ainda obscuros sobre a colonização do Cariri, principalmente envolvendo a Casa da Torre, uma casa forte da família Garcia d’Ávila, dona de quase todo Nordeste no período do Brasil Colônia.


Eu gostaria de saber como nasceu em você a vontade de pesquisar sobre a memória.
Desde criança, eu escutava muito os mais velhos conversarem sobre pessoas que haviam vivido em tempos passados. Mas eles conversavam isso como se tivesse ocorrido ontem. Aí citavam os nomes, locais, fatos, e quando eu comecei a despertar para leitura, aproximadamente aos 16 anos, sobre História Regional, observei que essas pessoas as quais eles tratavam, esses personagens, tinham vivido no século XVIII e XIX. Então, isso significava uma tradição muito viva ainda, porque boa parte dessa gente que eu escutava, os mais velhos, eles não eram leitores vorazes. Era coisa de memória, de geração em geração.
Oralidade!
É, exato. Então, isso me despertou muito, e daí eu enveredei nesses estudos sobre história.
Quais as fontes de pesquisa mais utilizadas na sua formação enquanto historiador, memorialista?
As fontes de pesquisa... Eu trabalho da seguinte forma, quando a bibliografia, às vezes, se torna insuficiente sobre um assunto, que foi o que me levou a aprofundar mais ainda essa curiosidade, eu ia pra documentos manuscritos, geralmente, claro, além da oralidade, fazendo entrevistas, gravando em áudio. Sobre essa documentação, eu tive a sorte de haver uma democratização com os estudos chamado Projeto Barão do Rio
Branco, ou Projeto Resgate. É uma documentação do Brasil da época colonial que foi digitalizado por brasileiros, professores doutores daqui do Brasil, e trazidos para universidades, instituições, e por volta de 2006, 2007, eu consegui obter alguma parte desses documentos manuscritos da Torre do Tombo, em Portugal. Daí eu comecei. Aprendi a fazer a paleografia, que é a leitura da escrita antiga, e descambei, porque a gente passa a não mais estar limitado àquele espaço, aquele limite predeterminado pela historiografia já existente. A gente pode ampliar esses horizontes porque um manuscrito daquele, às vezes uma frase, pode ajudar a recontar toda uma história. Então, as fontes que eu uso: oralidade, bibliografia... Principalmente de assuntos regionais que é o que mais me interessa, o Cariri, o entorno da Chapada Araripe, desse espaço, e o Sertão dos Inhamuns também que é um território aqui próximo. Então, bibliografia, oralidade e fontes manuscritas também.
Como você pensa a importância de estudar a memória, de ouvir os mais velhos, a memória individual, a oralidade e o estudo da história?
Importantíssimo. Principalmente aqui, nesse espaço onde a gente vive, um sertão, um interior, no sentido de interior como esse
aqui no Cariri, quase equidistante das principais capitais. Ele guarda desde a época das primeiras Bandeiras, usos e costumes antiquíssimos, arcaicos, coisas que ainda vieram com as Caravelas. E, inclusive, por meio da língua, eles costumam ainda transferir esse conjunto de tradições através da conversa. É interessantíssimo como isso se mantém preservado, essa questão linguística. Por exemplo, entre eles a gente vê muita coisa da língua portuguesa desde a União Ibérica quando falam “barrer”, “subaco”, “assubiar”, “alevantar”, “alumiar”, “alagoa”. Então, a gente percebe uma gramática arcaica, uma fala que não pode ser considerada incorreta, mas que muitas pessoas desavisadas terminam rindo, ignorando esse laboratório a céu aberto aqui, como se a gente pudesse voltar no passado, tendo contato com o campesino daqui, o sertanejo no Cariri, no Inhamuns. E outros sertões aqui ao derredor também guardam resquícios da língua cariri, indígena. E sobre o Museu Nacional, parte da sua coleção linguística foi toda queimada. Existia uma coleção de línguas indígenas, audiovisuais, áudios, a primeira gramática da língua Tupi-guarani escrita pelo Padre Anchieta, peças também daqui da região estavam guardadas lá, por exemplo, o Angaturama Limai, salvo engano, era o maior carnívoro das Américas, fóssil encontrado em Santana do Cariri. Acredito que parte das aquarelas também, produzidas pela comissão científica de exploração que D. Pedro II enviou para o Ceará, em 1859, e ficara até 1861, perdemos tudo isso. Ainda temos algumas dessas aquarelas em Crato, que o José Carvalho dos Reis, participante da Comissão Científica, produziu. Por exemplo, a pintura em que o Crato é retratado do alto da Rua Duque Caxias, onde Pinto Madeira teria sido fuzilado, é de suma importância que essa colcha de retalhos seja trabalhada aqui no interior, para que ajude a formar ou reformar essa bagagem que foi perdida em consequência da combustão do Museu Nacional, dessa combustão da nossa memória.
“Plantei fava!”.
“Como é que tá a fava?”
“Meu fí, tá fazendo um “gererê” danado”.
Eu, meio que sem jeito, já com meus 30 e poucos anos, formado em Direito, pesquisador com livro publicado, já havia consultado o dicionário algumas milhares de vezes, então, eu fui e disse: “Dona Tica, o que é “gererê”?”. “Meu fí, é enramar”, explicou. Aí piorou: “Dona Tica, e o que é enramar?”. Ela disse: “Meu fí, é subir assim (fazendo roda com os dedos)”.
A família Garcia d’Ávila eram sertanistas riquíssimos, eles foram donos de quase todo o Nordeste. Desde a Bahia, se espalharam pela região em busca de riquezas e escravização dos índios
Eu fiquei com aquilo na cabeça. Quando cheguei em casa fui direto na gramática da língua Kiriri, produzida por um padre capuxinho, italiano, por volta de 1698. Ele convivia com esses índios nas margens do [rio] São Francisco. Então, eu abri essa gramática e lá estava a palavra “tererê”, que quer dizer redemoinho. Depois fui para a gramática Tupi-guarani, do Leon Clerot, e lá tinha “Pererê” e Saci-pererê, que quer dizer, também, movimento circular e demônio, ou seja, “pererê”, “tererê” e “gererê” se tratavam da mesma coisa. O que comprova que temos resquícios dessa língua Cariri. Aqui entre nós não percebemos, por isso penso que às vezes basta um pouco de sensibilidade, conhecimento sobre essa língua que tanto ignoramos. A gente estuda inglês, espanhol, francês para poder se adaptar a esses tempos modernos da globalização, mas esquecemos dessa coisa importante que nos cerca. Passado e presente se misturando, essa etnia que ainda subsiste. Existe uma invisibilidade aí imposta por essa falta de sensibilidade.
Para começarmos a falar sobre como se deu a colonização do Cariri, faz-se necessário voltar um pouco mais no tempo e relembrarmos os fatos que despertaram o acontecimento. No artigo, você propõe os dois lados da moeda, digamos assim, são apresentados os que acreditam e os que não acreditam na presença de pessoas a serviço da Casa da Torre... Mas para darmos início a nossa conversa: O que foi a Casa da Torre?
pois, os netos deles vão se casar com os netos de outro português que havia se instalado lá e que também tinha se casado com uma índia. Porque quando eles chegam aqui (no Brasil), nesse período, era muito difícil haver mulher branca. Eles vão construir essa casa em Tatuapara, que na língua indígena significa Tatu-bola. Hoje eles chamam Praia do Forte, fica entre Salvador e Ca-
Por que o salitre?
Porque o salitre fazia parte da composição da pólvora, e como esse pessoal vivia em guerra, tanto com estrangeiros, quanto com os próprios índios, que eram “barreiras humanas” para adentrar o interior, então, eles precisavam da pólvora. E essa era a cobiça principal.
Alguma vivência em relação a isso e que possa nos relatar?
Numa outra vez, eu estava num lugar chamado Palmeirinha, distrito aqui do Crato, e conversando com uma cliente minha, que é uma pessoa baixinha, tem pele acobreada, os cabelos lisos como “setas”, olhos repuxados, o nome dela é Tica de Jorge. Então, eu perguntei: “Dona Tica como tá o inverno esse ano?”.
Ela disse: “Meu fí, o inverno tá bom”.
“Plantou alguma coisa?”, continuei.
“Plantei”, respondeu.
“O que é que a senhora plantou?”.
A Casa da Torre era uma casa forte, construída pela família Garcia d’Ávila. Por isso que virou quase um sinônimo falar Garcia d’Ávila e Casa da Torre. Falar numa coisa era falar noutra.

Como a Casa da Torre foi construída pelos Garcia D’Ávila?
No final de 1500 chega aqui no Brasil, mais especificadamente na Bahia, um indivíduo chamado Diogo Álvares Correia, o “Caramuru” ou “filho do trovão”.
E ele ganha simpatia dos índios e acaba por viver com uma índia do tronco Tupi, chamada Paraguaçu, que depois toma o nome de Catarina Álvares. Eles se casaram e tiveram uma porção de filhos mamelucos. De-
maçari. Agora, a casa está em ruínas, são ruínas tombadas pelo IPHAN [Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional]. E voltando para época de 1500, até o final do século XVIII, eles vão formar o núcleo da família mais rica de todo o Brasil.


Qual era a principal fonte de renda deles?
A principal fonte deles era investir sobre o interior do continente para conseguirem terras para criar gado, colocar engenhos, prospectar metal precioso, para escravizar índios e vender, e também procurar salitre.
Quem eram os Garcia d’Ávila?
A família Garcia d’Ávila eram sertanistas riquíssimos, e eles foram donos de quase todo o Nordeste. Para você ter uma ideia, eles foram donos do Exu, lá o Leonel, avó da Bárbara de Alencar, quando se instala no Exu, ele vem através de arrendamento, ele assina o contrato de arrendamento com a Casa da Torre, na Bahia, e vem ocupar as terras dela. Aquela terra não era dele, ele pagava fórum anual. Pois bem, nessa porção pernambucana da Chapada do Araripe, era da Casa da
Torre, na porção oeste, indo para o Piauí também pertencia à Casa da Torre, o Intaim, e na porção leste, na Paraíba, que se divide com o Ceará, também era da Casa da Torre. Isso é comprovado por uma documentação farta, sesmaria citada por eles por várias vezes, inclusive na Casa da Torre existia um morgado. O que era o morgado e como ele funcionava?
Morgado era um instituto jurídico pelo qual todo patrimônio passava para o filho primogênito, o filho mais velho. Isso para poder manter essa fortuna e não ir se fragmentando através da herança. Afinal, na época, era comum o indivíduo ter dez, 15 filhos e quando dividiam as terras, esses bens, a tendência era empobrecer. Então, a universalidade passava para aquele filho mais velho. O morgado foi extinto no século XIX, mas foi muito comum nas famílias ricas.
Qual a ligação da Casa da Torre com o Cariri cearense? O que dizem os que acreditam e os que não acreditam nessa aproximação?

Logo após a Guerra Holandesa muita gente se refugiou na mata. Parte dos soldados mercenários que lutavam a favor dos holandeses, mas também as tri-
bos indígenas que eram inimigas dos portugueses e de outros índios. Geralmente, os portugueses lutavam na companhia dos Tupis (Tupinambás, Tupiniquins). Enquanto que os holandeses, lutavam ao lado dos Kariris e os Tapuias em geral (Tremenbés, Janduins, etc) e, por uma certa lógica, quando os holandeses são expulsos, finalmente, de Pernambuco, onde ficaram de 1630 até 1654, começam uma série de retaliações, de vinganças. Esses índios Kariris sentem a necessidade, os Tapuias em geral, de se refugiar no meio das matas, no cerne do continente, no interior, no Sertão, no que era chamado de Sertão, na verdade. Então, esse ponto aqui [o Cariri], ele quase que é equidistante, porque se o indivíduo tirava numa reta do litoral no sentido do interior, ele quase que ia se encontrar nesse ponto aqui, né?! Iam se cruzar. Há registros atuais, na documentação da Torre do Tombo que comprovam que, por exemplo, índios da tradução Tupi se refugiaram aqui, no Cariri, porque existe uma carta do Ascenço Gago, padre jesuíta, pedindo autorização ao rei, em 1722, para vir aqui com alguns índios da Serra da Ibiapaba, já no Norte do Ceará, encontrar alguns parentes desses índios – índios
da Ibiapaba eram índios do tronco Tupi, os Tabajaras – e encontrar com parentes que tinham ficado aqui há mais de 100 anos, numa retirada que eles fizeram da Bahia. Inclusive, a arqueologia feita aqui hoje, pela Fundação Casa Grande no Instituto de Arqueologia, está encontrando muitas igaçabas, muitos artefatos cerâmicos que são, muito provavelmente, de tradução Tupi.
Por quê?
Porque até então o mais comum era encontrar artefatos, por exemplo: cerâmico, muito grosseiro, eles atribuíam aos Tapuias. Tapuias são aqueles que não falam Tupi, não são do tronco Tupi. Um bojo grosso, o rebordo bastante grosso, sem pintura. Raras exceções tinham encontrado igaçabas e cerâmicas aqui [no Cariri] com pinturas, só que agora está se avolumando isso. E os traços dessas pinturas, o revestimento desse material cerâmico com tabatinga, né?! Indicam uma tradição Tupi, uma habitação desses índios Tupi. Figueiredo Filho, por exemplo, na década de 50 para 60, bateu uma foto e fez uma matéria para uma revista, acho que para uma revista baiana, em que ele está com um colar indígena, encontrado em uma igaçaba aqui (no Cariri) de jadeíte. A pedra jadeíte não é encontrada aqui no Ceará. Sabe-se que ela existe em Minas Gerais e na Bahia, então, isso de certa forma aponta que havia uma migração, um curso migracional aqui para esse interior. Agora, por que eu estou falando primeiro dos índios, dos conflitos? Esses conflitos pelo território, entre portugueses e holandeses, ajudam a empurrar essa gente para o interior. E logo após esse conflito, esse pessoal tem mais condições de montar tropas, burros, escravos, para poder investir pelo interior, guerreando com índios, enfrentando as diversidades da natureza e poder adentrar o Sertão para angariar a terra, para produzir, para criar gado, para montar engenho, para explorar ouro e pedras preciosas, que eram os três ciclos econômicos da época: ouro, gado e metal precioso. Segundo ponto da importância do que falei anteriormente, o índio é quem vai guiar esse pessoal pelo interior, ele vai ciceronear esse pessoal porque ele era o conhecedor do território. Então, a Casa da Torre vai penetrar aqui no Cariri. Hoje eu comprovo isso, só que até pouco tempo existia uma discussão de quase 150 anos. Explique melhor.
Porque a tradição oral, aqui no Cariri, apontava que a Casa da Torre tinha vindo. E são duas tradições orais que nós temos: uma oriunda do Brigadeiro Leandro Bezerra Monteiro, que foi um cara que nasceu ainda no século XVIII, participou da Contrarrevolução de
1917 aqui no Cariri, e é descendente direto de muitos políticos, das elites da região que são os Bezerra Monteiro ou Bezerra de Menezes, é a mesma coisa. E ele vai contar a um dos filhos dele, o terceiro Capitão Mor do Crato Joaquim Bezerra de Menezes, uma história que a Casa da Torre teria vindo da Bahia para o Cariri, claro que falando metaforicamente, já que a casa não ia se deslocar, mas os representantes de lá, os empregados, os procuradores, para conquistar terra para ela.
Como eles descobriram a existência do Cariri?
Um negro escravo da Casa da Torre teria sido sequestrado pelos índios Tapuias Kariris ainda muito jovem e foi trazido para o Cariri. Como os Kariris viviam em conflitos com outras tribos, ou nações, eles guerreavam, diz a tradição oral, os Inhamus, Calabaças e Cariús e estavam em desvantagem na época. Então, esse negro disse aos Kariris: “olha, vamos lá para a Fazenda Várzea, dos meus patrões que lá eles têm armas de fogo, têm trabucos, bacamartes. Vamos lá, escapamos e voltamos para cá para guerrearmos com o inimigo”. E assim foi feito. O negro havia caído nas graças dos índios, já fazia parte da comunidade, então, foram na Fazenda Várzea e encontraram tal de Medrado, que era procurador da Casa da Torre – como se fosse um capataz.
Onde se localizava a Fazenda Várzea?
Até hoje ninguém descobriu onde era essa fazenda, acredita-se que ou em Pernambuco ou na Bahia. Existem vários lugares até hoje com o nome Várzea e a Casa da Torre era dona de um território imenso, então podia se repetir. Isso é ainda um problema a se resolver. Eu penso que era próxima a Casa da Torre, mas é certeza que a fazenda pertencia a ela. O escravo foi sequestrado da Casa da Torre ou de uma de suas fazendas?
De uma de suas fazendas. Então, vieram aqui, combateram, ajudaram os Kariris a combater os inimigos e aqui encontraram um indivíduo se balançando em uma rede, um indivíduo branco já entre os índios, chamado Manuel Rodrigues Ariosa.
Quem era o Manoel Rodrigues?
Era um criminoso da Bahia que veio se esconder aqui nesse interior. Na hora que a bandeira estava aqui, toda bandeira tinha um regimento, uma disciplina, tinha o que podia e o que não podia esclarecido, e se cometesse qualquer ato, qualquer infração, o indivíduo poderia ser até morto pelo chefe da bandeira. Ocorre que o João Correia Arnaud vinha nessa bandeira, e só fazendo um parêntese, João Correia Arnaud era parente dos Garcia d’Ávila, era uma “Caramuru”, como chamavam. “Caramuru” por causa de Diogo Álvares Correia - os Bezerra de Menezes, os Garcia d’Ávila, os Arnaud, essas famílias eram chamadas “Caramuru” porque faziam parte, se entroncavam com a Casa da Torre, portanto, o brigadeiro Leandro Bezerra Monteiro também era parente deles. Então, o João Correia

Arnaud vai contar isso, vai passar de geração para geração a mesma história, que é a segunda tradição oral, e isso vai cair nos ouvidos de uma bisneta dele. Essa bisneta era casada com o professor Bernardino Gomes de Araújo – esse cara nasceu no Sertão dos Inhamuns, mas viveu como professor em Missão Velha, na Fazenda Ossos. Ele escriva para o jornal “O Araripe” (séc. XIX entre 55 e 65), lá ele coloca uma dessas tradições orais. Muito do que ele fala se coaduna com a primeira tradição do brigadeiro Leandro Bezerra Monteiro. O que mais fala essas tradições orais?
Que várias Bandeiras vieram por aqui. A Casa da Torre teria sido a primeira, alguns falam na data de 1590, só que eu acho um anacronismo e acabo por mostrar na minha pesquisa que isso não confere. Mas daí em diante o que é que ocorre?
Estribado nessa versão oral, João Brígido e outros historiadores como o conselheiro Tristão Gonsalves de Alencar Araripe – que foi membro do STF, era filho do primeiro Tristão, nascido em Icó, mas terminou indo morar no Rio de Janeiro onde se formou em Direito e se tornou um ícone da intelectualidade. Outros indivíduos além desses dois, foram o médico francês Pedro Théberge, que morava no Icó, a partir da primeira metade do século XIX, e o Bernardino começaram a escrever intensamente essas histórias sobre o Cariri unindo fontes primárias, indo a arquivos e também, claro, escutavam o que era conversado na época, a oralidade, né!? E começaram a publicar isso. Só que no final do século XIX, início do século XX, a corrente científica positivista começa a se acentuar, principalmente em Fortaleza, onde a partir de 1887 é formado o Instituto do Ceará, fazendo parte o Barão de Studart, Antonio
Bezerra, Tomás Pereira, entre outros. E essa corrente positivista só acreditava no que o documento podia provar. Então, nessa época eles começam a vasculhar a documentação relativa à sesmaria aqui no Ceará. Quem e como eram concedidas as sesmarias?
Sesmaria era uma porção de terra doada pelo capitão-mor com a chancela do rei para que o pensionário se compromissasse a ocupar a terra, ou seja, a Coroa Portuguesa queria que o interior do Brasil fosse ocupado com capital privado porque não queria financiar, porque era caro. Então, eles doavam léguas de terras enormes. Inclusive, isso vai lastrear a origem dos nossos latifúndios. Uma sesmaria era uma medida antropométrica, na época, mas ela tinha três léguas de comprimento, na beira de um rio, por uma légua de largura, meia légua de largura para cada margem do rio. E tiveram pessoas que tiveram 10, 20... Encontrei um indivíduo aqui, o Lourenço, que possuía 35 sesmarias. Trazendo para as convenções atuais, uma légua significa quantos quilômetros?
Depois da adoção do Sistema Métrico Decimal, feito apenas em 1862, sabe-se que uma légua tem seis quilômetros. Mas na época a légua era uma medida herdada da civilização romana. Légua vem de leuk, que eram umas pedrinhas brancas comuns em Roma para medir as terras, para delimitá-las. E a légua se subdivide em braças. Até hoje o sertanejo mede dessa forma. Se você chegar: “fulano, quanto é que tem uma braça?”. Esse indivíduo vai ficar em pé, erguer a mão e cortará uma vara, seja de marmeleiro ou mororó, e sairá medindo o território. Então, é um arcaísmo que ainda é praticado no Cariri. Na época, a légua já se subdividia em braça e essa braça podia variar: uma légua podia ter 2.400 bra-
ças, 2.800 braças e até 3.000 braças. Obviamente que, se fosse um homem grande seria uma braça grande, e se fosse um homem pequeno seria uma braça pequena. Voltemos para a Casa da Torre e para as teorias que afirmam e desacreditam na presença de indivíduos de lá aqui no Cariri...
Pois bem, aí os positivistas não encontraram nenhum documento sesmaria aqui, doada à Casa da Torre que comprovasse isso, pelo menos no livro de sesmarias aqui do Ceará, da capitania. E quando os documentos não são encontrados eles afirmam que a Casa da Torre não esteve aqui, que tudo era mentira daqueles “cronistas”, como foram chamados os historiadores da época, o João Brígido, o Théberge, como já falei. A partir daí, começa um trabalho de desqualificação desses primeiros autores, das tradições orais. E isso ganha corpo.
O que acontece?
Na época, claro, não existiam universidades aqui, esse conhecimento era feito quase sempre por uma elite branca, e os debates vão se estendendo ao longo de décadas, sem encontrar uma resposta. Na própria academia, as pessoas se dividem na presença ou não da Casa da Torre no Cariri. Para aqueles que acreditam na presença, utilizam-se de fontes como João Brígido, Théberge, o Conselheiro Tristão e, aqueles que não acreditam na presença da Casa baseiam-se no Barão de Studart, Antonio Bezerra, etc. Esse discussão virou quase que um ciclo vicioso que não evoluía, e foi por aí que me interessei pela pesquisa. O que foi descoberto na sua pesquisa?


Encontrei há alguns anos um documento em que a Casa da Torre peticiona como sesmaria a Região do Cariri cearense. Ela havia sido dona de Pernambu-
co, Piauí, Paraíba, mas do Cariri cearense não existia documentação, como falei anteriormente. A sesmaria que encontrei era datada do dia 22 de julho de 1658, em que o André Vidal de Negreiros (capitão-mor da capitania de Pernambuco e ex combatente da Guerra Holandesa) vai doar para os Garcia d’Ávila uma faixa de terra enorme, em que a Serra do Baripê, Varipê ou Aripê fazia pião. Fazer pião era fazer centro. Ele cita nas imediações o Sertão do Rio do Peixe que é Paraíba, Piancó, Pajeú que é Pernambuco, ou seja, tudo leva a crer que era a mesma Serra do Araripe, só que ainda restava dúvida. Inclusive o Capistrano de Abreu já tinha lido esse documento, só que não atinou para esse fato e fez a paleografia da palavra Baripe ou Aripe, ou Varipe, como se fosse Raripe. Então, comecei a fazer mais pesquisas e encontrei uma documentação em que há um conflito entre a família Garcia d’Ávila, em 1808 ou 1809, com a família Burgos Pacheco. Esse conflito ocorreu na Bahia?
O conflito por terra entre essas duas famílias já era em Pernambuco, mas parece que já englobava parte aqui do Araripe, da Serra do Araripe. E os d’Ávila vão alegar na contestação, na litigância judicial, dizendo o seguinte: “olha, nós somos donos dessas terras há mais de 200 anos, desde 1658, e a Serra do Araripe”. Na época, se chamava Aripe, né?! Bem próximo a Uaripe, Baripe e Varipe. Além disso, eu vou encontrar outros documentos inéditos que vão tratar de invasões que a família Garcia d’Ávila havia promovido no começo do século XVIII aqui no Cariri. Certa feita, a Leonor Pereira Marinho (1661-1714), a “Senhora da Torre”, dona da casa, do morgado e viúva de Francisco Dias d’Ávila (1648-1694), vai enviar homens armados para
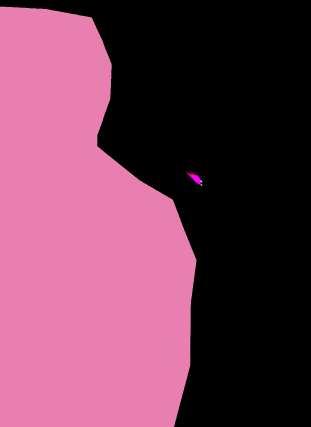

destruir casas, quebrar telhas, para despovoar o território que já estava sendo ocupado por brancos. Qual era a realidade territorial e social do Cariri nessa época?
Segundo o Padre Antonio Gomes de Araújo, que é um dos maiores estudiosos sobre a colonização do Cariri, ele fala que o povoamento regular começa em 1703, o povoamento branco, claro, existiam índios. Em algumas sesmarias, de 1702, a gente encontra também gente da família Mendes Lobato, que eram brancos lá das margens do São Francisco, da região do Porto da Folha, hoje Sergipe, invadindo aqui o território e se unindo aos índios Calabaças para poder investir contra outros índios e ocupar a terra. Numa das sesmarias da Casa da Torre, outra que eu encontrei porque acabei por encontrar mais de uma durante as minhas pesquisas, do ano de 1688, ela alega que não pôde adentrar o território aqui do Cariri cearense porque os índios faziam resistência, ou seja, o índio era uma barreira humana e até parece que próximo a esse período. Em alguns anos esses índios vão se rebelar como em 1713, aqui no Cariri, e vão colocar parte desses brancos para correrem. Então, nessa época do século XVIII esse povoamento era muito caldeado, era muito misto. Existiam ainda tribos indígenas no seu estado primitivo, esses brancos invadindo, já existiam também índios fazendo alianças, já existia miscigenação entre índios e brancos, os mamelucos que vão ser peça importante nessa invasão porque eles eram parentes de ambos os lados, conheciam a língua, o português em sua língua originaria: autóctone, e assim estabelecia a comunicação que era importantíssima para a formação dessas alianças. Então, o povoamento nessa época aqui tinha essa cara. Como se estabeleceu essa comunicação entre índios e brancos?


Aí eles já vinham bastante cansados e precisavam de alguém para poder conversar com aquelas tribos indígenas que estavam ali estabelecidas para evitar um enfrentamento armado, porque aquilo causaria prejuízo. Então esse “língua” era o responsável por estabelecer a comunicação.
Você falou anteriormente que naquela época os índios já faziam alianças com os homens brancos... Que tipo de aliança? Era troca de favores?


Essas alianças se efetivavam principalmente em trocas de objetos, eles iam comprar os índios com foices, machados, facões e facas. Inclusive, a tradição da faca nordestina, ela começa a se consolidar nessa época, rito da sangria, tanto usada pelo Cangaço Lampiônico. Em geral, os índios que aqui já se estabeleciam eram amigáveis, abertos para conversa?
Nem sempre. Existia a possibilidade da aliança a depender de quem viesse estabelecê-la e quais as vantagens eles iriam oferecer aos índios.
Várias Bandeiras vieram por aqui. A Casa da Torre teria sido a primeira, alguns falam na data de 1590. Só que eu acho um anacronismo e acabo por mostrar na minha pesquisa que isso não confere
Como foram evidenciadas e comprovadas essas negociações aqui no Cariri?
Geralmente, quando os brancos botavam uma bandeira eles traziam nela um cara que eles chamavam de “o língua”. “O língua” era o indivíduo prático do Sertão que dominava a língua indígena. Porque não era vantagem para eles chegarem numa certa região, no interior, já sofrendo com privação de água, de alimentos, tendo que comer raízes e “imundices”, como eles consideravam, na época, cobras, lagartos. E sem o conhecimento da terra, ainda corriam o risco de se alimentarem de raízes venenosas, a exemplo da mandioca que era o principal alimento de lá, e nós sabemos que a mandioca precisa ser lavada em nove águas para poder retirar o ácido cianídrico, caso contrário, ela mata.
Em uma igaçaba encontrada na calçada do Museu Vicente Leite, em Crato, lembrando que igaçabas eram urnas indígenas, existia uma colher de metal, ou seja, representa já um contato entre os índios e os brancos. A gente encontra, por exemplo, o mercenário holandês Roulox Baro, que foi um “língua” em 1637, ele entrando em contato com Janduins, que lutavam ao lado dos holandeses, e os Janduins pedindo presentes como cães de raça de origem europeia, menoscabando um presente em metal que o Roulox Baro tinha dado a eles, dizendo: “não, os holandeses já nos deu presentes melhores cravejados aqui em pedras”. Eles eram pessoas que também tinham suas cobiças, naturalmente, tinham sentimentos que o branco também possuía. O desejo de possuir, a inveja, o ódio, o amor, a alegria, tudo isso é humano, né?! Mas existiam índios em estado selvagem, era a regra aqui, tanto é que no século XIX ainda vão ser encontrados índios em estado bravio, como por exemplo, os Xokós, tanto é que vai ser promovido um massacre contra eles na Serra da Cachorra Morta, divisa Ceará e Paraíba, em 1867. Esses autos processuais estão aqui conosco, no Instituto Cultural do Cariri, os manuscritos. Então, era comum, até o século XIX, esses índios em estado bravio. Existia aqui um indivíduo chamado Simplício Pereira da Silva que vivia no Sertão de Pajeú, em Pernambuco, que era conhecido como caçador de índio, isso no século XIX, viu?! E a melhor época que
ele espera para caçar os índios era no período de estiagem, de seca.
A Casa da Torre escravizou muitos índios?
Ela escravizou muito índio. Agora assim, ela escravizava, mas também existia, por outro lado, o intercurso sexual porque há gente da Casa da Torre, dos d’Ávila que, salvo engano, o terceiro Francisco Dias d’Ávila ele vai ter uma filha bastarda ou ilegítima, como chamavam na época, com uma índia aqui no Pernambuco e vai doar uma faixa de terra enorme para ela que, na época, chamava-se Riacho das Contendas e hoje tem o nome de Riacho da Brígida. Então, era muito comum que esses indivíduos bandeirantes, mesmo que da elite eles mantivessem relações sexuais com essas aborígenes, autóctones, as mulheres indígenas.
A capitania do Ceará Grande é o que hoje corresponde ao Cariri ou todo o estado do Ceará?
A capitania do Ceará Grande é o que hoje corresponde ao Ceará, porque quando dividem o Brasil em capitanias hereditárias existia uma linha de testada que era feita no litoral de 50 léguas, cada capitania tinha de ter de regra 50 léguas no litoral e elas tinham que caminhar acompanhado essa linha, esses paralelos, pelo interior. Você já deve ter visto aquele mapa dividindo as capitanias hereditárias, né?! Só que elas vão tomar outra forma geográfica, outro território a partir das invasões dos bandeirantes, porque o território vai começar a ser dividido, como era a regra desde a civilização romana a partir das águas, do divisor de águas. Ou seja, às vezes, em cima de uma serra dessa daqui a água que

Inventário de 1753 do terceiro Garcia d’Ávila, em que ele inclui as terras de Jardim-CE

escorre para esse lado é cearense, a água que escorre para o lado pernambucano é de Pernambuco. Na história oficial contada nas escolas, pelo menos nas quais estudei aqui em Crato, conta-se que “a descoberta” do Cariri se deu principalmentepela necessidade de alimentar e hidratar as criações de gado... Isso é real?
Sim, sim, é real. Aqui é um oásis, né?! Até hoje temos centenas de fontes de água doce ao redor da Chapada do Araripe... A Casa da Torre já tinha alguma ligação?
Ah, sim, com certeza. A Casa da Torre não tinha como criar gado no litoral, na Zona da Mata porque além da mata ser muito densa, a floresta, Mata Atlântica, né!? A pastagem ficava ruim de criar, e outra, com a plantação da cana-de-açúcar foi necessário afastar o gado porque senão o gado ia comer toda a plantação. Aí então, eles começam a investir pelo interior e a parte do semiárido era perfeita para criar gado, afinal, existia a pastagem natural, monocotiledôneas como, por exemplo: capim mimoso, panasco, as milhãs, o vermelhão. E aqui é um bebedouro natural, né?! Ocorre que aqui no sopé da Chapada vai ocorrer algo bem peculiar porque além da criação do gado vai haver também o estabelecimento de engenhos e, lógico, se há plantação de cana tinha que afastar um pouco o gado, tanto é que no jornal “O Araripe” a gente vai encontrar muito conflito, no século XIX, pelo fato do gado estar entrando nessas roças de cana, para comer a cana, né! E isso causava prejuízo aos engenhos. A mola mestra da economia ao sopé da Chapada, pelo menos na parte cearense, era o engenho, isso desde o século XVII, mas esses donos de engenho também eram criadores de gado nos sertões vizinhos, em terras vizinhas, porque o gado movia as moedas, o gado alimentava, o gado vestia, o couro do gado era essencial para ter a sela, para poder cavalgar. O único contra-argumento para aqueles que não acreditam na presença da Casa da Torre no Cariri é o fato de não considerarem a oralidade?
ouvidoria do Ceará. A ouvidoria era como se fosse criar um órgão jurisdicional. E foi nomeado e empossado o primeiro ouvidor do Ceará, isso em 1723. Esse ouvidor era um cara que havia estudado na faculdade de Coimbra, em Portugal, ouvidor geral era um juiz, e veio aqui tratar das leis, dos processos, de inquéritos, inclusive ele era responsável por arrecadar os tributos. Quando ele chega aqui, o Ceará, a capitania do Ceará Grande era dividida em três ribeiras.
Os tributos são os impostos?!
Quando o indivíduo resistia, era muito comum que a Casa da Torre, os encarregados deles, cometessem crimes bárbaros. Inclusive, alguns procuradores que tinham feito isso para a Casa da Torre ficaram à beira da loucura
Exato. Eles consideram que a rainha das provas seria o manuscrito, o documento escrito, ou então uma testemunha ocular da época, o que seria impossível (risos). E por isso eles negam, subestimam a oralidade, que hoje está sendo confirmada, em parte.
Além das até então apresentadas, existem outras evidências da presença da Casa da Torre no Cariri? Quais?
Existem. Aqui houve um conflito chamado Sublevação do Jaguaribe. E o que foi isso? Quando se cria a
Exato. Essa era uma divisão administrativa, mais uma herança dos bandeirantes, o nome “ribeira” porque eles andavam na beira dos rios. As três ribeiras que existiam no território do Ceará eram a do Acaraú (Região Norte), a Ribeira do Ceará (englobava Fortaleza e Aquiraz, a Vila do Forte) e a Ribeira do Jaguaribe (que açambarcava os Inhamuns, o Cariri, os Cariris novos, até então). Então, ele sai por essas três ribeiras fazendo devassas, que equivale a inquéritos e processos. Muitas pessoas da elite estavam sendo investigadas, famílias importantíssimas, por furto de gados e homicídios. Então, essas famílias ficam insatisfeitas, vão atrás desse ouvidor para querer matá-lo, rasgar os processos e tal. E dentro desse contexto, ocorre uma batalha enorme aqui em agosto de 1724 na Fazenda Caiçara, que havia sido da família Mendes Lobato, um dos primeiros bandeirantes que veio logo após a Casa da Torre aqui em Missão Velha, que se chamava Cachoeira, então essa batalha se deu lá. Muita gente morreu, virou uma guerrilha. Esse ouvidor é preso em Pernambuco e retirado para Portugal. Só que vem outro ouvidor em seguida, o Loureiro de Medeiros. Esse Loureiro de Medeiros começa a exercer suas funções de ouvidor geral, só que antes de ele acabar um triênio, para o qual ele era designado, nomearam um novo ouvidor, parece que também por pressão das famílias daqui, das elites. Então vem o terceiro ouvidor, mas o Loureiro se recusa a entregar o cargo e começa uma refrega [combate] entre eles, inclusive o Loureiro (o segundo ouvidor) quando é preso lá no Acaraú, estava com faca na cintura, pistolas (que o povo costuma chamar de garrincha hoje, com carga feita pelo cano, né?!), e com um bacamarte com uma bandoleira, ou seja, um juiz formado também em Coimbra parecendo um cangaceiro, né?! É até a consolidação do cangaço aqui na região, no Ceará, na verdade. Onde é que eu quero chegar? Vem outro ouvidor, que era o Antonio Marques Cardoso, também português, formado em Coimbra, para apurar os fatos aqui dessa sublevação. Só que antes dele chegar ao Cariri,
começa um burburinho dito por um advogado, de que ele vinha para dar posse a Casa da Torre, isso por volta de 1731 mais ou menos, ou seja, era um sinal de que havia uma litigância da Casa da Torre e um interesse da Casa da Torre em possuir, em tomar, em ter o domínio dessas terras. Outra evidência a gente tem envolvendo a família Arnaud, que descendia do Caramuru, era primo dos d’Ávila, nunca teve sesmarias aqui no Cariri, no entanto, morreu em Missão Velha sendo possuidor de terras. Como ele conseguiu essas terras? Oralidade diz que a irmã dele tinha sido presenteada pela Casa da Torre, pelos d’Ávila, com algumas terras e que o irmão veio tomar de conta aos oito anos de idade, tinha vindo na primeira bandeira. Inclusive, ele teve uma desinteligência com um índio, e o índio deu uma flechada no tórax dele. Ele disparou uma arma, matou o índio e foi preso por amotinamento, só que os companheiros de bandeira pediram para que ele fosse perdoado, anistiado. E teve ainda a invasão de 400 homens aqui no Cariri para despovoar a terra, em 1706. Em 1704 a Leonor Pereira, a dona da Casa da Torre já havia mandado homens para destruir casas, em 1706 vem 400 homens para destruir casas novamente, matar gente, e tinha a questão do São Francisco. O Rio São Francisco era domínio da Casa da Torre, eles eram dono de quase todas as margens esquerdas do São Francisco. Qual eram os modos operantes, a maneira de agir da Casa da Torre? Eles simplesmente invadiam as terras e tomavam posse?
Eles eram muito ricos, por mais que outra pessoa tivesse antecedido eles na petição sesmarial, na ocupação da terra, eles chegavam e diziam o seguinte, através dos procuradores, claro, dos capatazes, dos encarregados: “Olha, fulano, você chegou aqui primeiro, mas isso não nos interessa. A terra é nossa. Ou você arrenda a terra, ou você compra, ou então você vai embora”. Quando o indivíduo resistia era muito comum que a Casa da Torre - os encarregados deles, cometessem crimes bárbaros. Inclusive, alguns procuradores que tinham feito isso para a Casa da Torre ficaram à beira da loucura. Há o relato do João da Maia da Gama que foi um cara que foi governador do Maranhão e da Paraíba e que em 1728, escreveu um diário e ele relata isso, que teve um dos procuradores da Casa da Torre que quase chegava à loucura, indo para igreja, pedindo perdão pela barbaridade que havia cometido contra sesmeiros que a Casa da Torre havia expulsado, matado. Então, eles se punham pela força de armas, pelo dinheiro, eles eram muito próximos da burocracia estatal, ou seja, eles nomeavam capitães-mores como se fosse uma espécie de prefeito, comandante militar e delegado de certa localidade, eles conseguiam carta potente para esse cara, com amizades no litoral e também na Europa, muito dinheiro, né?! Então, o aparato estatal ficava também nas mãos deles (da Casa da Torre), de certa forma havia a corrupção, ao sistema da época, qual ocorre hoje,


tanto é que hoje várias elites - não irei arriscar dizer o nome dos atuais políticos (risos) - descendem dessas pessoas, no Brasil inteiro, só que no nordeste principal mente. Era um grupo poderosíssimo. Particularmente, você tem uma visão não posi tivista?! Acredita de fato na presença da Casa da Torre no processo de colonização do Cariri cearense?
na revista Itaytera, eu penso que coloca uma pedra em cima dom assunto porque além da documentação que eu lhe falei, tem mais documentos como, por exemplo, o inventário de 1753 do terceiro Garcia d’Ávila, em que ele inclui entre as terras dele um lugar chamado de Jardim, que seria o Jardim aqui do Cariri, e outras localidades mais daqui, da Paraíba e do Ceará já che gando ao Cariri. Então, é uma documentação que eu penso que ela venha esclarecer ou tentar esclarecer esse assunto, pelo menos no meu ponto de vista e pelo que eu já pesquisei, já procurei bibliografias, manuscritos, até onde pude chegar, né?! Mas não posso, nem vou bancar o arrogante, e dizer que eu consegui colocar fim ao problema, mas tento, estou tentando. Apro ximando-me, trazendo elementos novos para poder servir de interpretação.
Primavera de uma juventude de 1978

As lembranças e a beleza do reencontro de estudantes, egressos do antigo Colégio Agrícola do Crato, 40 depois da conclusão do curso técnico. Nesta matéria, a “Memórias Kariri” registra o reencontro e a euforia dos capagatos, apelido dos técnicos agrícolas, da turma de 1978 do Colégio Agrícola do Crato, hoje o Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE). Entre 50 e 60 anos, eles celebraram uma amizade de quatro décadas e relembram velhas e boas histórias.

Pela primeira vez eu estava na Chapada do Araripe e não ouvia o cântico dos pássaros. Parecia-me que até mesmo a vida da floresta havia silenciado para contemplar a felicidade daqueles que se reencontravam 40 anos depois da última troca de olhares. De longe, notava-se a euforia dos capagatos, apelido dos técnicos agrícolas, da turma de 1978 do Colégio Agrícola do Crato, hoje o Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) na cidade.
Passava das 8h da manhã do dia 21 de julho de 2018. O sol brilhava na Floresta Nacional do Araripe. Ali reunidos em uma das alas do IF, aqueles adultos no auge dos seus 50, 60 e poucos anos mais pareciam crianças eufóricas ensaiando suas primeiras brincadeiras de infância. Nenhum capagato chamava o outro pelo nome, mas pelo apelido que não só fizeram questão de estampar nos crachá ao peito, como também nas linhas desta narrativa.
Aos poucos um velho, sempre novo, colega chegava ao local e logo se juntava ao grupo para alimentar as lembranças que viam aos montes e aos sorrisos retratadas nos rostos dos egressos. É verdade que a mocidade não mais se fazia presente em suas peles, mas o espírito jovial pulsava como nunca nos seus semblantes. Era a felicidade do reencontro.
Aquela alegria começará a crescer desde quando surgiu a possibilidade de reunir todos os integrantes da quarta turma a ingressar no Colégio Agrícola. A iniciativa do Instituto de promover o Encontro dos Egressos já vinha acontecendo desde 2010, mas esse seria diferente. Além de terem recebido o aval da direção do IF para montarem a programação de forma autônoma, a turma queria reunir todos os ex-alunos, daquele período: à época eram 83 estudantes, dos quais 81 eram homens e duas eram mulheres.
grupos, antigas panelinhas, para recordar. E eu, assistindo a aquilo tudo e de algum modo desejando fazer o mesmo nos próximos 40 anos, logo me aproximei das memórias que não eram minhas, mas que me deixaram nostálgico como se fossem.
“Do primeiro dia de aula lembramos bem do professor José do Vale, de português. No início da aula ele mandou todo mundo levantar e cada um dizer seu nome e sua cidade. Após todos terminarem, ele levantou e pediu que, novamente de um por um perguntassem a ele de onde eles eram e de qual cidade vieram. Ele já havia aprendido o nome e o local de origem de todos. Era um professor fora de série, um pai pra gente”, recorda o capagato Duas Semanas, José Nóbrega.
Os retratos temporais daquele momento em grupo resgatavam os perfis dos mestres e de outros educadores do Colégio Agrícola de personalidades marcantes, que impactaram a vida daquela juventude.
“Tem uma pessoa que nunca vamos esquecer: Tia Astrês, era a professora de Programa de Saúde”, rememora Zé Mocó, Adroaldo Olinda, em meio à concordância unanime do grupo. “Ela era a nossa mãe, aquela que nos dava conselhos, que ensinava a gente sobre o mundo. Naquela época sexo era tabu, mas ela conversava com a gente sobre tudo”.
Nós ficávamos numa expectativa muito grande pra ir no quadro saber onde íamos ficar. A gente podia ficar na pocilga, na apicultura, na horta, na avicultura e na cozinha, que era a preferida. Todo mundo queria ir para a cozinha, porque comia mais
O já conhecido advento das redes sociais ajudou a dar início ao audacioso projeto, com a criação de um grupo no WhatsApp, tão logo Cego Aderaldo, Evilásio Martins, soubera do Evento. Ele começou a ligar e a enviar mensagens para alguns poucos amigos, os quais ainda mantinha relação, mesmo que fosse tênue. De um em um, como diz o ditado, foram surgindo integrantes da turma e o grupo chegou a ter mais de 60 membros.
Morada da lembrança
Chegado o grande dia, os capagatos fizeram dele a morada das melhores lembranças, que os trouxeram ali para celebrar uma amizade de quatro décadas. Sentados ou em pé, eles formavam pequenos
De supetão Bitu, Cosme da Silva, atingido pelo soco da memória, evoca outro amado professor. “Quem se lembra de Tendeu [Alberto Prof. de Educação Física]?”, indaga lembrando que embora esse mestre tivesse postura rígida era querido no coração de todos. “Às 5h ele batia numa cachorra velha, [cano metálico] que tinha aqui, para acordar a gente”, relembra. Bitu ainda resgata um dizer recorrente dos capagatos para Tendeu. “Nós dizíamos: ‘Tendeu, Tendeu você não tem moral’. Ele respondia: ‘Vocês é que não sabem o que é moral meninos”. A rotina dos mocózeiros, assim também chamados por alguns furtarem e esconder alimentos para serem comidos depois, começava com as aulas do prof. Tendeu. Quando retornavam da Educação Física, tomavam café às 7h e em seguida começavam a assistir aula até às 11h30, quando havia a pausa para o almoço. À tarde, as turmas que haviam tido aula pela manhã realizavam as atividades práticas do Programa Agrícola Orientado (PAO), enquanto os que estavam na prática pela manhã assistiam à aula.
Toda semana saía a relação do PAO com os nomes dos alunos e os locais que eles ficariam durante a semana. “Nós ficávamos numa expectativa muito grande pra ir no quadro saber onde íamos ficar. A
gente podia ficar na pocilga, na apicultura, na horta, na avicultura e na cozinha, que era a preferida. Todo mundo queria ir para a cozinha, porque comia mais”, relembra Bitu às gargalhadas.
À noite, a revelia do que se pode pensar após um dia repleto de afazeres, os mocózeiros continuavam a rígida e metódica rotina de estudos: hora do Estudo Obrigatório. Das 19h às 21h, eles se dedicavam a realização das “tarefas de casa” ou de leituras e pesquisas relacionadas aos conteúdos apresentados em sala de aula. Fugir do estudo obrigatório? Jamais. “Havia inspetores responsáveis por fiscalizar o comportamento e dedicação dos estudantes nesse horário, como seu Fernando da chibata, rígido e sério, seu Zé Gomes, seu Aluízio e seu Gustavo”, conta Bitu.
As brincadeiras
Depois da primeira, mais extensa e inestimável reunião de fomento às lembranças, partimos para um passeio de ônibus pelo terreno do Colégio Agrícola. O passeio durou pouco mais 15 minutos, mas a cada instante um capagato apontava na direção de um prédio ou de um terreno limpo de matos, fazendo-me lembrar de uma afirmação dita antes por Bitu. “Nós que desbravamos isso aqui [campus IFCE Crato] na enxada, na roçadeira. Nós que fizemos essa escola”. Retornamos do passeio, fazimos algumas sessões de fotos, o almoço foi servido. Após a refeição, convidei, novamente alguns mocózeiros para falarmos daquela época e sobre o encontro. Agora, a vez, ou a memória, pertence às brincadeiras.
Mesmo com uma rotina de estudo teórico e prático intenso, e com afazeres domésticos diversos, os capagatos arrumavam um bom tempo para as brincadeiras e “arrumações”, no bom cearensês, para sacanear os amigos e, às vezes, até mesmo os professores. Cego Aderaldo que o diga. Ele recorda que certa vez “ganhou o dia”, inventando para o professor Tendeu que estava com uma curuba, sarna. O professor amedrontado com a possibilidade de também contrair a coceira, logo determinou que o danado ficasse em repouso.
Mas a verdade é que nem sempre os capagatos saiam recompensados. De tanto se querer lucrar, por vezes o ganho era controverso. O próprio Cego Aderaldo no primeiro dia de trabalho na cozinha, local onde todos queriam estar, cometeu “o vacilo de colocar um caneco sujo dentro do tacho de leite, que tinha acabado de chegar. Na hora, cortou o leite! ”, rememora Paulo Romero que apelidou, praticamente a todos, mas que ninguém conseguiu carimbar um apelido seguro nele. O ganho desça vez foi dado, pessoalmente pelo diretor do Colégio à época, Jorge Ney, que determinou a Cego Aderaldo, a incumbência de capinar o terreno atrás da cantina durante o resto da semana.
Duas Semanas recorda de quando a turma armou para salvar a nota da primeira prova de química. A maioria da sala havia tirado notas que não passavam do três. Preocupada, a querida Tia Astrês, convenceu-se da sugestão dos mocózeiros de fazer uma segunda atividade, dessa vez em grupo, para re-
Amigos da Colégio Agrícola do Crato se confraternizam com enstusiasmo no reencontro após 40 anos

cuperar a nota. “Dividimos a turma em duas equipes e combinamos as perguntas de um lado e do outro. Um fazia a pergunta do lado de cá e o outro já sabia a resposta do lado de lá”, relembra.
A dinâmica da amizade
Por mais que se construam formulações diferentes a respeito da dinâmica da amizade, todas irão convergir em um ponto comum: o reencontro. É o encontro que oportuniza o nascimento das amizades, mas só o reencontro, seja ele próximo ou distante em tempo do primeiro encontro, que demarca o terreno em que serão fincadas as sólidas raízes responsáveis por manter firme o elo entre amigos.
Todos juntos na quadra poliesportiva do IF, os mocózeiros se reuniram em um círculo de mãos dadas para realizarem uma dinâmica da amizade. O momento era para celebrar, celebrar a vida de todos aqueles que ali estavam presentes, “celebrar a memória daqueles que subiram ao andar superior”, nas palavras de Paulo Romero.
Adentrei o círculo e acompanhei as palavras de todos que, agora, formalmente faziam as apresentações, nome, idade, profissão, família, morada. Observei o comportamento do grupo, enquanto o extinto me dizia para perguntar, procurar um depoimento, que significasse em palavras, o que se passava nas cabeças daqueles técnicos agrícolas; o que a energia, transferida por mãos que tocavam umas às outras 40 anos depois, fazia sentir.
Foi, então, que desisti, após ouvir uma frase. “Esse foi o dia mais feliz da minha vida, depois que terminei o curso”. Não soube quem a disse, mas soube que aquele dia representava a retomada ou o início da primavera de uma juventude egressa de 1978.
“Vamos nos aproximar”
“O que eu mais queria na vida era ser um técnico agrícola ou agrônomo” declara com um tom de voz meio deprimente Antônio Alves, conhecido pelos outros mocózeiros como Surrão. Ao contrário dos colegas, Surrão só concluiu metade do curso. Uma difícil decisão que ele tomou para ajudar seus pais e irmãos. “Eu estudava de coração apertado, por saber que tinha café, almoço, e janta e meus irmão não tinham”, rememora, em lágrimas, o policial civil aposentado, natural de Cedro-PE.
“Os melhores anos da vida”


Até hoje eu digo, “gente que saudade do Colégio Agrícola”, afirma Maria Ademaísa, uma das 4 mulheres que estudavam no Colégio Agrícola naquela época e única da turma de 1978 presente no encontro dos egressos. Quando perguntada como era ser mulher em meio a tantos homens, se sofreu algum assédio ela responde enfática. “Eu nunca me senti inferior ou mal tratada. Nós éramos como uma família, e a direção do colégio era muito rígida, não permitiria isso [o assédio]”, replica com veemência Maria, que atuou 3 anos na profissão.
 Maria Ademaísa
Maria Ademaísa
Benigna Catolicismo, fé, e resistência


Benigna
Cardoso da Silva, popularmente chamada de “Menina Benigna” pelos fiéis da igreja católica, nasceu em Santana do Cariri, Ceará, mais precisamente no Sítio Oiti, no dia 15 de outubro de 1928. Segundo os familiares, amigos de infância e dos escritos dos historiadores sobre vida e morte da menina, Benigna era extremamente religiosa e temente a Deus, além de generosa, carismática, simpática e humilde com todos.
Aos 13 anos de idade, após ser perseguida e assediada por um rapaz chamado Raul, foi vítima de feminicídio, cruelmente assassinada a golpes de faca, enquanto buscava água na cacimba próximo a sua casa, o que costumava fazer todos os dias. Desde a sua morte, em 1941, Benigna é chamada de “Mártir da Pureza” e “Heroína da Castidade” pela Igreja Católica.

Todos os anos, acontece na cidade onde Benigna nasceu, a romaria que celebra o exemplo de fidelidade às crenças religiosas católicas e da resistência contra o machismo, um assunto e termo que na época não se falava de jeito nenhum e que, até hoje, não se fala com a devida importância. A Romaria de Benigna há mais de 15 anos recebe pessoas e fiéis da igreja católica de todos as partes da região do Cariri cearense, seja fazendo promessas, seja agradecendo pelos milagres alcançados. O processo de beatificação da já considerada santa popular está cada vez mais em vigor no Vaticano, em


Roma. Benigna pode ser considerada a primeira beata do estado do Ceará.
A cada ano é visível na romaria, um número crescente de pessoas representando fielmente a roupa que Benigna usava no dia do seu assassinato, um vestido vermelho com bolinhas brancas. No calor efervescente de outubro, em meio a um cenário predominantemente desertificado, milhares de romeiros vão em busca de milagres, afirmar admiração e devoção pela menina Benigna. Caracterizados de fé, os devotos se apresentam em penitência todos os anos durante a Romaria, em busca da água benta encontrada na cacimba e das pedrinhas consideradas milagrosas por muitos, jogadas sobre o fogo santo, presente no local em que aconteceu o martírio.
Fotografo há dois anos este momento que vem ganhando proporções enormes. Vivenciando a romaria é possível sentir na pele e nos olhos a emoção que as romeiras e romeiros sentem. Além disso, é impossível não associar a imagem de Benigna - e aqui peço permissão - às muitas mulheres que hoje são brutalmente assassinadas, por resistirem à ideia conservadora de que seus corpos e suas vidas pertencem ao homem ou a quem quer que seja. Benigna, além da fidelidade religiosa, crença em Deus e sua história exemplar de vida humana, foi um exemplo de resistência.
Celebração em homenagem a Benigna é repleto de cantos, orações e lembranças no bairro Inhumas, em Santana do Cariri Criança levada pela mãe durante a última romaria para Benigna, em 24 de outubro deste ano As romeiras vestem-se como a menina Benigna, assassinada em outubro de 1941, aos 13 anos de idade, com várias facadasAnualmente, ocorre em Santana, romaria lembrando a pequena Benigna. Para os católicos, uma santa popular

Muitas romeiras andam quilômetros sob o sol do Cariri carregando água em busca de alcançar uma graça


Estátua com a imagem oficial de Benigna localizada na entrada de Santana do Cariri
A cada ano aumenta o número de fiéis em Santana do Cariri que buscam graças e paz na romaria de Benigna

Velas, orações e flores sao ofertada por romeira em busca de graça



